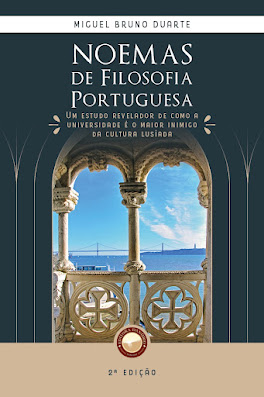Escrito por Pinharanda Gomes
«Enquanto
processo de saber na história, o universal é apreendido, primeiro, no plano
nacional, e o universal não perde o seu carácter universal, apesar do seu modo
nacional. Nacional, a filosofia alemã é universal; e não é por ser universal,
que deixa de ser alemã. O mesmo vale para a filosofia portuguesa, cuja existência
não importa ser discutida como quantidade, mas que importa meditar como
qualidade.
Do que seja esta qualidade, só uma exegese,
com adequada hermenêutica o pode documentar, e talvez esta missão caiba muito
mais à filosofia do que à história da filosofia.
Para aquilatar da qualidade é necessário
distinguir entre duas existências na situação portuguesa: a filosofia em
Portugal, e a “filosofia portuguesa”.
Na primeira existência considera-se a
filosofia que, dita universal, foi pensada por portugueses, em língua
portuguesa ou qualquer outra, dentro de esquemas ideológicos ou não; define
toda a espécie de aculturação ou de cultura filosófica livresca propriamente
dita.
Na segunda existência, proclama-se uma filosofia, tão descomprometida das instituições escolares de há muito vigentes, como da esfera religiosa, disposta a assumir a liberdade de filosofar originalmente, perante os sucessivos desenganos da tradição colegial, sobretudo a partir do reformismo iluminista das instituições universitárias. É uma tradição de carácter espiritual, que estabelece relações entre a filosofia e a teologia, mesmo que esta surja com carácter negativo ou ateológico, e de intenção mais finalista do que substancialista, de onde valorizar a profecia e a poesia, em compita com a ciência e a técnica. Que a filosofia portuguesa, adstrita a um pensamento atlântico, por vezes tenha havido necessidade de se amplificar através de outras contribuições, é facto verificável na nossa história, e talvez que o recurso à imposição de conceitos não prova a carência dos mesmos, mas apenas uma necessidade de confrontação e de sedimentação, ordenada a uma finalidade.»
Pinharanda Gomes («Meditações Lusíadas»).
«A literatura degenera sempre que se submete a um realismo servil, incompatível com o pensamento criacionista. O êxito de obra meramente realista será tão efémero como o fenómeno observado. Nunca foi possível conciliar duradouramente o realismo com uma verdadeira filosofia da arte.»
Álvaro Ribeiro («A Razão Animada»).
«Alves Redol tem actualmente uma obra já extensa. Compõem-na dois volumes de novelas e uma dezena de romances. Mas de que espécie de literatura se trata? Que caminhos novos pretendeu abrir na estagnação do romance nacional? Uma palavra responde a estas perguntas: Alves Redol tem sido, durante anos e ainda hoje, o porta-bandeira de uma escola a que se chamou o neo-realismo. A expressão é infeliz, evidentemente, e poderá induzir em erro. Realismo social, como pretendem alguns, talvez fosse rótulo mais ajustado. Como quer que seja, trata-se de uma orientação que se propôs integrar na estética do romance e na literatura em geral, através de processos extraídos do materialismo dialéctico, alguns problemas sociais e políticos do momento. Isto é, intentou relacionar directamente a literatura com uma época ou um período da sociedade nacional e com uma classe dentro dessa sociedade. Não foi, sem dúvida, uma inovação portuguesa. Redol e outros partidários dessa doutrina literária cingiram-se ao reflexo de certos aspectos do romance norte-americano e brasileiro. Steinbeck, Hemingway, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Erico Veríssimo foram os mestres principais dos neo-relistas portugueses. Mas os nossos romancistas aproveitaram mal as lições recolhidas e recolheram sobretudo as piores lições. De resto, com a envergadura de um Gracialiano ou de um Steinbeck, profundamente cultos e com uma experiência de vida rica, não se ombreava sem embaraço. Preferiu-se, por isso, seguir antes um Jorge Amado, que apontava um caminho fácil. Ora a verdade é que o autor de Suor e dos Capitães da Areia é um romancista de terceiro plano. O seu lirismo verbal mascara de palavras uma realidade convencional; os seus romances são panfletos efémeros erigidos em armas de combate; e a sua aura transitória repousa mais em motivos políticos do que literários. E pode-se dizer que estes foram precisamente os vícios dos neo-realistas portugueses. Repelindo a arte pela arte resvalaram na arte pela política esquecendo-se, afinal, da arte pela vida, tomada esta no seu sentido universal e intemporal. Roubaram ao acto criador a sua gratuitidade e pretenderam transformá-lo num instrumento dócil ao serviço de um credo revolucionário, conforme o sabor das contingências do momento. No fundo, porém, tudo se resumiu num simples caso de ignorância do que é, verdadeiramente, literatura marxista. O próprio Marx repudiava a tendência para julgar obras de arte em termos puramente políticos; Engels negava validade a uma obra de arte que tomasse partido e em que uma tendência política fosse explicitamente formulada e defendida; e Lenine, como nota Edmund Wilson num esclarecido ensaio sobre “Marxismo e Literatura”, escreveu que a literatura proletária não era qualquer coisa que pudesse ser produzida sinteticamente e por ditame oficial de governo ou partido. Porque o certo é que a arte não se deixa manietar: André Gide, Malraux, Louis Aragon, escritores grandes, proclamaram sempre a sua liberdade artística, sem embargo de toda a sua adesão aos ideais marxistas e de todas as solicitações e pressões exteriores. Os neo-realistas portugueses, porém, iludiram-se e, com ingenuidade que não exclui em alguns casos boa fé e idealismo sincero, entregaram-se amarrados. Por isso o neo-realismo, como escola literária, morreu entre nós, se é que qualquer coisa mais do que um equívoco chegou alguma vez a existir. Alguns, para quem a literatura não era passatempo ou simples manifestação de uma política, cedo se libertaram, pelo menos na medida em que a fidelidade à arte primou sobre considerações transitórias e não artísticas: foi o caso de Fernando Namora, de Vergílio Ferreira ou de Carlos de Oliveira. Outros desapareceram sem vestígio. Assim, que ficou até agora do neo-realismo? Dois romances de Soeiro Pereira Gomes (e isto apenas porque Esteiros e Engrenagem transcendem os limites acanhados do apostolado socialista e porque os princípios estéticos não foram destruídos pelos princípios políticos) e a obra de Alves Redol».
Franco Nogueira («Jornal de Crítica Literária»).
«A contribuição marxista para a
deturpação da cultura portuguesa foi feita através de uma organização de
escritores, jornalistas, professores e editores que recebeu a designação,
primeiro, de "novo humanismo" (cujas manifestações foram coligidas
num livro que se deixou esquecer, Por um
Novo Humanismo, da autoria de Rodrigo Soares, pseudónimo de um professor da
Universidade de Coimbra) e, depois, de "neo-realismo".
Augusto da Costa Dias, recentemente
falecido, descreve-nos, num livro editado em 1975 com o título de Literatura e Luta de Classes, a história
deste neo-realismo. Logo em 1930, "à nascença - diz-nos Costa Dias - o
neo-realismo é contemporâneo dos primeiros esforços para a reorganização do
partido comunista e destina-se a ser a sua expressão na batalha cultural e
ideológica" (p. 65). É neste sentido que actua e se desenvolve. Faz da
"sua imprensa uma via de difusão das consignas políticas" (p. 73),
"combateu as ideologias e filosofias burguesas (que se situavam) à margem
do fascismo, sem compromissos mas também sem conflitos com ele" (p. 66);
"difundiu as ideias marxistas na universidade de Coimbra numa data que
podemos calcular entre fins da década de 30 e os dois primeiros anos da
seguinte" (p. 79); "desenvolveu um imenso labor de animação
cultural-política em múltiplos planos: imprensa regional, organização de
bibliotecas, trabalhos em clubes, palestras, cursos, exposições";
"controlava e dirigia colaboração para variadíssimos jornais da
província" e "em comissões, discutia, planeava os temas dos artigos a
enviar, notícias sobre os livros recentes do neo-realismo [...], debatia o tipo
de linguagem mais adequado e acessível [...] recrutava, entre jovens, divulgadores,
escritores que balbuciavam os primeiros passos, para um trabalho de anonimato,
escondido em pseudónimos" (p. 80/81); combateu, entre as "ideologias
e filosofias burguesas", os escritores e artistas "sem qualquer
identidade com a luta de classes" (p. 66), escritores e artistas que Costa
Dias não nomeia mas que são, ou porque são, os que compõem a teoria da nossa
autêntica cultura: os modernistas do Orfeu,
como Pessoa, Sá-Carneiro e Almada, os epígonos da Renascença Portuguesa e os
próprios Leonardo Coimbra e Pascoaes, os poetas e romancistas da Presença, então em pleno vigor
especulativo, como Branquinho da Fonseca, Gaspar Simões e, sobretudo, José Régio, finalmente os pensadores da "filosofia portuguesa" tendo à
frente José Marinho e Álvaro Ribeiro. Sobre os três primeiros grupos, a sanha
da organização obedecia a uma consigna, durante todos esses anos extensiva a
qualquer escritor ou obra independente, que Costa Dias exprime nestes termos
grosseiros: "As suas interrogações (as desses escritores e artistas)
dirigiam-se às cisternas da vida íntima (individual, em todas as suas
fermentações e decomposições onde explodiam e bufavam apenas angústias,
impotências, rebeldias privadas sem qualquer identidade com o pesadelo da luta
de classes" (p. 66). Sobre o último daqueles grupos, a vesânia junta-se à
sanha e Costa Dias orgulha-se de ter sido o bloco marxista do neo-realismo que
impediu os pensadores da "filosofia portuguesa" de exercerem o
magistério, ou apenas a influência, que, a avaliar pelas obras de Álvaro Ribeiro e José Marinho, o leitor verificará como teria sido libertador. Deles
diz Costa Dias: "Aos homens do neo-realismo se deve o não passarão às filosofias fascistas. Nunca excederam as fronteiras
das suas ilhotas. A sua última tentativa - "a filosofia portuguesa"
de Álvaro Ribeiro, António Quadros, Orlando Vitorino e consortes [sic] - não
chegou a escapulir-se da sua lura de traficantes de mercado negro
ideológico" (p. 85).
Pois bem: todo este trabalho de deturpação era realizado, desde 1930, em pleno domínio "fascista", com censuras, polícias, perseguições de que Costa Dias faz mais uma vez, e muitas vezes, o aparatoso rol e que deveriam, naturalmente, impedir que as suas vítimas, os neo-realistas, tivessem qualquer possibilidade de acção. Ora não foi isto o que aconteceu. O trabalho fez-se durante 44 anos, ininterruptamente, espectacularmente, como Costa Dias descreve e nós sabemos que foi. Durante 44 anos o bloco marxista pesou, omnipotente e esmagador, sobre a cultura portuguesa, e Eduardo Lourenço não podia deixar de ter razão e razões para denunciar, como também Costa Dias nos informa, que "os neo-realistas eram terroristas" (p. 84). Não passará de uma suspeita justificada ou será uma conclusão necessária que um acordo, talvez tácito, mas comprovadamente eficaz se estabeleceu entre os governantes ou o establishment fascista e a organização marxista para a deturpação da cultura? Como, de outro modo, será possível explicar tudo o que Costa Dias orgulhosamente descreve e o mais esconde ou cala e nós ainda não esquecemos? Como sem esse acordo, explicar, por exemplo, que as "filosofias fascistas", como C. Dias diz, pudessem, em tempo de fascismo, serem fechadas "na sua lura" pelos marxistas enquanto estes se exprimiam, expandiam e dominavam com a amplitude que também C. Dias nos descreve? Não era a "filosofia portuguesa" e a liberdade de pensamento da literatura e da arte o temeroso inimigo comum a marxistas e salazaristas? Aliás, o próprio Costa Dias confirma, de algum modo, a existência desse acordo quando se indigna com o facto de "prolongando-se o neo-realismo em manifestações ricas" [sic] desde 1930, os governantes fascistas tenham, nos anos 60, "facilitado a liberdade de imprensa [...] para se declarar [como Eduardo Lourenço fez] que os neo-realistas eram terroristas" (p. 84), o que claramente significa que sem liberdade de imprensa que os governantes "fascistas" controlavam não seria possível declarar o que o neo-realismo era.»
Orlando Vitorino («A Grande Deturpação», in «Manual de Teoria Política Aplicada»).
«Entre os maiores poetas vivos, Afonso Duarte é um primeiro nome que ocorre naturalmente. Pertence a uma geração literária já recuada. Por 1912, surge-nos como colaborador de A Águia, orgão oficial da falange da “Renascença Portuguesa”. Encabeçava o grupo Teixeira de Pascoaes e, além de Afonso Duarte, a ele pertenciam Mário Beirão, António Sérgio, Leonardo Coimbra, Afonso Lopes Vieira, ainda outros, entre os quais Fernando Pessoa, de recente data vindo de África e tentando o regresso na actividade literária nacional. Pascoaes dava, de início, a nota doutrinária. Metafísico e espiritualista, proclamava a saudade como religião da raça e filosofia da pátria. Era o saudosismo. E foi o saudosismo que impregnou toda a obra de Afonso Duarte. Esta é, com efeito, uma primeira característica da sua poesia.»
Franco Nogueira («Jornal de Crítica Literária»).
.jpg) |
| Leonardo Coimbra e Teixeira de Pascoaes |
«Não há dúvida, efectivamente, de que os
fenómenos de degradação mental são já mais patentes do que os de
degenerescência genética. Vão desde a incapacidade de pensar para além do
raciocínio aritmético até à infantilização, dia a dia maior, das formas culturais. O que, há apenas 30 ou 40 anos, era assunto da informação reservada
às crianças, embora já degradado a um nível inferior ao dos mitos e contos
tradicionais, é hoje assunto da informação destinada a adultos e, para mais,
esvaziado de qualquer conteúdo ou simples relação mitogénica. Entre as formas
correntes e até científicas da expressão, a utilização de sons, primeiro, e
depois, das imagens visuais mediante a radiofonia, a televisão, o cinema e as
bandas desenhadas, passou a predominar e, por fim, a esmagar, com o seu carácter
sensível, as formas de carácter intelectual, as da palavra falada ou escrita. E
não é só nos ambientes da cultura vulgarizada, mas também nos da cultura
superior e até do conhecimento científico, que a degradação se manifesta. Antes
se dirá que foi daí que ela desceu à vulgaridade. A sua origem reside, decerto,
na abominação da filosofia, portanto do pensamento, e desenvolveu-se segundo um
processo que descrevemos no livro Refutação da Filosofia Triunfante. Abominada
a filosofia e abolido o pensamento ou, pelo menos, o primado do pensamento que
é característico da existência humana, as posições mais elevadas do saber
ficaram sendo as das ciências da natureza. Mas afastadas da filosofia, as
ciências da natureza acabaram por ficar encerradas nos quadros em que
predominam a física atómica e a química molecular. Aí, o conhecimento
científico é apenas o que resulta da investigação, esta, por sua vez, reduzida
aos métodos da observação instrumental. São estes métodos descritos
criticamente por A. N. Whitehead... De qualquer modo, o pensamento e a
imaginação, depois de desterrados do país da ciência, desdenhados e até
caricaturados na “piedosa figura do investigador isolado”, são substituídos
pela passiva ou paciente observação, em comunidades profissionalizadas, por
meio de instrumentos de tal modo complexos e inacessíveis que a ciência, tal
como a economia socialista, passou a depender da planificação feita pelo
Estado.
Perante tão baixa e degradada situação, o
filósofo alemão Max Scheller não se inibiu de dizer que a actividade dos
cientistas é “um prolongamento no homem da actividade do chimpanzé”. Mais
desesperado, Martin Heidegger, outro filósofo alemão (e insistimos em citar
alemães por que foi entre eles que a comunitarização, profissionalização e
instrumentalização da ciência teve origem e primeiro se desenvolveu), deixa, no
seu testamento filosófico, a descrição da degradação mental da humanidade,
concluindo que “só um deus nos pode salvar”.
Uma questão aqui deixamos suspensa: quererá alguém substituir esse deus pelo socialismo?
É, pois, composta hoje a humanidade por multidões onde se amontoam os que sobrevivem só por ter deixado de haver selecção natural, tanto física como intelectual. São, portanto, multidões excedentes.
(...) Dia após dia, num incessante ritmo
acelerado, as multidões excedentes multiplicam-se e acabam por constituir quase
todo o conjunto dos homens vivos. A parte que lhes escapa, composta por aqueles
que não foram atingidos pela degenerescência, cada dia se vai tornando
proporcionalmente menor. Os seus membros, cada vez mais dispersos no mundo, com
a acção que ainda possam desenvolver cada vez mais cercada e submergida,
vêem-se perdidos numa existência isolada, impotentes perante a simples presença
das multidões excedentes que os rodeiam.
Deste modo acabou a humanidade por se
encontrar à beira de uma catástrofe. Os malthusianos, que primeiro previram
esta situação, foram silenciados durante largo período e reaparecem agora que a
sua previsão se tornou real. Esses conjecturam que a natureza defenderá a sobrevivência
da espécie recorrendo aos meios apocalípticos de que dispõe para libertar ou
purificar a humanidade das multidões excedentes: a guerra, a peste, a fome e a
morte, sobretudo a fome que Malthus descreveu num texto célebre. Entre os
cientistas modernos, os que pertencem ao sector da física atómica receiam que a
catástrofe venha a ter a forma da destruição material do mundo, que eles
próprios tornaram imediatamente possível, e apelam, como Max Born, para uma
organização mundial com poderes para a impedir; os que pertencem ao sector da
química molecular, como Monod, parece preverem que a catástrofe, inevitável dentro
de dez ou quinze gerações, tenha a forma de um cataclismo biológico.
Finalmente, entre os raros que conseguem fazer subsistir o predomínio do
pensamento, Martin Heidegger conclui que, perante a catástrofe inevitável, “só
um deus nos pode salvar”, esperança em que o homem não pode deixar de confiar
mas que não altera a situação real, brutal e catastrófica que aí está.
Entre as multidões excedentes é que não se encontra nem a consciência nem sequer a suspeita da degradação e da degenerescência sem as quais elas não existiriam. Estão entregues aos modos de vida e respectivos problemas que lhes são acessíveis, aqueles além dos quais não podem atingir: os salários, os tempos para trabalhar, a alimentação e os tempos “livres” para restaurar a força de trabalho, a habitação para dormir, a educação sexual, o ensino gratuito para os filhos, a segurança para a doença e para a velhice. Recusam-se a outros horizontes, recusam-se até a manifestar que ainda sabem que existe a morte. Ora tudo isto, a que as multidões excedentes limitam a existência humana, é o que constitui o conteúdo do socialismo, o que, oscilando sempre entre o miserabilismo actual e o paraíso prometido, entre a misantropia mais cruel e o angelismo mais (...), chega a assegurar que os homens virão a ser imortais.
Há, pois, sérias razões para nos
perguntarmos se o socialismo não é uma criação emergida das multidões
excedentes. Isso explicaria a mesma existência do socialismo, que é racional e
onticamente um absurdo, a súbita credibilidade que ele encontra no momento em
que as multidões excedentes começam a preponderar, a facilidade cada vez maior
da sua expansão e o cordial acolhimento que lhe dão as populações originalmente
mais diversas.
Acontece, porém, que esta hipótese não
explica tudo. Não explica um fenómeno decisivo, que precede o avanço do
socialismo e, depois, lhe fica inerente. Referimo-nos ao controlo da informação,
isto é, do ensino, dos media e da
cultura, que é, para uma existência não degradada do homem, um absurdo equivalente
ao do socialismo. Ao proceder e preparar a instauração do socialismo, o
controlo da informação revela uma finalidade e obedece, portanto, a um comando.
E se, sobre isso, tivermos em conta que a degenerescência da humanidade é um
facto inegável, logo veremos que o controlo da informação se poderá destinar a
evitar que as multidões excedentes recebam conhecimentos que, dividindo-as em
singularidades, ou exigindo-lhes singularidades, que elas já não têm capacidade
genética e mental para suportar ou assumir, acabaria de as mergulhar na
viscosidade caótica onde a catástrofe imediatamente poderia explodir.
Estará, então, a ser executado um projecto de controlo das multidões excedentes? E uma vez que o socialismo é o mais eficaz instrumento para enquadrar e paralisar a existência naturalmente movente das sociedades, a sua difusão estará sendo também comandada e integrada no mesmo projecto de controlo das multidões excedentes? Destinar-se-á, esse projecto, a que finalidades? A suspender a degenerescência e a degradação, fixando-as no estádio em que se encontram? Esperando o quê? O tal deus que nos pode salvar?».
Orlando Vitorino («Manual de Teoria Política Aplicada»).
Franco Nogueira e a Literatura Portuguesa
Franco
Nogueira começou por firmar nome como crítico literário ainda jovem, pois que
os seus primeiros escritos de natureza exegética, relativos à literatura
portuguesa, datam de 1943, quando o futuro diplomata fizera a idade de vinte e
cinco anos. Prosseguiu essa actividade com regular frequência nos jornais
durante um bom decénio. Os últimos ensaios críticos datam de 1953. Após esta
data, e tendo escolhido o caminho da Diplomacia, o contributo de Franco
Nogueira para a análise e o conhecimento da literatura portuguesa cessou, e o
seu nome terá caído porventura no olvido. O seu reaparecimento na vida pública ocorre
em Maio de 1961, em posto distante daquele em que se iniciara: Ministro dos
Negócios Estrangeiros, que o seria durante uns oito anos, até 1969, na mais conturbada época da nossa vida internacional moderna, em que se procurou
realizar um sonho de comunidade nacional pluricontinental. Sonho esse que não
cumprimos por duas causas principais: pela indigência das novas gerações
portuguesas, incapazes de imitação do Infante; e pelos interesses conjunturais
das grandes potências, que não desejavam concorrentes. O surgimento de Franco
Nogueira no quadro da política internacional do Estado Novo surpreendeu muitos,
sobretudo os que viam nele um liberal, mas que ignoravam haver nele um
pragmatismo de Estado: o que encarava o Ultramar segundo os ditames da
consciência que reagiu ao Ultimatum
de 1891 e achava o Ultramar imprescindível à solidez do Estado nacional.
Ficaram célebres as suas periódicas conferências de imprensa, em que informava
o país, na medida do possível e do prudente, do estado da Nação em termos de
negócios estrangeiros. Num regime que evitava falar para fora, tudo se passando
nas chancelarias, as conferências de imprensa de Franco Nogueira foram uma
sensível inovação na atitude do Governo face aos governados. Ocorre citar, por
ter sido outro inovador da política do Estado, o nome do Ministro do Ultramar
Adriano Moreira. Um par de ministros que nunca mais o país voltou a ter: jovens,
humanistas, dialogantes, crentes na dimensão histórica da Pátria Portuguesa. E
eficazes.
O país perdera um crítico, mas ganhara
um estadista. O signatário destas linhas, pouca ou nada afeito aos negócios
políticos, admirava o discurso de Franco Nogueira. Não lhe analisava a
contextura; aceitava o que nele era factor de princípio: a indivisibilidade da
Nação. A única e última vez em que nos foi dado falar-lhe em pessoa ocorreu em
26 de Junho de 1988, na sala de embarque do aeroporto de Genève (Suíça). Fomos
apresentados por António Quadros, que, perguntado sobre de onde vínhamos,
respondeu a Franco Nogueira que estivéramos em Friburgo numa semana dedicada à Filosofia Portuguesa. O seu comentário, que não nos surpreendeu, veio na
interrogativa: « - Também já lá temos isso?». Com efeito, já por vocação
pragmática, já por formação político-cultural, Franco Nogueira partilhava do
consenso geral, tão peculiar às personalidades da vida institucional, de que a
cultura portuguesa se afirmava mais pelo modo
de estar do que pelo modo de pensar.
Provinha, aliás, da esfera literária, onde o pensamento filosófico pouco ou nada
ecoava. O exercício de relacionamento da Filosofia para a Literatura, já
iniciado com Fernando Pessoa, achou excelência de modelo na obra de Álvaro
Ribeiro, continuada e expandida por António Quadros. Antes de meados do século
XX, a nossa literatura beneficiava da existência de uma crítica literária (a presencista, corporizada em João Gaspar
Simões, um teimoso servidor, um asseado leitor, e a pós-presencista, conotada principalmente ao Neo-realismo,
corporizada em Óscar Lopes e António José Saraiva), mas não beneficiava de
leitura filosófica.
Franco Nogueira reuniu os seus
exercícios críticos no volume intitulado Jornal
de Crítica Literária (Livraria Portugália, Lxª, 1954, 317 páginas), compilando
os princípios escritos da época 1943-1953. Abordou romance, novelística e
poesia, e deu maior consistência ao Presencismo e ao Neo-Realismo, de onde, por
exemplo, considerara como «seis poetas maiores» Afonso Duarte, José Gomes
Ferreira, José Régio, Adolfo Casais Monteiro, Miguel Torga e António Navarro; e
deu relevo a novelistas como Castro Soromenho, Fernando Namora e Carlos
Oliveira, que seleccionava como exemplos distintos das correntes da novelística
portuguesa do tempo. Porém, a sua principal peça de 1944 é o longo e exigente
ensaio dedicado a Francisco Costa e ao problema do romance católico. Franco
Nogueira recusava a arte ao serviço de uma apologética. Contestava por isso o
que ele entendia ser o posicionamento de Francisco Costa. Como contestou, com
maior dureza, a alienação a que Alves Redol votou o romance, chegando a sugerir
que os romances deste (seu comprovinciano do Ribatejo) lhe nasciam, não da
imaginação, mas das ordens recebidas na militância socialista. Franco Nogueira,
que reconheceu e preconizou a futurabilidade de autores como Vergílio Ferreira,
assinava a afirmação de ser Francisco Costa o mais completo romancista
português depois de Eça de Queirós, e sem prejuízo dos louvores devidos a
Aquilino Ribeiro como o nosso mais vigoroso estilista. Os encontros e os
desencontros com Franco Nogueira registou-os Francisco Costa nas páginas da sua
Autobiografia Literária (Obras Completas, vol. III).
O método nogueirino assenta em três
tópicos analíticos: a problemática, o estilo e a técnica. Conclui sempre por
uma apreciação judicativa, reveladora da sua formação jurídica, no que muito se
assemelhou ao método mediático de João Gaspar Simões, cuja presença na imprensa
literária, tão constante, necessariamente influenciava a jovem crítica.
Franco Nogueira revisitou a literatura
portuguesa, num acto de regresso ao princípio, quando a «Livraria Civilização»
o incumbiu de escrever o volume suplementar à História de Portugal de Damião Peres. O extenso capítulo sobre a
Vida Cultural é obra de meritória informação, ainda que de diferente valoração,
ao conceder a primacialidade à literatura e às artes plásticas. À literatura de
ideias dedica apenas, com efeito, parcas linhas; em todo o caso, oferece ao
leitor um panorama de «quem foi quem» e que obra teve no ciclo que se desenrola
entre 1933 e 1974 (cf. História de
Portugal 1933-1974, II, Suplemento, Porto, 1981).
O seu nome, inevitável na história política enquanto das principais personagens do prefácio à sístole nacional, é também referencial no quadro das fontes da literatura portuguesa do século XX.
(In Embaixador Franco Nogueira [1918-1993] – Textos evocativos, Livraria Civilização Editora, 1.ª edição/Outubro 1999, pp. 241-243).



%20(1).jpg)
.jpg)




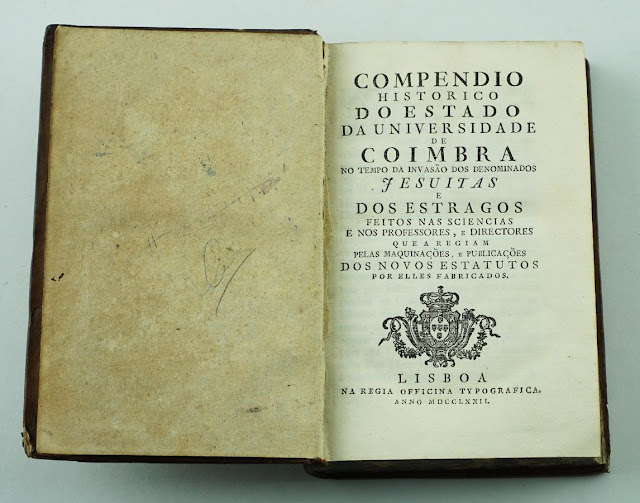
.png)


%20(1).jpg)