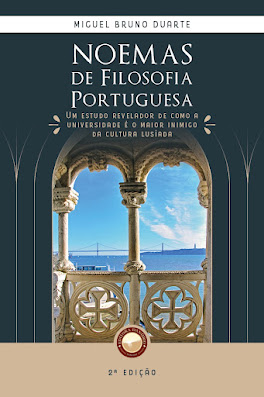Escrito por S. Tomás de Aquino
«Aristóteles assinala no livro Hermenêutica a importância dos estudos de semântica, pois, sem a rigorosa definição das palavras que pertencem à nomenclatura e à terminologia da ciência a que o pensador se refere, não é possível apreciar a verdade da argumentação e da demonstração. Definir é a operação lógica que limita a extensão das palavras, e que apenas às palavras se refere; os objectos sensíveis não se definem, medem-se; e também não se definem os conceitos e as ideias.»
Álvaro Ribeiro («Apologia e Filosofia»).
«Nos princípios do século XX (1906), o Pe. Engelbert Krebs, professor de M. Heidegger, lança a primeira edição moderna de O Ente e a Essência. É crível que a iniciativa tivesse deixado as suas marcas. Com efeito, não é difícil detectar no eminente filósofo de Ser e Tempo, título fundamental na ontologia contemporânea, quer uma demorada atenção no tema das distinções (Die Grundprobleme der Phänomelogie) quer a convicção de que a metafísica, enquanto história do ser, se caracteriza pela oposição ser e ente, quididade e quodidade (Nietzsche II). Se é óbvio que no primeiro dos dois trabalhos acabados de referir a atenção recai sobre os vulgarmente considerados grandes autores da ontologia das distinções (Tomás, Escoto ou Suárez), é facto assinalável que a particularidade teodoricana de registar o exame do ser no horizonte da linguagem e da língua se encontra também em Heidegger, além de ser consabido como Ser e Tempo enuncia a chamada “diferença ontológica” a partir da diferença, boeciana na sua origem, de que aqui afinal se tratará. O leitor há-de reparar que a autoridade das Refutações Sofísticas invocada logo no começo (DEE Proémio 1) serve para centrar a feição linguística da investigação à volta dos termos próprios. Reparará, depois, nas inúmeras indicações “in modo significandi”, em toda a primeira parte da obra, i.e., num horizonte semântico da ontologia, motivo subjacente ao seu dissídio em relação à tese de Tomás de Aquino. Este facto tem a sua justificação: o leitor atentará no emprego técnico dos termos “sentido”, “partes da oração” ou “modos de significação” que relevam de uma concepção filosófica e metafísica lógico-gramatical, denominada “modista”. De acordo com a gramática ou a semântica modistas, cuja perspectiva incide mais sobre a estrutura do discurso do que sobre a verdade do mesmo, os modos de significação são estruturas gerais de uma linguagem universal, plano que é habitualmente interpretado num quadro triádico no qual os “modi significandi” correspondem aos “modi intelligendi” e estes, por seu turno, aos “modi essendi”».
Mário
Santiago de Carvalho («Apresentação», in Teodorico de Freiberg, «O Ente e a
Essência»).
«Arqueologia,
e não metafísica, deveria intitular-se a doutrina aristotélica dos princípios
que Kant pretendeu refutar na Dialéctica
Transcendental. Foi efectivamente da palavra arche, parente de arcano, arco e arca, que se formou o termo arqueólogo. Os arqueólogos da
Antiguidade olhavam para o Céu, os arqueólogos da Modernidade escavam a Terra.
A ontologia, doutrina do ente, que por
singular está sujeito ao tempo, é menos do que arqueologia. Ela assume, porém,
na obra de Santo Anselmo o significado excelente de transição do tempo para a
eternidade. A Hegel devemos a doutrina religiosa de subordinação da ontologia à
arqueologia.
Esta disciplina dos três graus da razão, diferindo um pouco da nomenclatura escolástica, com ela se compatibiliza na oposição de Aristóteles a Kant. Ela pressupõe a tese de que o homem é um espírito, uma razão animada, mas uma razão impura, que tende a unir-se com a razão pura. A purificação da razão humana, pelo Espírito Santo, fica assim teologicamente referida ao mistério da Santíssima Trindade.»
Álvaro Ribeiro («A Razão Animada»).
«A novidade que surge de Que é a metafísica? (e menos explicitamente de A essência do fundamento) é a conexão explícita do problema do nada e da angústia com o problema do ser.
[o nada] “não é um objecto, nem em geral um ente; o nada não se apresenta por si mesmo nem junto do ente, a que, porém, diz respeito. O nada é a condição que torna possível a revelação do ente como tal para o ser existencial do homem. O nada não só representa o conceito oposto do ente, mas pertence originariamente à essência do próprio ser” [Que é a metafísica?, tradução citada, p. 24. O sublinhado é de Heidegger].
O
tradicional axioma metafísico ex nihilo
nihil fit, do nada não procede nada, deve inverter-se agora: do nada
procede todo o ente enquanto ente. Aqui importa sublinhar a expressão enquanto: que do nada provenha todo o
ente não quer dizer que do nada provenha a “realidade” do ente entendida como
simples presença, mas o ser do ente como um colocar-se dentro do mundo, como um
aparecer à luz que o Dasein projecta
no seu projectar-se: contrariamente à concepção do ser como simples presença, a
concepção do ser que se anuncia como implicitamente suposta em Ser e tempo e nestes escritos
posteriores, é precisamente a concepção do ser como “luz” projectada pelo
estar-aí como projecto.
(...) A Introdução à metafísica começa retomando o problema com que
concluía Que é a metafísica? que,
tendo elaborado o conceito de nada e esboçado a sua relação constitutiva com o
ser, não tinha todavia respondido à pergunta “Porquê em geral o ser, em vez do
nada”? Na realidade, este problema não se resolve com uma resposta que expresse
o porquê buscado; e isto explica-se tendo em conta o que diz o escrito sobre o
fundamento acerca do facto de que toda a atribuição do porquê, toda a
justificação é sempre interna ao
mundo como totalidade de entes que se justificam entre si, mas não tem sentido
a respeito do ente na sua totalidade. Perguntar: “Porquê o ente, e não antes o
nada?” serve no entanto justamente, por meio do “não antes”, para não esquecer
a transcendência do estar-aí, para problematizar a totalidade do ente como tal.
O facto de o problema não ter sido elaborado pela metafísica na sua história
(referir os entes a um ente supremo é também uma maneira de se manter no
interior do ente; o ente supremo é sempre um ente ao lado dos outros entes) significa justamente que a
metafísica esqueceu o “não antes”, isto é, esqueceu o problema do nada. A metafísica contentou-se
com eliminar o problema do nada como se não fosse um problema: se o nada não
existe, não se fala dele, não se pode discutir sobre ele e é melhor atermo-nos
ao ser. Mas, quando se desliga do nada, o ser identifica-se imediatamente com o
ente como presença, efectividade, realidade. Toda a fundação metafísica se limita
a buscar um ente sobre o qual fundar os outros, sem cair na conta de que, ainda
no caso deste primeiro ou último, se re-coloca completamente o problema do ser.
Uma vez que não elabora o problema do nada, a metafísica não elabora sequer, autenticamente, o problema do ser do qual, todavia, partiu. A metafísica tem a característica de um esquecimento do ser. Este esquecimento do ser manifesta-se no facto de que, para a metafísica, o ser é uma noção óbvia que não tem necessidade de ulteriores explicações. Isto equivale a afirmar que o ser é uma noção extremamente vaga que fica indeterminada; e é o que afirma Nietzsche, ao constatar que a ideia de ser já não passa da “exalação última de uma realidade que se dissolve”».
Gianni
Vattimo («Introdução a Heidegger»).
«A formação do pessimismo claramente manifestado por Schopenhauer, Nietzsche e Heidegger, em obras de tão fácil influência como a expansão do mal, teve origem na cosmologia da violência, proposta por Galileu, em oposição à cosmologia da naturalidade, doutrinada por Aristóteles. Tudo quanto equivalha a tirar os seres dos seus lugares naturais, por transporte violento em vez de morosa evolução, desenhará uma queda que tem correspondência científica na noção de gravidade. Ora ninguém desconhece que por muitos séculos o pensamento português ficou fiel, por três tradições fiel, à cosmologia de Aristóteles.»
Álvaro Ribeiro («A Razão Animada»).
«(...) a noção de ser permanece no cerne, se não no princípio, de todo o desenvolvimento ou procura do pensamento filosófico. Logo, Aristóteles, ao mesmo tempo que dá a expressão, digamos definitiva, à filosofia socrática ou, simplesmente, à filosofia dizendo que ela consiste no “pensamento que pensa o pensamento”, atribui por assunto da metafísica “o ser enquanto ser”. Mas o aristotelismo, neste como noutros aspectos, passa por muitas e diversas interpretações. Será “o ser enquanto ser” o assunto da metafísica mas é discutível e discutido, primeiro que isso faça da metafísica uma ontologia, sabendo-se como, no aristotelismo, tudo o que há, todo o real, reside e se afirma, não no ser, mas no movimento; depois que na relação entre a metafísica e o organon (em Hegel levará a identificação da metafísica e da lógica), a noção do ser enquanto ser não seja mais do que uma abstracção metódica do elemento central do logismo. É esta última interpretação que, num sentido, sugere, noutro expressamente afirma o aristotélico Álvaro Ribeiro: a noção de ser não é mais do que a substantivação, com a consequente substancialização, do precedente, que no logismo ou no juízo, assume a predicação.
Todavia, dizíamos, a noção do ser permanece primordial e a metafísica aristotélica, interpretada como uma ontologia, contribui para a reforçar fazendo renascer as implícitas ou explícitas objecções que lhe levantou a dialéctica de Zenão, de Sócrates, de Platão e do próprio Parménides.
Permanecendo prioritária, à noção de
ser se atribuiu carácter de imutabilidade, firmeza ou segurança em que todo o
pensamento teria de se fundamentar para que a sua expressão não passasse de uma
sofística ou uma logorreia. Tal fundamentação ou firmamento, haviam-no posto
Platão e Aristóteles no que designaram por ousia,
designação traduzida pelos platónicos por essência,
pelos aristotélicos por substância. A
essência será, na mesma expressão de Platão, “o que se faz que o que é seja”. A
substância o que faz com que o que há perdure, através de todas as alterações,
mudanças, deslocações e crescimentos, quer dizer, no movimento, realize-se ele
no tempo ou no sem tempo, no espaço ou no sem espaço.
Assim a noção do ser enquanto ser se tornou a referência obrigatória, o fundamento, se não o firmamento, do pensamento filosófico moderno, o que se seguiu ao cristianismo, e decisivamente contribuiu para que ele se desviasse de suas origens, ou suas verdades clássicas. Sempre se conservou, todavia, mais ou menos latente, a demonstração platonista de que a noção de ser implica necessariamente a de não-ser. E se isso foi utilizado para afirmar, contra a tese da eternidade do mundo, a da criação a partir do nada, também por aí se espreitou e chegou a abrir caminho e regresso ao orientalismo e à pré-filosofia por M. Heidegger, o regresso ao orientalismo por Jacobi. Ao refutar as teses de Jacobi, reconheceu Hegel uma curiosa aproximação do niilismo dos orientais com o essencialismo dos modernos, isto é, do não-ser e nada com o ser enquanto ser.
Num lugar, depois de expor as abstracções do espaço, do tempo e da consciência preconizadas por Jacobi, escreve: “(...) é o mesmo caso do hindu que permanece durante anos na total imobilidade, alheio a toda a sensação, a toda a representação, a todo o desejo, nada contemplando senão a ponta do nariz para interiormente apenas pronunciar om, om, om, ou até nada pronunciar, assim evocando Brahma”.
Noutro lugar, poucas linhas adiante,
comenta noutros termos a crítica do mesmo Jacobi à síntese a priori de Kant: “Jacobi transforma a “síntese em si”, “o juízo
primitivo”, na cópula em si, num é,
é, é sem começo nem fim, sem um quê,
um quem, nem um qual”.
(...) Tudo indica que a noção do ser é a
ideia de ser que há em cada um dos seres ou de que todos os seres participam
enquanto seres. Ora tal ideia é a de ser alguma coisa, não a do ser ou ser em
si mesmo, incompatível portanto com "o ser puro" hegeliano mas perfeitamente compatível com o aristotélico “ser enquanto ser”. Se ser é ser alguma
coisa, o problema, como frequentemente se diz, ou a questão, como mais
propriamente convém dizer, é, em termos aristotélicos, a da predicação ou, em
termos platónicos, a da “comunicação dos
géneros ou ideias”. Ser, ou que é, designa essas mesmas predicação e
comunicação. O que se trata é de pensar e saber como é possível que alguma
coisa seja alguma outra coisa, como é possível dizer do céu não apenas que o céu é o céu mas que o céu é azul, não apenas que o homem é o homem mas que o homem é justo. Do que se trata é de
saber como a predicação de azul e de justo convêm a céu e a homem ou como as
ideias de azul e de justiça se comunicam às ideias de céu e de homem.
No
primeiro modo de exprimir a questão se firmou o organon aristotélico marcando a
lógica posterior tão profundamente que deu razão para vir a ser considerado “a
filosofia natural do género humano”. Dele disse Álvaro Ribeiro que não é senão
a doutrina da predicação e Hegel reconheceu que “depois dele a lógica não adiantou
um passo”.
No segundo modo de pôr a questão, logo Platão a situa no cerne do pensamento e do mundo inteligível que é o seu mundo. A predicação é possível porque as ideias se comunicam. As relações, os sons ou isso mesmo de ser, próprios do mundo sensível, são possíveis porque derivam da harmonia entre as ideias, própria do mundo inteligível.
Forçoso é reconhecer que o aristotelismo, ao ultrapassar a predicação e estabelecer na metafísica a noção de ser enquanto ser, quer dizer a ideia de ser, de algum modo essencial regressa ao platonismo. Tal como Hegel, ao propor-se fazer da lógica “um passo adiante”, levando-a à metafísica, igualmente ao platonismo regressa. E como Hegel e Aristóteles, igual regresso se observa nos mais autênticos pensadores o que explica a afirmação de Leonardo Coimbra de que “toda a filosofia é uma reactualização do platonismo”.
(...) O ser só se pode entender e sempre se tem de entender como ser de alguma coisa. Prolongando Platão, mas desviando-o das vias que o platonismo abriu, essa alguma coisa não se une ao ser por predicação nem à ideia de ser por comunicação de outra ideia, mas é ela o mesmo conteúdo ou substância que, no ser, encontra seu limite. Dizemos e sabemos que “o céu é azul”, mas o azul, mais amplo ou extenso do que o céu, azul não apenas do céu mas do mar, da flor, do cristal dos olhos, diz-se e é no céu, e no mar, na flor, no cristal dos olhos, como em seu limite. Esta a noção do ser. Tudo o que há é em seu limite. O ser é o limite. Ser é ser limite.»
Orlando Vitorino («Enunciado da 1.ª TESE: o ser enquanto ser é ilusório», in «As Teses da Filosofia Portuguesa»).
O ENTE E A ESSÊNCIA
Segundo diz o Filósofo, no primeiro livro, Acerca do Céu e do Mundo, um erro que é pequeno no princípio torna-se grande no fim; ora, o ente e a essência são aquilo que é primeiramente concebido pelo intelecto, como diz Avicena no primeiro livro da sua Metafísica; por conseguinte, para que não se caia em erro por os ignorar, e para que se afastem as dificuldades a eles concernentes, há que dizer o que significam os termos essência e ente, e de que maneira ocorrem nas diversas coisas, e de que maneira se referem às noções lógicas, a saber, as de género, espécie e diferença específica.
.jpg) |
| Abu Ali Huceine ibne Abdala ibne Sina (Avicena). |
Uma vez que devemos aceder ao
conhecimento das coisas simples a partir do conhecimento das coisas compostas,
e ao das anteriores a partir das posteriores, para que o ensino seja mais
eficaz, por se começar pelas coisas mais fáceis, convém, então proceder da
significação do ente para a da essência.
Convém saber que, como diz o filósofo no
quinto livro da Metafísica, o ente
por si se diz de duas maneiras: uma das maneiras de o ente se dizer é a que se
divide pelos dez géneros [1]; a
outra é a que significa a verdade das proposições. A diferença entre estas duas
maneiras de dizer o ente é que, pelo segundo modo, pode dizer-se que é ente
tudo aquilo de que se pode formar uma proposição afirmativa, ainda que isso [2]
nada estabeleça na realidade; e é por este modo que se diz que as privações e
as negações são entes: de facto, dizemos que a afirmação é o oposto da negação,
e que a cegueira ocorre no olho. [3] Mas
pelo primeiro modo não se pode dizer que é ente senão aquilo que estabelece
alguma coisa na realidade. Daí que, pelo primeiro modo, a cegueira e este
género de coisas não sejam entes. Daqui que o termo essência não possa
derivar-se do ente dito do segundo modo; de facto, aquelas coisas que deste
modo se diz que são entes não têm essência, como acontece com as privações; mas
o termo essência é derivado do ente dito do primeiro modo. Daí que o
Comentador, ao comentar esta passagem, diga que «é o ente dito do primeiro modo
que significa a essência da coisa».
E uma vez que, como ficou dito, o ente
dito deste modo se divide pelos dez géneros, convém que a essência signifique
algo que é comum a todas as naturezas, pelos quais os diversos entes são
colocados nos diversos géneros e espécies, como a humanidade é a essência do
homem, e o mesmo quanto às outras coisas. E é porque aquilo pelo qual a coisa é
integrada no próprio género ou espécie é aquilo que é significado pela
definição, que indica o que a coisa é, que o termo essência foi mudado pelos
filósofos para quididade [4]; e
é a isto que o Filósofo chama frequentemente o que era ser, isto é, aquilo pelo qual algo tem um certo ser. E
também se lhe chama forma, na medida em que pela forma se entende a
determinação de cada coisa, como diz Avicena no segundo livro da sua Metafísica. A essência é ainda designada
por outro termo, natureza, tornando-se a natureza no primeiro dos quatro
sentidos que Boécio atribui a esse termo no livro Acerca das Duas Naturezas; a saber, enquanto se chama natureza a
tudo aquilo que o intelecto pode, de algum modo, captar. De facto, uma coisa
não é inteligível senão pela sua definição e pela sua essência: e assim, também
o Filósofo diz, no quinto livro da Metafísica,
que toda a substância é natureza. Contudo, o termo natureza, tomado deste modo,
parece significar a essência da coisa enquanto se ordena à sua operação
própria, uma vez que nenhuma coisa está destituída da sua operação própria. O
termo quididade deriva daquilo que é significado pela definição; mas a essência
diz-se na medida em que por ela e nela o ente tem ser.
Mas como o ente se diz, de modo absoluto e
primeiramente, das substâncias, e posteriormente e como que segundo algo dos
acidentes, é por isso que a essência está, própria e verdadeiramente, nas
substâncias, e nos acidentes apenas de certa maneira e segundo algo [5].
Ora, de entre as substâncias, umas são
simples e outras compostas, e ambas têm essência; mas ela está nas simples de
modo mais verdadeiro e mais nobre, na medida em que estas têm um ser mais
nobre; e também são causa das compostas, pelo menos a substância primeira e
simples, que é Deus.
Mas, uma vez que as essências daquelas
substâncias nos estão mais ocultas, é por isso que é necessário começar pelas
essências das substâncias compostas, para que o ensino seja mais eficaz.
Assim, nas substâncias compostas,
encontramos a matéria e a forma, como encontramos, no homem, a alma e o corpo.[6]
Mas não se pode dizer que apenas uma destas seja a essência. Que a matéria não
seja, por si só, a essência é evidente, uma vez que é pela sua essência que a
coisa é cognoscível e que se integra numa espécie e num género; mas a matéria
nem é princípio de conhecimento, nem é segundo ela que algo é determinado [7] a
um género ou a uma espécie, mas segundo aquilo pela qual algo é em acto. Mas
também não se pode dizer que apenas a forma seja a essência da substância
composta, ainda que alguns pretendam afirmá-lo. Por aquilo que ficou dito, é
claro que a essência é aquilo que é significado pela definição da coisa. Ora a
definição das substâncias naturais não contém apenas a forma, mas também a matéria; de outro modo, as definições das coisas naturais não difeririam das definições das coisas
matemáticas [8].
Mas também não se pode dizer que a matéria seja introduzida na definição das
coisas naturais como acrescentada à sua essência, ou como um ente exterior à
sua essência, pois este modo de definição é próprio dos acidentes, que não têm
uma essência perfeita; daí que convenha que recebam na sua definição o sujeito [9],
que é exterior ao seu género [10].
É portanto evidente que a essência [11]
compreende a matéria e a forma.
Também não se pode dizer que a essência signifique a relação existente entre a matéria e a forma, ou alguma coisa que lhes seja acrescentado, pois isto seria, necessariamente, acidental ou exterior à coisa, e não seria por isso que a coisa seria conhecida: tudo coisas que convêm à essência [12]. De facto, pela forma, que é o acto da matéria, a matéria torna-se ente em acto e uma certa coisa. Daí que aquilo que é acrescentado não dê à matéria, simplesmente, o ser em acto, mas um certo ser em acto, como fazem os acidentes; como a brancura faz o branco em acto. E assim, quando se adquire uma tal forma, não se diz que algo se gera simplesmente, mas que se gera segundo algo.
Resta, portanto, que o termo essência signifique, nas substâncias compostas, aquilo que é composto de matéria e forma. E esta posição está de acordo com a afirmação de Boécio, no seu comentário às Categorias, onde diz que a ousia [13] significa composto; efectivamente, para os gregos, a ousia significa o mesmo que a essência para nós, como ele mesmo diz no livro Acerca das Duas Naturezas. Avicena diz ainda que a quididade das substâncias compostas é a própria composição de forma e matéria. E também o Comentador diz, acerca do sétimo livro da Metafísica: «A natureza que têm as espécies das coisas sujeitas à geração é algo intermediário, isto é, composto de matéria e forma». Com isto concorda ainda a razão, pois o ser das substâncias compostas não é apenas o da forma, nem apenas o da matéria, mas o do próprio composto; efectivamente, a essência é aquilo segundo o qual se diz que a coisa é. Pelo que convém que a essência, pela qual a coisa é denominada ente, não seja apenas a forma, nem apenas a matéria, a causa deste modo de ser. Como vemos que acontece noutras coisas que são constituídas por muitos princípios, que a coisa não é denominada apenas por um desses princípios, mas por aquilo que é composto por ambos, como acontece com os sabores: pois é pela acção do calor, que digere o húmido, que é causada a doçura: e embora, deste modo, seja o calor a causa da doçura, nem por isso o corpo é denominado doce a partir do calor, mas a partir do sabor, que é composto pelo calor e pelo húmido.
No entanto, como o princípio de individuação é a matéria, poder-se-ia pensar que se segue do que dissemos que a essência, que é composta, simultaneamente, pela matéria e pela forma, é particular e não universal; daí se seguiria que os universais não teriam definição, uma vez que a essência é aquilo que é significado pela definição. Convém, pois, saber que não é a matéria considerada de qualquer modo que é princípio de individuação, mas apenas a matéria designada. E chamo matéria designada àquela que é considerada sob determinadas dimensões. Mas esta matéria não entra na definição de homem, enquanto homem, mas entraria na definição de Sócrates, se Sócrates tivesse definição. Na definição de homem, porém, entra a matéria não designada; de facto, na definição de homem não entram estes ossos e esta carne, mas ossos e carne em absoluto, que são a matéria não designada do homem.
(In São Tomás de Aquino, O
Ente e a Essência, Instituto Piaget, Introdução, tradução, notas e
apêndices de Maria José Figueiredo, pp. 37-47).
[1] Ou categorias, substância e
acidentes; ver Catherine Capellle, O. P., Saint
Thomas d’Aquin, L’être et L’essence, Paris, Vrin, 1965, ad loc.): «l’être qui est divisé en dix
catégories».
[2] Isto é, essa proposição.
[3] Isto é, o facto de afirmarmos «a
afirmação é o oposto da negação» e «a cegueira ocorre no olho» confere a
«negação» e a «cegueira» uma certa realidade, enquanto palavras usadas nestas
duas proposições afirmativas.
[4] A essência indica «o que» (quid) a coisa é, ou seja, a sua quididade.
[5] É curioso observar que, embora
tenha declarado que investigará o que é o ente e a essência, São Tomás de
Aquino acabará por centrar-se especialmente no modo como os vários entes
possuem essência, sem se preocupar muito com o que é ser.
[6] A composição de alma e corpo é
um exemplo do tipo mais geral de composição, de forma e matéria [ou antes: de
matéria e forma, de modo a evitarmos a cacofonia: de forma].
[7] Isto é, que algo se inclui num
género ou numa espécie.
[8] Isto porque, considera São Tomás
de Aquino, os princípios da lógica e da matemática se referem apenas aos
aspectos formais da coisa (ver Suma
contra os Gentios, II, 25, 10).
[9] Isto é, o sujeito em que
inserem; mas ver adiante, capítulo 7.
[10] Isto é, ao género dos acidentes.
[11] Isto é, a essência das substâncias
compostas.
[12] Isto é, ser essencial, própria
da coisa, e permitir que ela seja conhecida.
[13] Ousia, termo grego que é normalmente traduzido por «substância». Esta noção é discutida, nomeadamente, nas Categorias de Aristóteles, onde adquire pela primeira vez o sentido técnico que virá a ter em toda a tradição filosófica; é no entanto redutor considerar que, nesse texto, «ousia» significa apenas «essência».





gjn.jpg)