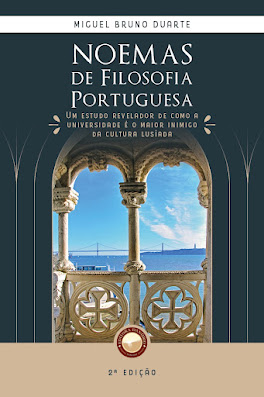1. Organograma dos deputados
Agrupam-se, num dos quadros, aqueles deputados que, nas conversas cá de fora, se designam por ultras. Acontece, porém, que salvo uma única excepção, ninguém lá dentro como cá fora, se deixa designar por ultra. A excepção que, por única, é corajosa e franca, é o deputado Casal Ribeiro. Foi ele quem, referindo-se à enigmática SEDES, afirmou que nada se sabe desse agrupamento que se diz puramente economista mas se regulamenta segundo determinações políticas e, aprovado pelo Governo, constitui um factor de confusão. Ora ele, pelo contrário, diz bem alto aquilo que é, e, portanto, quando de si se trata todos podem saber o que há a contar. As duas observações são lógicas e verdadeiras.
No lado contrário ao dos ultras, ninguém se situa ou afirma situar-se. Na Assembleia, claro. Porque, cá fora, assim como ninguém é ultra, assim toda a gente é contra os ultras. E resta, então, a populosa gama dos medianeiros, dos do centro, topografia paradoxal pois, definindo-se o centro e o meio como o que fica entre dois extremos, ao extremismo que lá está não corresponde senão o vazio no lugar onde deveria estar o extremismo contrário.
Nesta gama, pois, de paradoxais medianeiros, procura-se distinguir sucessivamente:
1. Os que se mantêm fiéis a um salazarismo que entendem dever continuar sem evoluir são muito poucos, esses mesmos, com o receio de poderem ser confundidos com os ultras.
2. Os que, segundo a fórmula do Chefe do Governo, são por um salazarismo que continua mas evolui. Constituem o modo oficial de ser marcelista e o seu principal representante deveria ser, logicamente, o deputado que foi designado, pelo Governo, como líder da Assembleia Nacional, Franco Nogueira. A imagem que, entretanto, se formou de Franco Nogueira, leva a alargar a este segundo quadro do organograma o receio da confusão com os ultras.
3. Os que, no outro balanceamento do ponteiro marcelista, querem a evolução descomprometida da continuação. Neste quadro figuram os deputados que representam o predomínio do economismo sobre a política, como Magalhães Mota. E foi nele que se salientou a personalidade mais firme desta legislatura, o deputado Camilo de Mendonça, campeão (sem ironia) do nordeste transmontano.
4. Os que, para lá da continuação que ignoram, e para lá da evolução que esquecem, são apresentados como reformistas e progressistas, que é a versão actual da famosa ordem e progresso do republicanismo positivista da belle époque. Entre eles se encontram as personalidades mais brilhantes, mais juvenis e joviais, mais abertas, como o médico Miller Guerra, o empresário-jornalista Francisco Balsemão e o católico post-concílio Sá Carneiro. Todos eles se fizeram já notar, não só entre as solenes bancadas da Assembleia como cá fora: Miller Guerra afirmou-se o campeão (também sem ironia) do reformismo universitário, propugnando o rejuvenescimento das universidades existentes e a criação de novíssimas universidades. Fê-lo num «aviso-prévio» muito discutido que, entre a discussão, permitiu uma bem meditada intervenção do deputado Aguiar e Silva e um veemente elogio da contestação estudantil do ISCEF e do professor daquele instituto, candidato a deputado pela CDE, Francisco de Moura. O empresário-jornalista Francisco Balsemão que vê, naturalmente, os jornais darem grande relevo às suas, embora apressadas e raras, intervenções na Assembleia. Deve registar-se que esta espécie de publicidade de que dispõe o deputado, não deixa de provocar certos ciúmes em seus colegas e pares. Quando, recentemente, a família Balsemão negociava a venda das suas acções do «Diário Popular», risonhamente se ironizava, entre as bancadas da Assembleia, que Francisco Balsemão, deixava de vender jornais para vender o jornal. E é muito curioso lembrar que quando foi pela primeira vez eleito Governador da Califórnia, o actor Ronald Reagan, F. Balsemão publicava no seu jornal um indignado artigo insurgindo-se contra um processo eleitoral que permite escolher para Chefe de um Estado um homem que, por ser actor, dispõe de uma máquina publicitária montada. Sempre, na verdade, os políticos invejaram os actores. E vice-versa.
5. À esquerda deste último quadro, o organograma está vago: ou a preencher um dia ou definitivamente vazio.
2. Vamos escolher um caso concreto
Já no n.º 2 de A ILHA pudémos informar os nossos leitores de que o que estava em causa na Lei do Cinema, era:
a) A regulamentação legal de uma actividade que, há cerca de 12 anos, se encontrava sem legislação própria.
b) A capacidade de resistência do país e das suas instituições aos grupos de pressão, com origem estrangeira e natureza económica, que conseguiram manter, durante esses 12 anos, legalmente irregulamentada uma actividade de ampla e profunda influência sobre as populações.
c) A medida do interesse das instituições e do país – representado na Assembleia Nacional – por uma actividade que, além de económica, constitui um poderoso veículo de formação mental das populações. Suspensa a anterior legislação por volta de 1958, logo se constituiu uma Comissão para estudar o projecto de uma nova lei que só com o actual Governo, ficou concluído e passou, das mãos do Governo, para a Câmara Corporativa. Como se sabe, os Projectos-Lei, antes de serem discutidos na Assembleia Nacional, são apreciados pela Câmara Corporativa que sobre eles dá o respectivo parecer que pode ir até à proposta de um texto completamente remodelado. Foi o que aconteceu a este Projecto-Lei do Cinema. O texto que o Governo apresentou, tinha os seguintes núcleos estruturais:
1. Criação de um Instituto Português do Cinema dispondo dos meios para promover a produção cinematográfica.
2. Regularização oficial do preço dos bilhetes.
3. Condicionamento da instalação de empresas cinematográficas.
4. Modos de promover a produção cinematográfica.
3. O caso concreto também serve para conhecermos a Câmara Corporativa
1. Admitindo a criação do Instituto Português do Cinema, a Câmara Corporativa propunha:
a) Que não ficasse ele integrado em nenhum organismo do Estado.
b) Que o seu Presidente fosse o Presidente dos Grémios do Cinema que, dada a situação actual, é o representante dos valores económicos e culturais estrangeiros.
2. Em nome «da livre iniciativa que deve existir nas actividades cinematográficas», a Câmara Corporativa propunha que os preços dos bilhetes nada tivessem a ver com qualquer espécie de condicionalismo social.
3. Sobre o condicionamento das empresas cinematográficas, a C. C. propunha:
a) Que se não autorizasse a instalação de novas salas de exibição nas localidades onde já exista alguma.
b) Que se não autorizasse a formação de novas empresas distribuidoras.
c) Que se sujeitasse a autorização prévia a instalação de novas empresas de estúdios e laboratórios.
4. Os modos de promover a produção cinematográfica foram objecto do mais subtil tratamento pela Câmara Corporativa. Analisemos alguns pontos:
a) A «continuação» é o velho cavalo de batalha em todos os países invadidos e esmagados pela importação cinematográfica estrangeira. O cinema é uma arte internacional e raros países têm possibilidades de, sem condicionarem a exibição de filmes importados, competirem com 3 ou 4 grandes indústrias americanas e europeias. A forma mais eficaz e justa de estabelecer esse condicionamento é a «contingentação». Consiste ela em determinar o número de filmes nacionais que cada sala tem a obrigação de exibir por um número fixado de filmes estrangeiros. No Brasil, por exemplo, a contingentação é de 1 filme nacional para 4 estrangeiros; na Espanha, de 1 para 3.
O estabelecimento da contingentação imediatamente tem suscitado o aparecimento e desenvolvimento do cinema nacional. No Brasil, em quatro anos, a indústria saltou de uma produção irrisória para a produção de 120 filmes em 1970.
Pois bem: a contingentação estava prevista no Projecto-Lei apresentado pelo governo e foi ela aprovada pela Assembleia Nacional. Mas, no caminho do governo para a Assembleia, a Câmara Corporativa repudiou-a e, em seu lugar, propôs... o quê? A proibição de se criarem novas empresas distribuidoras (Base XXV do Projecto-Lei)!!!
b) Por contingentação de uns tantos filmes estrangeiros por uns tantos filmes nacionais, o leitor só pode entender que os números são o que são, e que um filme é um filme. Ingénuo leitor! A Câmara Corporativa pretendeu insinuar (Base XXVI) que na contingentação se não deve distinguir entre curtas e longas metragens, donde resultaria, evidentemente, que um breve documentário nacional logo daria direito à exibição de algumas dezenas de longas metragens estrangeiras!
4. As principais figuras que entram em campo
Mas ao parecer da Câmara Corporativa sucedia-se a discussão na Assembleia Nacional. Previamente, uma comissão de parlamentares – a Comissão de Educação – estudaria o Projecto-Lei e o corporativo parecer. A Comissão é presidida por Veiga de Macedo, antigo subsecretário da Educação e Ministro das Corporações. É um homem de 53 anos, de cabelos precocemente brancos, um toque honesto de província no vestuário e na pronúncia e um respeito raro, talvez singular em políticos, pela cultura. Foi esse respeito que o levou a fazer, na tribuna parlamentar, o elogio de José Régio com uma citação de Álvaro Ribeiro, que o Presidente da Assembleia, Amaral Neto, não deixou passar sem uma irónica observação de estranheza. Quando membro do Governo, obteve a colaboração de escritores, cineastas e actores, sobretudo para a Campanha de Educação de Adultos. Iniciou assim, no Governo, o recurso intensivo aos instrumentos de grande publicidade e informação o que, nos corredores ministeriais, os velhos funcionários identificavam, a sorrir, com um desejo ostensivo de exibição que os seus sucessores vieram a ultrapassar largamente e sem justificação de estarem a fazer uma campanha popular.
Ao minucioso estudo que o deputado Veiga de Macedo fez da Lei do Cinema não terá sido estranha a saudade dessa antiga colaboração, do convívio que ela lhe deu e do reconhecimento daquilo que, brincando, se diz nos bastidores teatrais: que neste país só os actores e alguns políticos trabalham deveras. São também os artistas e os políticos as «classes» que atingem maior longevidade. Efeitos do trabalho, do contacto com as multidões, dos aplausos todos os dias? De qualquer modo, a Lei do Cinema subiu, bem estudada, à tribuna parlamentar. Na «discussão na generalidade» ainda algumas intervenções, ingénuas umas, demasiado «sábias» outras, interromperam o orador. Entre as ingénuas, contou-se a de um deputado que se pronunciou contra a dobragem dos filmes estrangeiros, por causa dos surdos [sic!]. Entre as demasiado «sábias», contou-se a de Francisco Balsemão que, na linha do liberalismo neocapitalista, reivindica-se, em termos pouco definidos, liberdade para o cinema. A ninguém damos autoridade para defender, mais do que a nós, a liberdade do cinema. Mas demasiado bem sabemos como é que os liberalistas de ontem e de hoje, utilizam isso a que chamam liberdade. O mesmo parecer da Câmara Corporativa tinha acabado de nos dar mais um exemplo: recusando, em nome da liberdade, a regulamentação oficial dos preços dos bilhetes, mas exigindo, sem apelar para a liberdade, o controle do cinema de amadores (Base XIII) e a proibição de novas empresas distribuidoras. A intervenção de Francisco Balsemão obteve grande relevo nos jornais dessa tarde.
5. Como alinharam os deputados
A discussão prolongou-se por 4 sessões. Dos 144 deputados, assistiram à 1.ª sessão 95, à 2.ª e 3.ª 104, à 4.ª 87. Segundo as informações que colhemos, é esta a frequência habitual às sessões da Assembleia. Todavia, como adiante veremos, os jornais de Lisboa afirmaram, com relevo, que a frequência foi, neste caso, muito diminuta.
Entre os 44 deputados que, em média, faltaram às sessões que analizamos, figuraram alguns dos mais representativos das correntes de opinião dominantes na Assembleia. O deputado Melo e Castro que dirigiu, como presidente executivo da União Nacional, a campanha eleitoral em que foram escolhidos todos os actuais deputados, esteve ausente a todas as sessões. Ausente também em todas as sessões, o empresário-jornalista Francisco Balsemão que, no entanto, subscreveu as propostas defendidas pelo deputado Magalhães Mota. Franco Nogueira, líder da Assembleia, faltou a 3 das 4 sessões. Miller Guerra, que intervém frequentemente em todas as questões de carácter cultural, faltou a 2 sessões. Camilo de Mendonça, Sá Carneiro, Henrique Tenreiro e Casal Ribeiro, faltaram a 1 sessão. Os principais representantes das diversas correntes de opinião, não dedicaram, pois, ao assunto um interesse pleno.
Todas as propostas apresentadas e justificadas por Veiga de Macedo foram aprovadas sem oposição. Dos 98 deputados que, em média, estiveram presentes, apenas dois deles, Magalhães Mota e Reboredo e Silva, se fizeram ouvir. O último, apenas para falar à margem do assunto em discussão. Disse discordar da designação de «Conselho Administrativo» que, na sessão anterior a que ele não assistira, fora aprovada para designar o escalão supremo do I. P. C. Os nossos leitores poderão encontrar no n.º 1 de A ILHA as razões que temos para aplaudir esta intervenção.
Magalhães Mota foi mais activo: interveio em 2 sessões, deu colaboração à Comissão presidida por Veiga de Macedo e apresentou duas propostas: uma referente à Base XXII que autoriza a dobragem de filmes e outra destinada a proibir a projecção de filmes publicitários. Ambas eram assinadas por ele, por F. Balsemão, por Sá Carneiro e pelo redactor do «Jornal da Madeira», Eleutério Aguiar. A segunda, sobre a proibição de filmes publicitários, teve de ser retirada da mesa pois existe e está em vigor – embora não se execute! – uma disposição legal que a determina. A primeira, que foi aprovada, liberta os distribuidores – exibidores (ou seja: os filmes estrangeiros) da obrigação da dobragem que só traria vantagens à indústria e à arte do cinema nacional. Tais vantagens seriam as seguintes:
a) Maior volume de trabalho para os nossos estúdios e laboratórios.
b) Maiores possibilidades de trabalho e apuramento de dicção para os nossos artistas.
c) Melhor possibilidade de apreciação para os espectadores: os filmes portugueses – que não são legendados – oferecem-se aos espectadores integralmente, enquanto os filmes estrangeiros – legendados – desviam ¾ do tempo de espectação para a leitura das legendas. O espectador é por isso um crítico atento quando vê um filme português e um crítico desviado quando vê – melhor, quando lê – um filme estrangeiro.
6. A Imprensa falseia o jogo
Aliás, já anteriormente, o «Diário de Notícias», principal orgão da nossa imprensa (120 000 exemplares de tiragem, equivalente a 500 000 leitores) fizera a sua campanha discreta sobre a inoportunidade da Lei do Cinema, como os nossos leitores podem verificar pela ILHA, n.º 4.
Desde início, portanto, a Imprensa se colocou ao lado dos distribuidores-exibidores, isto é, ao lado do cinema estrangeiro, dos interesses criados, da colonização do país. Há excepções, é claro... mas tão débeis, quase inaudíveis...
O noticiário, depois, foi comprovando o inicial propósito. O problema da contingentação quase não foi noticiado e, no que foi, sem qualquer relevo. A maior «caixa» dada a toda a longa discussão parlamentar, coube à intervenção – significativa – de Francisco Balsemão. Quando, portanto, o deputado Miller Guerra veio, duas semanas mais tarde, alertar a opinião, a Assembleia e o Governo sobre o que se está a processar no mundo da Imprensa – a sua concentração nas mãos de... dois? um?... potentados económicos – a dependência dos potentados económicos já era patente no «tratamento» jornalístico da discussão parlamentar que escolhemos para observarmos como funciona a Assembleia Nacional. Contaram-nos, entretanto, que, em conversa nos Passos Perdidos, um jornalista teria falado a Veiga de Macedo na compra de jornais pelos potentados económicos, o que vai colocar a Imprensa nas mãos da plutocracia. «Vai colocar? – Teria respondido Veiga de Macedo. O que se está a passar é apenas uma mudança de mãos. E podemos até pôr a nossa esperança em que ela fique em melhores mãos».
7. As fendas na muralha
A primeira ia sendo lá deixada por uma das duas propostas do deputado Magalhães Mota, também assinada por Francisco Balsemão e Sá Carneiro. Diria ela que os filmes nacionais a exibir obrigatoriamente não deveriam ter sido produzidos há mais de três anos. Veiga de Macedo aceitou tal proposta, mas acrescentando que tal limitação só se aplicaria quando não houvesse em exibição filmes estrangeiros também produzidos há mais de três anos. A fenda não ficou totalmente colmatada, mas já foi alguma coisa.
Outra fenda reside na Base XXV, aquela onde «se excluem do contingente dos filmes nacionais aqueles que o I. P. C. considere não apresentarem nível técnico e artístico bastante». Também aqui seria imprescindível um aditamento análogo ao que Veiga de Macedo juntou à proposta de M. Mota e que, confiamos, lhe virá a ser feito na regulamentação da Lei. Com efeito, a exclusão prevista destina-se a prevenir abusos industriais; mas só será justa se apenas se verificar quando não haja em exibição nenhum filme estrangeiro de nível técnico ou artístico inferior ao filme português cuja exclusão se considere.
Mas a mesma regulamentação poderá também deixar fendas a descoberto. E, então, tudo dependerá da execução. A Lei entrega a execução a um novo organismo, o Instituto Português do Cinema. Este instituto, e com essa mesma designação, foi proposto, há 13 anos, no jornal «57», em artigos largamente fudamentados, assinados por Orlando Vitorino, António Quadros e Afonso Botelho. A proposta foi, então, entusiasticamente defendida pelo jornal «O Século». Mas, durante 13 anos, não foi considerada nem pelo Governo, nem pelos organismos corporativos, nem pelas instituições do Estado. Reaparece, agora nesta Lei, embora diminuído das funções escolares, oficinais e estéticas que os seus propositores nele incluíam.
Do I. P. C., orgão executivo da Lei, dependerão, pois, as condições para a afirmação de um cinema português, isto é, as condições para que aos portugueses não seja vedado, como tem sido, o acesso à forma de expressão mais característica do nosso tempo. A Câmara Corporativa bem o teve em conta quando propôs que a sua presidência fosse entregue ao presidente dos Grémios do Cinema. A Assembleia Nacional também o teve em conta quando repudiou tal proposta. Foi a primeira fase da luta pelo comando.
8. Conclusão e fecho
Que acontecerá, porém, quando outro assunto cultural seja apresentado aos parlamentares e o seu estudo não seja entregue a Veiga de Macedo?
Texto de Orlando Vitorino, in Jornal da Madeira, Funchal, 25 de Março de 1971, pp. 1-3 (suplemento "A Ilha", n.º 6). Assinado como Ernesto Palma.

















-1.jpg)