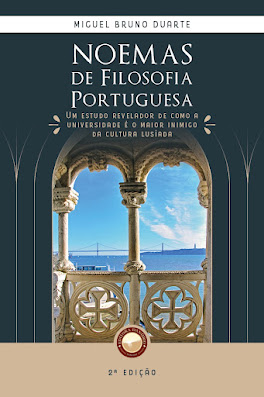«(...) O conceito de matéria como de força originante da divisão infinita não periódica, isto é, eternamente produtora do outro coincide com o conceito da terceira das realidades indicadas por Platão. A ciência moderna aparece, do ponto de vista da sabedoria antiga, como tendo por fim conhecer e dominar a matéria. É a última e suprema forma de titanismo, jamais no passado tentada pelo homem. A matéria não é energia, no sentido grego da palavra, não é acto porque não implica forma; é potência de divisão. É o que Aristóteles significa quando diz que não há infinito actual. Mas essa potência "em que só acreditamos por um prestígio de imaginação" explodiria se a apreendêssemos, porque a sua natureza, se da natureza se pode aqui falar, é a própria "inapreensibilidade".
(...) Como para a ciência moderna, a noção suprema de realidade é a de uma matéria que é pela divisão e pela composição ad infinitum, só o método que procede por divisão e recomposição de partes aparece como adequado; dir-se-ia que aquele factor pelo qual se constitui e se reconstitui indefinidamente a matéria é o mesmo de que a inteligência humana se serve para a conhecer e dominar. A ciência antiga, como vimos, dá a matéria como o irracional na própria vida de Deus; é uma substância misteriosa que, por ser a potência de divisão infinita, constitui o elemento básico para as formas que nascem da actividade contemplativa do Espírito. Mas o conhecimento da matéria em si não atraía os antigos por saberem muito bem o que isso significava e até onde poderia conduzir».
António Telmo («O Timeu e o conceito de analogia em Leonardo Coimbra», in Viagem a Granada).
«(...) "A verdade, porém, é que a ciência antiga nos seus vários ramos, tinha um objecto absolutamente distinto do objecto da ciência moderna". E vê-se que Você [António Telmo] prefere a ciência antiga. Parece preferi-la, entre outras razões, por a ver ocupada em encontrar "as quatro forças elementares que por toda a parte actuam no mundo natural", ao passo que "para a ciência moderna, a noção suprema de realidade é a de uma matéria que é pela divisão e pela composição ad infinitum (...)" Atrever-me-ei a observar que a "ciência antiga" ou dependia ou estava muito perto de uma concepção panteísta, que, verdadeiramente, só Aristóteles (a muito custo) afasta. Esvaziar de divino "a grande máquina do mundo" foi o cuidado e o efeito directo da religião de Israel, aprofundado pelo Cristianismo (cf., por ex., Mircea Eliade, Histoire des Croyances, II, 191)».
Henrique Barrilaro Ruas («Carta a António Telmo», in Viagem a Granada).
«(...) Como me pareceu que o i grego da nossa divergência reside no modo de conceber as relações da cosmogonia com a teologia, com as implicações inevitáveis no domínio da ciência antiga e da ciência moderna, voltei a ler o magnífico livro, que de certo conhece, de Alexandre Koyré sobre a evolução do pensamento científico, Do Mundo Fechado ao Universo Infinito, onde me foi dado ver que, afinal, também os grandes cientistas filósofos do século XVII se dividiram entre pontos de vista análogos aos nosso pelo que se me afigura que a oposição não é propriamente de antigos e modernos, de ciência antiga e de ciência moderna.
Quando se fala em ciència moderna e se diz simplesmente, com letra maiúscula, a "Ciência", é como se estivéssemos perante uma forma de conhecimento indiscutível e absoluta, com os seus princípios e métodos estabelecidos de uma vez para sempre, por tal modo que nós, indivíduos, nada ganhamos em pensar para formar uma concepção própria do Universo, porque outros o fazem e sabem por nós. Pelo menos, é esta a ideia provinciana da Ciência: "Não me venha com filosofias, a Ciência diz que..."; "A Ciência ainda não se pronunciou sobre este assunto, temos de esperar para que ela nos diga como é", são frases lançadas à mesa do café, mas que exprimem o prestígio dessa secreta eclésia anónima, situada algures nos laboratórios russos e americanos, onde ninguém tem acesso sem uma especial "ordenação " universitária.
O livro de Alexandre Koyré é liberalmente salutar, porque permite a heresia, isto é, a escolha. Mostra-nos, ao mesmo tempo, que todo o pensamento científico depende do pensamento filosófico e que a separação de ambos, perfeitamente estabelecida nos nossos dias, não pôde senão levar, por um lado, à redução da ciência a tecnologia, por outro, à dissolução da filosofia nas águas estagnadas dos conceitos sem conteúdo real. Entre os antigos, cada filósofo ou cada escola filosófica tinha a sua ciência. A Física de Aristóteles não era a física de Demócrito, porque diversas eram as suas concepções da constituição da matéria e do movimento. Através de Alexandre Koyré, ficamos a saber que a situação não era diferente no tempo de Newton...».
António Telmo («Carta a Henrique Barrilaro Ruas», in Viagem a Granada).
 |
| António Telmo no Mosteiro dos Jerónimos |
«(...) Noutros escritos nos fala Descartes do carácter fabuloso do mundo sensível, da irrealidade portanto dos "corpos que nos rodeiam", e existe até um famoso retrato do pensador que tem escrita esta legenda: mundus est fabula. Lembrando, então, a sua preconizada filosofia prática, certa perplexidade nos pode surpreender pois logo diremos que a prática e a fábula mutuamente se excluem, e o cartesianismo simultaneamente nos aparecerá ou, nos termos da filosofia que lhe é anterior, como um realismo e um nominalismo, ou nos termos da filosofia que lhe é posterior, como um realismo e um idealismo. Esta ambiguidade vai assinalar toda a consequente evolução da filosofia nórdica: as suas expressões mais espiritualistas estão marcadas de materialismo, as suas declarações mais materialistas não conseguem esconder o mais enraizado espiritualismo, as suas sistematizações críticas concluem num dogmatismo extremo, o seu geral racionalismo funda-se na dúvida radical e patenteia uma permanente carência de persuasão retórica.
Depressa veremos, todavia, como o inical antagonismo entre prática e fábula se resolve em mútua complementaridade. Com efeito, definida como um conhecimento utilizável para dominar a natureza, a filosofia prática é a ciência moderna que Descartes se não limitou a preconizar mas de que foi também o decisivo iniciador. A ele se deve, com o princípio da inércia (ou, mais rigorosamente, com a formulação do princípio de inércia) a constituição da mecânica que é o que torna utilizável o conhecimento científico e o que distingue a ciência moderna de outros modos do conhecimento físico como seja, por exemplo, o dos gregos. "A filosofia da natureza de Descartes é puramente mecânica", diz-nos Hegel. Os corpos deixam de ter, como na física antiga, singularidade; o que era o lugar qualificado, ou determinado pelo corpo que o ocupa, passa a ser o espaço homogéneo a que Epicuro chamava o vazio; o movimento elementar deixa de ser o circular para ser o rectilíneo; a natureza perde o sentido original que abrange todas as formas nascidas e geradas e na geração contêm já a corrupção, formas que nascem, se reproduzem e morrem, para constituir a colecção dos corpos que nos rodeiam, corpos inertes ou sem vida que entre si se atraem ou repelem movidos por uma força que não reside nem na forma nem na matéria que os compõem, mas resulta da massa imaterial e informe que, com a sua presença bruta, marca limites no espaço infinito, inqualificado e homogéneo e representa uma energia cuja quantidade é invariável».
Orlando Vitorino («Refutação da Filosofia Triunfante»).
Na verdade, a tentativa de Descartes para salvaguardar a omnipotência divina, negando a possibilidade de um espaço vazio enquanto incompatível com a nossa maneira de pensar, está longe de ser convincente. O Deus cartesiano é um Deus verax, que garante a verdade das nossas ideias claras e distintas. É por isso que não somente repugna ao nosso pensamento, mas é também em si mesmo impossível que qualquer coisa de que constatamos claramente o carácter contraditório seja real. Não há objectos contraditórios neste mundo, ainda que tivessem podido existir num outro.
Passando à crítica feita por More à sua distinção entre «infinito» e «indefinido», Descartes assegura-lhe que não é (12)
uma modéstia afectada, mas uma sábia precaução, em minha opinião, quando afirmo que há certas coisas mais indefinidas do que infinitas; porque apenas concebo Deus como positivamente infinito. Quanto ao resto, como a extensão do mundo, o número das partes divisíveis da matéria e outras coisas semelhantes, confesso ingenuamente que não sei de modo nenhum se elas são absolutamente infinitas ou não; o que sei é que não lhes conheço qualquer fim, e com respeito a isso chamo-lhes indefinidas.
E ainda que o nosso espírito não seja nem a regra das coisas nem a da verdade, ele deve pelo menos sê-la daquilo que afirmamos ou negamos: com efeito, nada de mais absurdo e de mais imprudente do que pretender ajuizar sobre coisas que, conforme reconhecemos, as nossas percepções não poderiam atingir.
Ora surpreende-me que não somente pareceis querer fazê-lo, já que dizeis que se a extensão é somente infinita em relação a nós, ela será verdadeiramente finita, etc., mas que imaginais ainda uma extensão divina que vá além da dos corpos; porque isso é supor que Deus possui partes separadas umas das outras, que é divisível, e que toda a essência dos corpos lhe convém inteiramente.
Descartes tem inteira razão em sublinhar que More de facto não o compreendeu: ele nunca admitira a existência possível ou imaginável de um espaço para além do mundo da extensão, e ainda que o mundo tivesse esses limites que somos incapazes de encontrar, nada haveria certamente para além deles ou, mais exactamente, não haveria para além. Por isso, para dissipar completamente as dúvidas de More, Descartes declara (13):
Mas para suprimir todas as vossas dúvidas, quando digo que a extensão da matéria é indefinida, creio bastar isso para que não imaginemos um lugar para além dela, para onde as pequenas partes dos meus turbilhões pudessem escapar-se; porque onde quer que se conceba esse lugar, há, penso eu, alguma matéria, porque ao dizer que ela é extensa de uma maneira indefinida, digo que ela se estende para além de tudo o que podemos conceber.
Creio, contudo, que há uma grande diferença entre a amplitude [ou a grandeza] desta extensão corporal e a de Deus, a que de maneira nenhuma chamo extensão, porque propriamente falando não há absolutamente nele tal coisa, mas somente [imensidade] de substância ou de essência, por isso chamo a esta simplesmente infinita, e à outra indefinida.
Descartes tem certamente razão em querer manter a distinção entre, por um lado, a infinidade «intensiva» de Deus, que não somente exclui todo o limite, mas que igualmente se opõe a toda a multiplicidade, à divisão, ao número, e por outro lado a simples ausência de fim, a ilimitação do espaço ou da série de números, que necessariamente as inclui ou pressupõe. Além disso, trata-se de uma distinção absolutamente tradicional, que já vimos ser sustentada não somente por Nicolau de Cusa mas também por Bruno.
Henry More não nega esta distinção, pelo menos não a nega completamente. Na sua própria concepção, esta distinção manifesta-se através da oposição entre a extensão material e a extensão divina. No entanto, tal como ele declara na sua segunda carta a Descartes (14), esta oposição nada tem a ver com a afirmação de Descartes de que o espaço poderia ter limites, nem com a sua tentativa de construir um conceito intermédio entre o finito e o infinito. O mundo ou é finito ou infinito, tertium non datur. E se admitirmos, como forçados, que Deus é infinito e está presente em toda a parte, esta «em toda a parte» apenas pode significar o espaço infinito. Neste caso, prossegue More retomando um argumento já utilizado por Bruno, deve igualmente haver matéria em toda a parte, o que significa que não somente mas também o mundo é necessariamente infinito (15).
 |
| Henry More |
Quando dizeis «se ela é somente infinita em relação a nós, ela será realmente finita».
Isso é verdade, e acrescento, além disso, que é uma consequência muito clara e muito certa, porque a partícula somente exclui inteiramente toda a infinidade da coisa, que é dita infinita somente em relação a nós, e por conseguinte será uma extensão realmente finita, o que o meu espírito compreende perfeitamente, já que estou evidentemente certo de que o mundo é ou finito ou infinito, como disse acima.
Quanto à afirmação de Descartes de que a impossibilidade do vácuo resulta do próprio facto de o «nada» não poder ter propriedades nem grandeza, e em consequência não poder ser medido, More responde negando a própria premissa (17):
Porque se Deus aniquilasse o Universo, e criasse um outro a partir do nada muito tempo depois, este intermundo ou esta privação do mundo teria a sua duração, cuja medida seria um certo número de dias, de anos ou de séculos. Há portanto a duração de uma coisa que não existe, duração que é uma espécie de extensão; e por consequência a extensão do nada, isto é, do vácuo, pode ser medida por anas (18) ou por léguas, como a duração do que não existe pode ser medida na sua inexistência por horas, por dias e por meses.
Vimos More defender contra Descartes a infinidade do mundo e chegar a dizer-lhe que a sua própria física o implica necessariamente. Contudo, por momentos, ele próprio parece acometido por dúvidas. Está absolutamente seguro de que o espaço, ou seja, a extensão de Deus, é infinito. Afinal, é isso que quase toda a gente crê; entretanto, a infinidade espacial e a eternidade temporal aperfeiçoam-se rigorosamente e ambas parecem absurdas. Além disso, a cosmologia cartesiana pode ser conciliada com um mundo finito. Não poderia dizer Descartes o que aconteceria se alguém, sentado na extremidade deste mundo, cravasse a sua espada através da parede que o limita? Por um lado, evidentemente, a coisa parece fácil, porque não haveria aí nada que pudesse oferecer resistência, mas por outro lado a coisa parece impossível, porque não haveria lugar em que a espada pudesse ser cravada (19).
A resposta de Descartes a esta segunda carta de More é mais breve, mais seca e menos cordial do que a primeira. Sentimo-lo um pouco desapontado com o seu correspondente, que, manifestamente, não compreende a grande descoberta de Descartes, a da oposição essencial entre o espírito e extensão, e que persiste em atribuir a extensão às almas, aos anjos e até a Deus. Descartes afirma mais uma vez (20):
Se não houvesse mundo, também não haveria tempo.
À afirmação de More de que o intermundium teria uma certa duração, Descartes replica (21):
Creio que implica contradição conceber-se uma duração entre a destruição do primeiro mundo e a criação do novo; porque se referirmos esta duração ou algo de semelhante à sucessão dos pensamentos divinos, isso será um erro do intelecto, não uma verdadeira percepção de qualquer coisa. Respondi já ao seguimento, ao observar que a extensão que se atribui às coisas incorpóreas convém somente à potência e não à substância, sendo essa potência somente um modo na coisa a que ela é aplicada, ao suprimirmos essa coisa extensa à qual ela correspondia não poderíamos compreender que ela fosse extensa.
Isso resultaria, com efeito, na introdução do tempo em Deus e, por conseguinte, em fazer Dele um ser temporal e mutável. Isso acabaria por negar a Sua eternidade, substituindo por ela uma mera sempiternidade, erro tão grave quanto o de fazer Dele uma coisa extensa. Porque em ambos os casos Deus arrisca-se a perder a sua transcendência, tornando-se imanente ao mundo.
É possível, sem dúvida, que o Deus de Descartes não seja o Deus cristão, mas sim um Deus filosófico (22). Nem por isso deixa de ser Deus, e não a alma do mundo, quem o penetra, o anima e o move. É por isso que, de acordo com a tradição medieval, Descartes mantém que a despeito do facto de que em Deus poder e essência se confundem - identidade que, para More, milita em favor da extensão real de de Deus -, Deus nada tem de comum com o mundo material. Ele é um puro espírito infinito, cuja infinidade é ela própria de uma natureza incomparável, única, não quantitativa e não dimensional, infinidade de que a extensão espacial não é uma imagem nem sequer um símbolo. Por conseguinte, não se deve dizer que o mundo é infinito, ainda que não seja necesário, bem entendido, encerrá-lo dentro de limites (23):
Mas repugna às minhas ideias determinar barreiras ao mundo, e a minha percepção é a única regra do que devo afirmar ou negar. É por isso que digo que o mundo é indeterminado, ou indefinido, porque não lhe conheço quaisquer termos, mas não ousarei dizer que ele é infinito, porque concebo que Deus é maior que o mundo, não em razão da sua extensão, que não concebo em Deus como já disse várias vezes, mas em razão da sua perfeição.
Descartes afirma, uma vez mais, que a presença de Deus no mundo não implica a Sua extensão. Quanto ao próprio mundo que, segundo More, ou é finito simpliciter ou infinito simpliciter, Descartes continua a recusar chamar-lhe infinito.
Todavia, seja porque está descontente com More, seja porque está a ser atacado e por isso é menos prudente, o certo é que renuncia praticamente à sua afirmação anterior, relativa à possibilidade de que o mundo tenha limites (ainda que os não possamos encontrar), e que, tal como havia feito com a ideia de vácuo, qualifica este conceito como absurdo e até mesmo contraditório. Rejeitando assim como destituída de sentido a questão relativa à possibilidade de cravar uma espada através da fronteira do mundo, escreve (24):
Repugna ao meu pensamento, ou, o que é o mesmo, implica contradição que o mundo seja finito ou terminado, porque não posso deixar de conceber um espaço para além dos confins do mundo, onde quer que os determine; ora um tal espaço é para mim um verdadeiro corpo. Em nada me embaraça que os outros lhe chamem imaginário, e que por conseguinte creiam o mundo finito, porque sei de que preconceito nasce este erro.
Ao imaginar uma espada que passe para além dos termos do mundo, provais que não concebeis o mundo como finito; porque concebeis como parte real do mundo qualquer lugar que a espada toque, se bem que deis o nome de vácuo à coisa que concebeis.
É raro que um filósofo tenha conseguido persuadir um outros: é inútil dizer que More não ficou convencido. Persistiu em crer do mesmo modo, «com todos os platónicos da antiguidade», que todas as substâncias, os anjos, as almas e Deus são extensos e que o mundo está, no sentido literal do termo, em Deus, exactamente como Deus está no mundo. More enviou então a Descartes uma terceira carta (25), à qual respondeu (26), e depois uma quarta (27), que permaneceu sem resposta (28). Não tentarei analisar aqui este suplemento de correspondência, porque ele trata sobretudo de problemas que, ainda que interessantes em si próprios como o do movimento e do repouso, são exteriores ao nosso tema.
Podemos dizer, em resumo, que vimos Descartes, sob a pressão de More, modificar um pouco a sua posição inicial. Daqui em diante, afirmar o carácter indefinido do mundo ou do espaço não significa, negativamente, que o mundo talvez possua limites que nós somos incapazes de determinar, mas equivale a declarar, de modo realmente positivo, que eles não existem porque seria contraditório admitir a sua existência. Mas ele não pode ir mais longe. É-lhe necessário manter a sua distinção entre a infinidade de Deus e a indefinibilidade do mundo, bem como a sua identificação extensão-matéria, se quer preservar a sua afirmação de que o mundo físico é objecto de pura intelecção e, ao mesmo tempo, objecto de imaginação - condição prévia da ciência cartesiana -, e de que o mundo, ainda que não possuindo limites, nos reenvia a Deus como seu criador e sua causa.
A infinidade, com efeito, sempre foi a característica ou o atributo essencial de Deus, sobretudo a partir de Duns Escoto, que apenas pôde aceitar a famosa prova a priori da existência de Deus de Santo Anselmo (prova renovada por Descartes) depois de a ter «colorido», substituindo o conceito de ser infinito (ens infinitum) ao conceito anselmiano de um ser tal que não pudéssemos conceber um maior (ens quo maius cogitari nequit). Portanto - e isto é particularmente verdadeiro quanto a Descartes, cujo Deus existe em virtude de infinita «sobreabundância da Sua essência», que lhe permite ser a Sua própria causa (causa sui) e dar-Se a Si mesmo a Sua própria existência (29) -, infinidade significa ou implica o ser, e até mesmo o ser necessário. Por isso, ela não pode ser atribuída à criatura. A distinção ou a oposição entre Deus e a criatura é paralela e perfeitamente equivalente à que existe entre o ser infinito e o ser finito (ibidem, pp. 118-125).
Notas:
(12) Correspondance..., p. 121; A.-T., p. 274.
(13) Ibid., p. 123; A.-T., p. 275.
(14) Deuxième lettre de H. More à Descartes, 5, III, 1649; Correspondance..., p. 131; A.-T., pp. 298 e segs.
(15) Correspondance..., p. 137; A.-T., pp. 304 e segs.
(16) Correspondance..., p. 137; A.-T., p. 305.
(17) Ibid., p. 135; A.-T., p. 303. A argumentação de More contra Descartes é uma reedição da de Plotino contra Aristóteles.
(18) Ana - antiga vara francesa equivalente a 1, 188m. (N. do T.).
(19) Ibid., p. 312; cf. supra, cap. II, p. 37.
(20) Correspondance..., p. 159; A.-T., p. 342.
(21) Correspondance..., p. 161; A.-T., p. 343.
(22) Essa foi, em todo o caso, a opinião de Pascal. Mas, apesar de tudo, o que pode ser o Deus de um filósofo senão um Deus filósofo?
(24) Ibid., A.-T., p. 345.
(25) Datada de 23 de Julho de 1649 (Oeuvres, vol. V, pp. 376 e segs.).
(26) Pelo menos, começou a escrever uma resposta - em Agosto de 1649 -, mas não a enviou a Henry More.
(27) Datada de 21 de Outubro de 1649, vol. V, pp. 434 e segs.
(28) É, na realidade, possível que, tendo-se apresentado a 1 de Setembro de 1649 na Suécia, onde morreu a 11 de Fevereiro de 1650, Descartes não tenha recebido esta última carta de Henry More.
(29) Cf. o meu Essai sur les preuves de l'existence de Dieu chez Descartes, Paris, 1923, e «Descartes after three hundred years», The University of Buffalo Studies, vol, XIX, 1951.












.jpg)



.jpg)