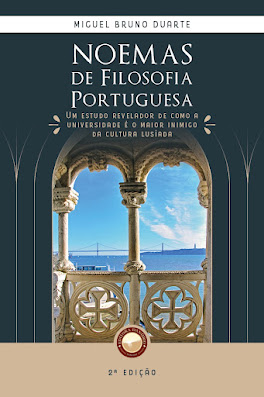«Quando (...) o Infante expirou em Sagres os portugueses conheciam já, e exploravam comercialmente, toda a costa africana até à Serra Leoa. Quarenta anos mais tarde estavam já na Índia e no Brasil, para doze anos depois atingirem a China e as Molucas. No curto intervalo de três gerações quadruplicara a área do Globo conhecida do Ocidente europeu.
Teria o Infante uma noção clara dos horizontes que para a História Universal ia rasgar o movimento que iniciou?
(...) É que sejam quais forem os objectivos que tenha pretendido alcançar, não há dúvidas que a sua actuação foi decisiva no momento crucial: a passagem do Cabo Bojador e os primeiros passos no desconhecido. É verdade que outros antes dele haviam tentado, igualmente, ultrapassar aquele tradicional limite das águas navegáveis. Em 1291, dois italianos, os irmãos Vivaldi, haviam tentado circum-navegar a África em duas galés; em 1346 fora a vez de um catalão, Jaime Ferrer; mas todos haviam fracassado. As causas do seu insucesso são claras: partiam de portos mediterrâneos, distantes e mal colocados para base de explorações no Atlântico; sobretudo usavam galés, navios de baixo bordo, impróprios para arrostar com a braveza do Oceano, e para mais a remos, inadequados para viagens longas. Portugal estava, sem dúvida, mais bem situado para expedições nesse sentido. Sito na faixa mediterrânica mas virado para o Atlântico herdara, ao mesmo tempo, as técnicas de navegação do Mediterrânico - baseadas no uso da bússola e da carta de marear, ainda desconhecidas do Mar do Norte - e as técnicas de construção naval das costas atlânticas, em que a agitação do mar exigia que os navios fossem sólidos e resistentes. Sito, para mais, na confluência de duas civilizações - a muçulmana e a cristã - dispunha do legado cultural de uma e outra: e a dos árabes era bem rica em matéria de astronomia.
Só com os descobrimentos a política portuguesa se orientará decididamente para Sul - acabando por transformar Portugal num grande intermediário entre a Europa e o resto do Mundo.
É nos preparativos da conquista de Ceuta que D. Henrique nos aparece, pela primeira vez, ligado à empresa ultramarina: El-Rei seu pai confia-lhe em 1411 o levantamento de tropas no Norte e o comando da armada que se formou no Porto.
 |
| Montante do Infante D. Henrique |
Conquistada Ceuta em 1415, D. Henrique permanece-lhe ligado, e assim virado para Além-Mar, pois D. João I confia-lhe a organização dos provimentos da praça recém-tomada. Em 1418 defende-a do primeiro grande cerco que os mouros lhe vêm pôr.
É por essa época que, tanto D. Henrique como seu irmão D. Pedro, constituem armadas particulares, para a guerra de corso no estreito de Gibraltar. Era uma actividade que, além de lucrativa, era abençoada pela Igreja como uma forma de enfraquecer o poderio naval dos infiéis e assegurar a respiração comercial da cristandade, ainda ao tempo mais ou menos prisioneira do «abraço de ferro do Islão». Foi, com toda a verosimilhança, dessa armada que saíram os primeiros navios e os primeiros marinheiros para a aventura dos descobrimentos.
É possível, até, que tenham sido as dificuldades experimentadas na guerra frontal aos mouros de Marrocos, que tenham sugerido ao Infante a ideia de fazer expedições marítimas para o Sul, e tentar assim uma manobra de diversão e envolvimento. É Zurara quem o sugere no célebre capítulo VI da Crónica da Guiné, em que esquematizou em cinco razões os motivos que levaram ao seu amo a mandar passar o Bojador.
A primeira razão que o moveu foi, segundo Zurara, a curiosidade geográfica: saber ao certo o que havia para além daquele Cabo que até ali ninguém ousara ultrapassar. A segunda, foi uma razão comercial: procurar populações não muçulmanas com quem pudesse estabelecer comércio, já que com os mouros o proibiam os cânones da Igreja - diga-se em abono da verdade nem sempre respeitados. A terceira, de ordem estratégica, liga-se à sua política marroquina: tomar o pulso ao poderio muçulmano, vendo até que ponto, para Sul, se estendia a sua esfera de influência. A quarta, de ordem militar, liga-se mais directamente a tal política: procurar, para com ele fazer uma aliança contra os infiéis, um príncipe cristão que se sabia reinar no interior da África. Trata-se, evidentemente, do famoso Preste João, figura semi-mitológica nascida das vagas notícias chegadas à Europa acerca dos príncipes mongóis cristãos da Etiópia, de que a Europa tomara conhecimento no Próximo Oriente, na época das Cruzadas. A quinta razão, finalmente, é de ordem religiosa: levar a fé cristã aos pagãos que se supunha existirem para lá dos territórios dominados pelos muçulmanos.
As tentativas de passar o Bojador iniciam-se - a aceitarmos os dados de Zurara - em 1422. Em 1419 alguns homens do Infante, no regresso do cerco de Ceuta, haviam iniciado o povoamento do arquipélago da Madeira; mas a Madeira era já conhecida, e provavelmente visitada pelos portugueses desde o século anterior, de modo que o seu povoamento não constitui ainda uma novidade notável.
A grande novidade é, de facto, a passagem do Bojador por Gil Eanes, em 1434, após doze anos de tentativas falhadas. Fica aberto aos portugueses o caminho do Sul, que em breve lhes abrirá as portas do Continente Negro e em seguida, as do Oriente. À expedição de Gil Eanes duas outras se seguem, imediatamente, que levam os homens do Infante até ao rio do Ouro.
Mas em 1436, os projectos da conquista marroquina levam D. Henrique a desviar de novo as atenções do litoral africano. É, com efeito, ele quem em pessoa comanda, no ano imediato, a malograda expedição contra Tânger. O desgosto e o sentimento de culpa que o desastre lhe causa, levam-no a afastar-se da Corte e a estabelecer-se no Algarve. Mas a morte de D. Duarte, em 1439, e toda a questão que se levanta acerca da regência trazem-no de novo à Corte. Superada a crise política pela entrega do governo ao Infante D. Pedro, D. Henrique regressa ao Algarve para prosseguir os seus descobrimentos. Aliás, o próprio D. Pedro, desfavorável às conquistas marroquinas (que desagradavam às classes populares, a quem devia o poder, e teriam posto em perigo a vida de D. Fernando, preso em Fez como refém) estimula o irmão a dedicar-se preferentemente a explorações marítimas e à colonização das ilhas. Mas um novo obstáculo se segue ao prosseguimento das viagens para Sul. A partir do rio do Ouro entra-se na zona constantemente batida ao longo do ano pelos ventos alíseos de Nordeste. Se a viagem de ida é fácil, a de regresso, contra o vento, torna-se praticamente impossível. A dificuldade é vencida com a criação de um novo tipo de navio: a caravela, dotada de velas latinas, e portanto capaz de bolinar, isto é, de avançar contra o vento. O período que vai de 1441 a 1446 é o mais espectacular da história dos descobrimentos henriquinos: nesse curto lapso de cinco anos os navios do Infante exploram todo o litoral sahariano, e em viagens sucessivas, atingem a terra dos negros e chegam ao rio Casamansa.
Foi provavelmente por esta época que os mareantes portugueses começaram a fazer observações empíricas da altura da Estrela Polar, como elemento de correcção da estima do caminho percorrido no mar. Mas só a pouco e pouco esses processos se vão tornando científicos. É verdade que se deve a D. Henrique, como protector e administrador da universidade portuguesa, a criação das primeiras cátedras de astronomia e matemática; mas também é verdade que a ciência náutica portuguesa se desenvolve, preferentemente, em círculos directamente ligados à navegação, para só muito mais tarde, com Pedro Nunes, receber na universidade direito de cidade.
A partir de 1446 o ritmo do avanço para Sul afrouxa. Chegara-se a terras povoadas, o comércio tornava-se rendoso. A empresa ultramarina começa a interessar os particulares: primeiro, pequenos nobres da casa do Infante, depois burgueses de Lisboa e até italianos, começam a interessar-se pelo trato da Guiné. Muitas expedições ficam-se pelas terras já conhecidas, onde o lucro é certo, em vez de se aventurarem no desconhecido. A distância e a dificuldade de abastecimentos tornam trabalhosas as viagens. O próprio Infante se distrai um momento da empresa africana, para tomar parte com Afonso V, seu sobrinho, numa última aventura marroquina, a conquista de Alcácer Ceguer. Por tudo isto, o avanço torna-se mais lento; mas não chega a parar: ano após ano vão-se descobrindo novas léguas de costa até à Serra Leoa. Por aí andavam os seus navios, sob o comando de Pero de Sintra, quando nos finais de 1460 o Infante expirou, na sua vila em Sagres.
O sinal seguro de que esse fulgurante avanço para Sul em muito se deveu ao seu esforço e persistência está no que sucedeu após a sua morte: continuaram as expedições comerciais às terras conhecidas, mas ninguém se aventurou durante nove anos a continuar a exploração da costa. Só em 1469 - quando D. Afonso V fez contrato com um certo Fernão Gomes, armador de Lisboa, para em troca do exclusivo do comércio da Guiné descobrir anualmente cem léguas para diante - os descobrimentos recomeçaram. D. Henrique e os seus navegadores haviam, com efeito, não só aberto o caminho físico para a circum-navegação da África, como também lançado as bases para que com os descobrimentos se auto-financiassem e pudessem seguir em frente.
E assim começou, na História da Humanidade, uma nova era».
«Homens que transformaram o mundo» (Coordenação de Roland Göök, Círculo de Leitores, 1978).
«Incidências aristotélicas são patentes na Crónica de D. Pedro I e na Crónica de D. Fernando, de Fernão Lopes, cuja teoria do conhecimento é aristotélico-platonizante, e cuja prática hermenêutica manifesta, na sua obra de historiador, o realismo peculiar à lógica de Aristóteles. O aristotelismo político aparece no Livro Velho, do conde D. Pedro de Barcelos, na obra de Gomes Eanes de Azurara, e nas de outros escritores da mesma época. D. Duarte, que tinha Aristóteles na sua livraria, cita-o algumas vezes; o infante D. Pedro, no Da Virtuosa Benfeitoria, mostra influência aristotélica mais ampla, citando, já os livros lógicos, já os de ciências naturais, enquanto D. Duarte preferiu os lógicos, os éticos e os políticos. A presença de mestres franciscanos, como Fr. João Verba, junto destes autores, leva-nos a considerar a sua influência neles e, também, o valor que as escolas franciscanas dariam, nesse tempo, ao pensamento de Aristóteles. Da mesma geração é o infante D. Henrique, o qual, sem ter deixado trabalho escrito, estava ciente do valor medianeiro do realismo aristotélico, quanto a uma teoria das causas, sendo muito significativo que tivesse mandado reservar uma sala do Estudo Geral de Lisboa, para aí ser pintado o retrato de Aristóteles».
Pinharanda Gomes («Dicionário de Filosofia Portuguesa»).
 |
Cruz da Ordem de Avis |
 |
| Viseu |
«Os navegadores portugueses descobriram o caminho marítimo para a Índia, fazendo o percurso pelo cabo da Boa Esperança, em 1498. Em face dos documentos coevos, pode assentar-se que era triplo o objectivo que levara os Portugueses ao Oriente - comercial, político e religioso, este estreitamente ligado ao fim político. Desviou-se deste modo o comércio do Oriente com a Europa, feito por Suez e pelo Mediterrâneo, e traçou-se-lhe uma nova rota pelo Atlântico, fazendo de Lisboa um empório comercial. O facto traria a decadência às repúblicas italianas e diminuiria o poderio turco. Por outro lado, enfraquecer o poderio turco, tornando insegura a retaguarda no mar Vermelho e no Índico, e aliviar assim a pressão exercida na Europa, consideraram-no os Portugueses da época mais eficaz que a resistência frontal que foi durante muitos anos a estratégia das potências do Ocidente. Por último, "fazer cristandade", missionar os povos, levar-lhes a mensagem de Cristo era como um imperativo da Nação portuguesa, fielmente traduzido nas ordens emanadas dos Reis. Quando se lêem, por exemplo, as cartas de Afonso de Albuquerque (1507-1515) e de D. João de Castro (1538-1548), mais vivas por sua natureza que os depoimentos dos historiadores, é-se empolgado pela largueza das concepções políticas, pela audácia e ao mesmo tempo realismo dos planos e por essa ânsia de levar a todo o Oriente a fé, a cultura, a alma ocidental. O empreendimento revela-se, no fundo, mais idealista que utilitário: o monopólio comercial não era, enquanto pudesse manter-se, senão a fonte indispensável dos recursos para fazer face às duas outras finalidades.
A conquista de novas terras, a sujeição de novas gentes não estavam nos desígnios dos Portugueses. Decerto a questão foi levada mais de uma vez aos conselhos da Coroa, e aí se debateram modos de ver divergentes; mas a linha geral da política da Índia não sofreu variação de vulto a este respeito. Compreende-se que, para os fins indicados, não houvesse necessidade de mais que de ocupar em terra alguns pontos estratégicos para apoio das armadas que vigiavam os mares e garantiam a segurança das novas rotas do comércio, como se compreende também que essa base territorial se obtivesse geralmente por cedência dos pequenos reinos locais em troca de serviços prestados.
Na dispersão das soberanias de tipo feudal que dividiam entre si e em cacho o Indostão, eram constantes as rivalidades e lutas entre os pequenos reinos, as disputas familiares pela sucessão do poder. Precisamente em Goa, o Português foi o aliado do Hindu contra o Mouro, cujo domínio e abusos de autoridade pesavam na vida das populações, ansiosas por libertar-se do jugo daquele. Nos tratados negociados com os soberanos locais, Portugal contentava-se com a licença de erguer fortaleza e com a porção de território necessária à sua defesa; o reconhecimento, à moda do tempo, da soberania do Rei de Portugal, mediante o pagamento de um tributo simbólico, e a liberdade de pregação da fé dos missionários. Em troca, a amizade do Rei de Portugal, ou seja, a segurança dos mares e dos portos e a liberdade de comércio, garantidas pelas suas esquadras. Não havia imposições quanto à vida e às instituições locais: estas eram as existentes, sujeitas à sua evolução natural, influenciadas, como é bom de ver, pela presença do Ocidente, cristão e socialmente mais avançado, naquelas paragens.
Oliveira Salazar («Portugal, Goa e a União Indiana»).
«(...) Destruir Meca afigura-se muito fácil a Albuquerque, nem se precisaria de muita gente para o fazer. O xerife não era poderoso e em Meca não havia guerreiros, mas devotos apenas que... "todos sam de contas na mão e de unhas alfenadas...".
(...) Não se esquecia de que a Abissínia possuía o curso superior do Nilo. Disso se podia tirar vitória certa sobre o Egipto. "Se el Rei nosso senhor daa maneira d'oficiaes, esses que cortam as aguoas pellas serras da Ilha de Madeira, que lancem ho crecimento do Nillo per outro cabo, que nom vá reguar as terras do Cairo, em dous anos he desfeito o Cairo, e a terra toda perdida".
Um golpe no Islão, como aquele que Albuquerque pretendia vibrar-lhe, seria a libertação da Cristandade do espectro que durante sete séculos a oprimia. Para compreender todo o alcance deste facto precisamos de vê-lo através dos olhos daqueles que viveram há quatrocentos anos, quando a tomada de Constantinopla pelos Turcos estava ainda bem viva na memória. Os assustadiços do nosso tempo têm falado no perigo amarelo, mas a ameaça muçulmana à Europa daquele tempo não era papão imaginário. Era realidade palpitante e medonha. Exercendo pressão nos confins da Cristandade através de toda a Idade Média, lá estavam as terríveis cimitarras, brandidas por mouros árabes, ou turcos - raça estranha, fé estranha e civilização estranha - sempre à espera de esmagar e absorver. Quantas vezes não tinham eles já, de facto, passado como o furacão e quantas não tremera a balança do destino do mundo ocidental? Basta ler a História para nos lembrarmos. O ímpeto da maré tinha sido detido, mas ainda não tinha virado. O grande império cristão a construir no Oriente - Portugal apoiado no Preste João - vibraria um golpe mortal no flanco do inimigo e alcançaria a vitória final para a Cruz. Não é de estranhar que os (...) portugueses se julgassem instrumentos dos desígnios de Deus.
Numa noite escura, no Mar Vermelho, quando a armada ancorada fora do porto, esperava pela brisa, surgiu no céu uma cruz luminosa, que brilhou sobre a terra do Preste João. Viu-se, nitidamente, de cada uma das naus, e todos caíram de joelhos. "Eu tomey daquy que a Nosso Senhor aprazia fazermos aquele caminho, e que nos mostrava aquele synall pera aquela parte" - escreveu Albuquerque -, "per onde s'avia por mais servido de nos". Mas, não obstante, não se levantou vento que levasse a armada a Maçuá.
As funções de governador da Índia obrigavam Albuquerque a regressar lá depois da monção. A armada de Portugal chegava à Índia entre Agosto e Outubro, e era preciso receber o correio e dar-lhe resposta, despachar a armada do reino e tratar de mil outros assuntos. A insuficiência de tempo para realizar todos os serviços que tinha às costas peava Albuquerque tão seriamente como a falta de outras coisas mais materiais. Em 1513, regressou do Mar Vermelho à Índia, em Setembro, inteiramente resolvido a voltar de novo logo no princípio do ano seguinte. "Em janeiro me convém partir para o Streito" - escrevia ele ao rei -, "se nele ouver de fazer fruyto". Mas verificou que as naus estavam absolutamente incapazes de navegar tão cedo - tinham todos os costados de madeira empenados e crestados e cheios de fendas abertas pelo Sol escaldante do Mar Vermelho. Por grande felicidade, todas, menos uma, sobreviveram à viagem de regresso, mas nenhuma delas poderia fazer-se de novo ao mar sem uma completa reparação. O tal forte de Maçuá, de que tanto se esperava, não podia ser construído por enquanto.
Este projecto passou a ser a ideia fixa de Albuquerque durante os dois últimos anos da sua vida. Pensou nele durante todo o ano de 1514, na Índia, enquanto se entregava ao jogo complicado da política indiana. E quando, em 1515, um conjunto de circunstâncias o obrigou a construir uma fortaleza em Ormuz, em vez de seguir para o Mar Vermelho, apenas adiava para o ano seguinte o caso do Preste João e de Maçuá.
"Nom temos já outra pemdemça na India, senam a do mar Roxo e Adem..." - escrevia ele de Ormuz ao rei em 23 de Setembro -, e "prazerá a nosso Senhor" - diz ele noutra página da mesma carta - se fizermos asemto em Meçua, porto do Preste Joham". A essa data, Albuquerque devia já ter compreendido que ele próprio tinha poucas probabilidades de o fazer; todavia, quando, no dia 8 de Novembro, partiu, gravemente doente, do Golfo Pérsico para a Índia, parece que se agarrava ainda a esta ideia: Disse-me, escreve o capitão de guarnição de Ormuz, que no primeiro de Janeiro "lhe mandasse parte da gente e naaos pera entrar o estreito..." Se conseguisse quaisquer melhoras, é claro que não tencionava gastar tempo na convalescença, mas arrastar-se de qualquer forma até Maçuá e construir a tal fortaleza!
 |
| O Marte Português |
Parece-nos, certamente, coisa fantástica, mas Albuquerque não tinha nada de visionário aéreo. Em todas as ocasiões manifestou uma firme compreensão das coisas concretas e um sentimento apurado da realidade. Tudo quanto se propunha fazer, fazia-o e muitas das coisas que realizou pareciam impossíveis. Em vão especularemos sobre se este seu último plano era realizável, porque o homem que tinha o génio de o poder levar a cabo morreu, no auge da glória, e a visão deslumbrante desvaneceu-se, quando a luz dos seus olhos se apagou».
Elaine Sanceau («Em Demanda do Preste João»).
Os Descobrimentos Henriquinos
Desde o meado do XII século que se propagara na Europa a notícia da existência de um império cristão no Extremo Oriente. O núncio da Igreja da Arménia falara ao Papa (Eugénio II) em um príncipe, chamado João, cujos domínios estavam situados para além da Arménia e da Pérsia, e que reunia ao Império o sacerdócio: era um Papa do Extremo Oriente, e fizera numerosas conquistas, o Preste-Joham (1). Esta lenda, espalhada na Europa, excitava tanto mais a pia curiosidade dos cristãos, quanto essas distantes regiões se pintavam como paraísos carregados de ouro e encantos.
Durante a Idade Média, vogavam também extravagantes lendas acerca do Atlântico (2). As tradições obliteradas pela ignorância davam caracteres fantásticos às antigas viagens dos cartagineses ao longo das costas de África e às ilhas do mar atlântico (3). Esse infinito de águas, onde mergulhavam todas as costas conhecidas, povoava-se de monstros e sombras extravagantes: era o Mar Tenebroso! Os homens do norte, que nas suas barcas tinham descido desde os mares gelados do pólo a piratear nas costas da França, foram caindo para o sul; e já no XV século tinham chegado às Canárias (4), já comerciavam ao longo da costa africana, para cima do cabo Bojador, onde também, por terra, chegavam os berberes de Marrocos (5).
 |
O Oceano Atlântico, dividido em Norte e Sul pela linha do Equador |
 |
| As quatro viagens de Cristovão Colombo |
Além destas tentações marítimas, havia a ambição do Oriente e do seu comércio, acendida em toda a Europa pelas Cruzadas; e mais particularmente na Espanha, pelo contacto íntimo em que a ocupação árabe a pusera com os monopolizadores desse comércio, durante a Idade Média. Hormuz (6) [Ormuz] era o empório mercantil de todos os mercados do Oceano Índico. Daí as carregações se dirigiam para a Europa e para a Ásia do Norte, seguindo derrotas diversas. As da Ásia iam em cáfilas, caminho da Arménia, por Trebizonda, engolfar-se na Tartária; as da Europa, ou vinham por mar a Suez, e daí em caravanas, pelo Cairo, a Alexandria, ou seguiam por terra o vale do Eufrates a Bagdad, passando em Damasco, no seu caminho de Beirute, sobre o Mediterrâneo.
Tinha, porém, no começo do XV século, a empresa encetada com tamanho vigor e tino pelo infante D. Henrique, o pensamento determinado de chegar por mar - como veio a chegar-se - ao império do Preste-João das Índias? Parece-nos que não. Devassar o mar tenebroso em demanda das ilhas de que havia uma notícia mais ou menos vaga, reconhecer e ir ocupando gradualmente a costa ocidental da África - parecem ter sido empresas ainda não ligadas nesse tempo com a da viagem aos reinos do Preste-João. Esta viagem, contudo, não ocupava menos o espírito do príncipe, que pensava levá-la a cabo por caminho diferente: por terra. A conquista de Ceuta prende-se directa e principalmente a este pensamento. Arquitectos árabes da Espanha tinham ido pelo interior da África até Tombuctu, cujos palácios rivalizavam com os de Córdova ou de Granada. Ceuta era a chave marítima do império de Marrocos; e, porventura, através da África se poderia chegar ao dourado Oriente. Em todo o caso a terra oferecia um campo de exploração mais definido do que esse mar incógnito, infinito, cheio de trevas.
No ambicioso espírito do infante, cabiam as duas empresas: conquistar o império marroquino, ou pelo menos o seu litoral, para garantir o monopólio do comércio do Sudão (7); e ao mesmo tempo conquistar às trevas as ilhas desse mar desconhecido, seguindo também o longo das costas ocidentais para as visitar e explorar. Tenaz e até duro de carácter, D. Henrique sacrifica tudo aos progressos da sua empresa; nem o dobram as lágrimas do irmão infeliz sacrificado em Tânger (8), nem as súplicas do outro irmão, o nobre D. Pedro, talvez por sua culpa morto em Alfarrobeira. Às conquistas da África imola os dois príncipes; às navegações os seus ócios, as rendas da Ordem de Cristo, e as vidas obscuras dos muitos que morreram ao longo das costas, ou na vasta amplidão dos mares terríveis. Dominado por um grande pensamento, é desumano, como quase todos os grandes homens; mas, no limitado número dos nomes célebres, o de D. Henrique está ao lado do primeiro Afonso e de D. João II. Um fundou o reino, outro fundou o império efémero do Oriente; entre ambos, D. Henrique foi o Herói pertinaz e duro, a cuja força Portugal deveu a honra de preceder as nações da Europa na obra do reconhecimento e vassalagem de todo o globo.
 |
| Batalha de Aljubarrota (14 de Agosto de 1385). Ver aqui |
 |
| D. João I de Portugal |
 |
Bandeira de D. João I com a sua divisa: «Pour bien». |
| Casamento de D. João I com D. Filipa de Lencastre. |
Os planos de D. Henrique mereciam a plena aprovação do rei, que lhe dava ampla liberdade para prosseguir; e até o incitaria, se o infante carecesse de estímulo. Já no próprio ano de Ceuta, D. Henrique fizera uma primeira tentativa, enviando uma frota a sondar e reconhecer a costa da África (9).
Terminada a empresa de Ceuta, pôs decididamente mãos à obra, e estabeleceu-se em Sagres. Era uma língua de rocha cravada nas ondas e acoitada pelas ventanias do noroeste. Estava-se ali como a bordo; e a academia do Infante parecia uma nau, em que vogaram os destinos ainda ignotos da nação. Os antigos tinham chamado sacrum, sagrado, a esse promontório, e o nome de agora também traduzia, no pensamento e na linguagem, a passada denominação. Sagres ia ser no XV século, como fora nos velhos tempos, o pedestal de um templo. Acreditavam os antigos celtas, do Guadiana espalhados até à costa (10), que no templo circular do promontório sacro se reuniam às noites os deuses, em misteriosas conversas com esse mar cheio de enganos e tentações, aberto ao capricho dos homens para os tragar. Agora, os modernos herdeiros dos druidas erguiam em Sagres um novo templo, onde também às noites, não deuses, mas homens se entretinham em falas com os ignotos mares, com as regiões desconhecidas. O espírito era o mesmo, a religião era outra: - era a da Renascença - a ciência, a tentação irresistível que arrastava os homens para a natureza que os fazia extenuarem-se a desflorar a virgindade dos mares, a interrogar a mudez das noites, na sua ânsia de saber, de dominar, de conhecer o mundo inteiro e os seus segredos: «quantas vezes estive metido debaixo das bravas ondas, por saber o fundo das barras e para que parte endereçavam os canais!».
 |
| Fortaleza de Sagres |
 |
| Rosa-dos-Ventos (Fortaleza de Sagres). |
 |
| O Infante de Sagres (quadro de Malhoa). |
 |
| Brasão de Armas do Infante D. Henrique |
Essa paixão naturalista da Renascença nos seus primeiros tempos, essa tenaz curiosidade científica, diferia essencialmente do misticismo religioso da Idade Média, eivado de fantasias cabalísticas, e da ingenuidade das mitogenias primitivas. O homem já preferia a ciência da imaginação: rejeitava fábulas, e confiava tudo aos processos e aos meios positivos. «Ora manifesto é, diz, um século, depois, Pedro Nunes, que estes descobrimentos de costas, ilhas e terras firmes não se fizeram indo a acertar; mas partiam os nossos mareantes mui ensinados e providos de instrumentos e regras de astrologia e geografia, que são as coisas de que os cosmógrafos hão-de andar apercebidos. Levavam cartas mui particularmente rumadas, e não já as que os antigos usavam, que não tinham mais figurados que doze ventos, e navegavam sem agulha». A bússola, o astrolábio e o quadrante já guiavam as expedições marítimas enviadas anualmente de Sagres pelo infante, a sondar o Oceano, ou a descer a costa para o Sul. Porto Santo, a Madeira e os Açores foram por esta forma arrancados às trevas do mar. (12). Mas, apesar das sucessivas investidas, não se conseguira ainda dobrar o cabo Bojador, limite extremo até onde a costa era conhecida: havia doze anos que os navios iam e voltavam sem resultado. Era uma barreira natural, junta a um muro de terrores fantásticos.
Gil Eanes parte, afinal, em 1434, e volta com a desejada nova. O mundo não acabava ali, sabia-se já; mas seria possível ir além desse finis terrae, da África? Gil Eanes voltou para responder afirmativamente. Dissiparam-se, portanto, os sustos; e os navios foram seguindo, costa abaixo, por Cabo Verde, a Guiné, onde, cheios de satisfação, os mareantes aprisionam os primeiros negros - os azenegues do Senegal (13).
 |
| Estátua de Gil Eanes na sua cidade natal: Lagos. |
Era um antegosto das horrorosas façanhas a que as tentações do mar os haviam de conduzir; mas as perdas de gente e dinheiro, já sensíveis, o dilatado das viagens, as consequências fecundas, esfriavam nos ânimos o entusiasmo do princípio. Não acabava, jamais, a costa de África! E o Preste-João e os encantos do Oriente traduziam-se apenas pela malagueta da Guiné (14).
O infante morreu em 1460, e com a sua morte parou o movimento das navegações. A empresa, primeiro esboçada, parecia colossal de mais para as forças da nação: não podiam eles vencer de todo, nem o Mar, nem Marrocos; e o que se tinha conseguido, perante os resultados práticos, desanimava e fazia sentir cansaço.
Antes de nos alongarmos na história dessa empresa, cabe-nos o dever de registar brevemente a da formação das forças navais portuguesas, indispensáveis para o empreendimento das viagens de descoberta e das expedições militares à costa da Berbéria.
Pode dizer-se que, até ao fim do XII século, não há marinha na Espanha ocidental. As lutas da reconquista, então feridas, eram-no por terra exclusivamente; e a imperícia marítima dos cristãos, junta aos relativos progressos dos árabes, concorriam para tornar difícil a conservação das praças litorais conquistadas. Os primeiros dispunham apenas de pequenas lanchas costeiras, enquanto os segundos tinham navios regularmente armados e equipados, com que percorriam toda a costa ocidental, refrescando nos seus portos, abastecendo-os de munições e gente quando estavam cercados, e desembarcando amiúde, com o fim de talar os campos dos cristãos e cativar os tardívagos ou indefesos. Já, porém no XI século o bispo de Compostela tinha mandado vir de Génova pilotos, sob cuja inspecção construiu duas galés que foram às costas de Al-Gharb sarraceno pagar em moeda igual antigas e grossas dívidas. Os genoveses foram os nossos mestres na arte de navegar.
Mas desde o meado do XII século o exame das armadas de Cruzados, com cujo auxílio Lisboa e depois Alcácer foram tomadas, tinha vindo acrescentar os conhecimentos; demonstrando ao mesmo tempo que, sem o império no mar, jamais poderia levar-se a cabo a conquista do sul do reino. À empresa de Silves, no tempo de Sancho I, vão já navios portugueses; e o que escrevemos sobre o carácter mais regular e sistemático da política e das campanhas desse reinado leva-nos a crer que daí deve datar-se a fundação da marinha militar portuguesa. Com efeito, essa marinha existe nos reinados de Sancho II e de Afonso III, como o provam as expedições marítimas que terminaram pela conquista definitiva do Algarve, e as façanhas do lendário Fuas Roupinho (15). Havia então já um corpo de tropas especiais de embarque.
 |
| Cerco de Lisboa por Roque Gameiro (1 de Julho a 25 de Outubro de 1147), com a vitória decisiva dos Portugueses e dos Cruzados. |
Que eram esses navios, porém? O leitor decerto viu alguma vez, de tarde, ao cair do sol, o recolher dos barcos, voltando do mar, nas praias de Ovar ou da Póvoa de Varzim. Viu a construção e os tipos desses navios primitivos, e as pitorescas fisionomias dos seus tripulantes: eis aí uma esquadra do XIII século (16). Vê-la-á, real e verdadeiramente, se, com a imaginação, substituir por armas os utensílios da pesca. E quando os barcos, encalhados na areia húmida, descarregarem - hoje o peixe, então as presas, os mantimentos e a gente - homens e mulheres fincadas as mãos sobre os joelhos, curvados, com o dorso contra o costado do barco, em linha ao longo dele, impelem-no, manobrando ao som de um canto rítmico, para o fazer rolar sobre os toros até ficar seco, distante dos perigos das ondas. Essa cena repetia-se para pôr enxuto, e para pôr a nado as embarcações; e Sancho II realizou um progresso, ainda hoje desconhecido nas nossas praias de pescadores: mandou construir debadoiras (cabrestantes) para encalhar, tirados por cabos, os navios. No tempo de Afonso III já o poder marítimo português é de tal ordem, que os nossos navios vão em socorro a Castela, e o Papa nos convida a acompanhar as gentes do Norte à Cruzada.
O reinado de D. Dinis marca uma segunda era na história da marinha nacional. Reciprocamente indispensáveis a marinha mercante e a militar, os cuidados do rei administrador dirigem-se principalmente a fomentar a primeira, cuja importância o tratado de comércio, feito em 1308 com a Inglaterra, acusa. Além disto o rei aplica-se a melhorar o Porto de Paredes, na costa ao norte do cabo da Roca, defendendo-o contra as dunas, que, apesar de tudo, o invadem e destroem. Com este mesmo pensamento mandaria semear o pinhal de Leiria. Também no seu tempo, por morte do conde do mar, Nuno Cogominho, em cuja família esse cargo andara, vem tomar o almirantado da armada portuguesa o genovês Pezzagna. Nacionalizada, a família dos Peçanhas tem por largos tempos o condado do mar, ou almirantado, como já, à moda árabe, se dizia então.
Os progressos realizados no XIV século preparam os recursos poderosos, com que, no seguinte, o infante D. Henrique pode levar de frente as duas empresas a que votara a sua existência. D. Fernando, o amavioso e infeliz rei, merece nesta história uma menção condigna. Apesar das quimeras da sua política tornarem em derrotas as suas empresas, a sabedoria e o alcance económico da sua legislação dão-lhe o direito de preeminência na história da formação do poder naval dos portugueses. Já então a alfândega de Lisboa rendia, por ano, de 35 a 40 mil dobras (17): o que demonstra o progresso comercial do reino e comprova a opinião expressa do livro anterior, da deslocação do centro de gravidade nacional do norte para o sul, e da nova fisionomia adquirida depois do antigo caso da separação do condado português do corpo da monarquia leonesa.
O rei que pretendia, com justiça, impedir aos proprietários a detenção improdutiva das terras, obrigando-os a lavrá-las ou a dá-las a quem por eles o fizesse, era o mesmo que, num corpo de leis, protegia e fomentava o comércio marítimo de Lisboa, já então uma cidade cosmopolita. Os genoveses, os lombardos, os aragoneses, os maiorquinos, milaneses, corsos, biscaínhos, gentes de tão variadas partes - de toda a Espanha e das costas circum-mediterrâneas - fixavam-se em Lisboa a comerciar. Pelo Tejo saíam cada ano para cima de doze mil tonéis de vinho, sem contar o dos navios da segunda carregação, em Março. Os navios eram já maiores e tinham coberta. O cronista chama à capital «grande cidade de muitas e desvairadas gentes». Era uma Veneza que se formava, para suceder à antiga; e, como nas cidades republicanas da Itália, também o comércio era privilégio dos mercadores, proibido aos nobres e clérigos, sendo vedado aos estrangeiros negociar fora do porto-franco de Lisboa.
O rei D. Fernando assistia ao pleno desenvolvimento de uma potência comercial e marítima; e o que fez em favor do seu progresso demonstra a lucidez do seu espírito. O rei em pessoa era armador e negociante de certos géneros exclusivos. Criou bolsas de seguros marítimos, mútuos, em Lisboa e no Porto, com o produto de uma taxa especial lançada sobre o comércio, instituindo o cadastro ou estatística naval. Reduziu a metade os direitos de importação dos géneros trazidos por navios nacionais, estabelecendo assim um direito diferencial de bandeira, a cuja sombra se multiplicou o número de navios mercantes portugueses. Deu, aos que desejassem construí-los, a faculdade de cortar madeiras nas matas reais. Isentou de direitos os materiais de construção naval, e os navios construídos fora, por conta de nacionais; e o mesmo concedeu à exportação dos géneros do primeiro carregamento de navios novos. Por sobre esta protecção eficaz e enérgica, emprestava ainda aos armadores capitais para comerciarem, ficando interessado com eles no dízimo dos lucros, que se liquidavam duas vezes ao ano.
Noutro lugar dissemos que o governo de D. Fernando fora um cesarismo, e com efeito o foi de todos os modos: na sábia protecção dada ao fomento material da nação, na violência das medidas de salvação pública, na desordem dos costumes da corte, e no carácter bondoso e ingenuamente devasso do rei. Este César do fim da Idade Média preparava o caminho à nação, cuja vida brilhante de dois séculos, afastada da estrada ordinária da agricultura e da indústria, ia ser a vida de uma Roma, imperial, de uma Cartago, de uma Veneza: metrópole acanhada de um império colossal, subordinada nos seus destinos ao merecimento individual dos governantes autocratas, mais do que à força espontânea de um espírito nacional, ao maquinismo activo de um sistema de instituições e classes, organicamente construído e funcionando normalmente. De todos os fundadores de Portugal marítimo D. Fernando é o maior; e se as queixas formuladas, ao decair do XVI século, contra os que afastaram os portugueses do arado para o leme, do campo para o mar, têm razão absoluta - a sabedoria de D. Fernando foi como o pior dos erros. Camões fulminava, pela boca do velho do Restelo, os que arrastavam Portugal para o mar; como Plutarco condenou Temístocles por ter lançado os atenienses no caminho das empresas marítimas.
Mas esses lamentos do espírito utilitário, se têm um cunho de verdade positiva, têm também um escasso merecimento histórico. Não tivesse a Grécia sido colonizadora e marítima, e a sua voz educadora jamais se teria ouvido no mundo. Outro tanto diremos nós. Não tivéssemos alargado pelo mar um nome sem razão de ser na Europa, e, jungidos à Galiza virente e à Castela farta, teríamos tido menos fome e menos dores, menos misérias decerto, mas nenhuma honra, também, na história. O próprio nome de Portugal não teria existido, senão como lembrança erudita de um certo condado, que, nas mãos de príncipes astutos e atrevidos, conseguira viver alguns séculos separado do corpo da nação espanhola.
Traduzirá isto apenas uma vaga e sentimental banalidade? Não, decerto. Infeliz de quem não viveu; e viver, para os homens e para as nações, difere do absorver, digerir e segregar, porque é mais do que satisfazer as necessidades orgânicas. Além disto, o destino, fatalidade, providência, determinação, ou como se queira dizer - traduzido com sucessivas palavras, antigas, actuais ou futuras, um mistério eterno - elege ou condena - escolham também os sectários entre as duas expressões - os homens e as nações a uma determinada obra. Nós fomos elegidos ou condenados a conquistar para o mundo esse Mar Tenebroso que o enchia de vagas ambições ou de fúnebres terrores.
Era este o momento oportuno de dizermos todo o nosso pensamento acerca da empresa nacional, do seu destino, da sua missão, ou como aprouver melhor chamar-lhe. A viagem das Índias, que vamos contar - descrevendo previamente a derrota, por Ceuta e Tânger, e, no reino, pela consolidação do poder cesáreo dos reis - necessitava ser julgada: agora que, ainda no molhe os tripulantes, sobre a amarra os navios, se não desferrou o pano, nem se deram as salvas da partida.
Essa esquadra, que fundeia no Tejo, era já poderosa ao tempo de D. Fernando. Os cuidados do rei em favor da marinha mercante abraçavam também a marinha de guerra. A armada que foi bloquear Sevilha (1372) era, no dizer do cronista, formosa campanha de ver. Mice Lançarote Peçanha, da linhagem do genovês, ia de almirante; e o cosmopolitismo da nova pátria portuguesa vê-se bem no nome dos capitães: um João Focin castelhano, um Badasal de Spínola, um Brancaleon. Como Roma, Lisboa recebia no seu seio e nacionalizava gentes de toda a parte; e deste aglomerado de caracteres, naturalmente inorgânico, sairá, no momento culminante do XVI século, um espírito superior ao espírito nacional-natural e a noção de uma pátria moral ou ideal, como foi a pátria de Virgílio.
A esquadra de Sevilha contava trinta e duas galés, trinta naus redondas, afora as que vieram per ella da costa do mar. Vinte e três meses teve bloqueado o Guadalquivir, e retirou com a paz. Outra frota, quase tão poderosa como esta, foi ainda ao Mediterrâneo, na seguinte guerra de Castela, para sofrer o desastre de Saltes (1381), consequência da temeridade do fanfarrão Afonso Telo.
Agora, fundeada no Tejo, a armada espera o rei e os príncipes para ir conquistar Ceuta, em África («O Infante D. Henrique», in História de Portugal, Guimarães Editores, 2007, pp. 129-138).
Notas:
(1) V. As Raças Humanas, O. C., pp. 168 a 170.
(2) V. História da Civilização Ibérica, O. C., pp. 1 a 13, e Elementos de Antropologia (3.ª ed.), pp. 126-7 e 215-17.
(3) V. As Raças Humanas, L.º IV, 2.
(4) Na relação que o franciscano P. Bontier deixou acerca da ocupação das Canárias por João de Bethencourt e Gadifer de la Salle, há referência a uma viagem dos ocupantes à costa de Marrocos, por altura do cabo de Jubi. Será isto bastante para se afirmar que os homens do Norte (se é a estes franceses que o A. se quer referir) «já comerciavam ao longo da costa africana»? Se é aos Normandos, porém, que a referência diz respeito, mais agravado fica o categórico da afirmação, pois que o asserto do A. é relativo ao século XV.
(5) Ibid., O. C., pp. 171 e segs.
(6) Seguiremos em geral a ortografia de KIEPERT nos seus Atlas, com referência aos nomes geográficos do Oriente, traduzidos nas nossas crónicas pelo ouvido dos soldados da Índia.
(7) V. As Raças Humanas, I, O. C., p. 166 e O Brasil e as Colónias Portuguesas, O. C., pp. 245 a 253.
(8) Cf. João ÁLVARES, Crónica do Infante Santo.
 |
Brasão de Armas do Infante D. Fernando cuja divisa era: «Le bien me plaît». |
(9) Cf. O Manuscrito de Valentim Fernandes.
(10) V. Raças Humanas, O. C., pp. 268 a 284.
(11) Regiomontano
(12) V. A cronologia particular das viagens de descoberta no Brasil e as Colónias Portuguesas, O. C., pp. 6 e 7.
(13) V. As Raças Humanas, I, O. C., pp. 188 e 189.
(14) V. O Brasil e as Colónias Portuguesas, O. C., pp. 8 e 9.
(15) Almirante do Mar no Reinado de D. Afonso Henriques.
(16) V. no Regime de Riquezas, O. C., pp. 89 a 103, a evolução dos veículos marítimos.
(17) A dobra continha 4 libras e dois soldos; 50 dobras compunha o marco de ouro cujo valor moderno [ca. 1880] é de 120$000 rs.; a dobra equivaleria pois a 2$400 rs.; e o rendimento da alfândega a de 84 a 96 contos. Havendo no porto, como diz o cronista, 400 a 500 navios de carregação e em Sacavém e no Montijo, à carga do vinho e do sal, 60 ou 70 em cada lugar, supondo que esses navios se substituíssem quatro vezes, fazendo quatro viagens num ano, e sabendo nós que a sua lotação média regularia por 100 toneladas - vemos que o movimento do porto atingia mais de 200 000 toneladas de géneros diversos. Comparando-o com o rendimento da alfândega, faremos ideia do grau de franquia do porto.

























.jpg)