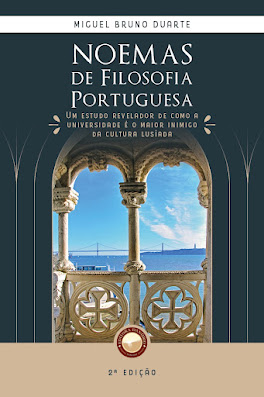|
| Licurgo |
A nossa noção de amor, envolvendo a que temos da mulher, acha-se portanto ligada a uma noção do sofrimento fecundo que favorece ou obscuramente legítima, no mais secreto da consciência ocidental, o gosto pela guerra.
Esta singular ligação duma certa ideia da mulher e duma ideia correspondente da guerra, no Ocidente, acarreta profundas consequências para a moral, para a educação, para a política.
(...) Desde a Antiguidade que os poetas usaram metáforas guerreiras para descrever os efeitos do amor natural. O deus do amor é um archeiro que dispara flechas mortais. A mulher rende-se ao homem que a conquista porque ele é melhor guerreiro. O objectivo da guerra de Tróia é a posse duma mulher. E um dos mais antigos romances que possuímos, o Teagenes e Caricleia de Hediodoro (no século III já fala das "lutas de amor" e da «deliciosa derrota» daquele que «cai sob os dardos inevitáveis de Eros».
Plutarco faz-nos ver que a moral sexual dos Espartanos era função do rendimento militar desse povo. O eugenismo de Licurgo e as suas leis minuciosas que regulavam as relações dos esposos não tem outro fim senão o de aumentar a agressividade dos soldados.
Tudo isto confirma a ligação natural, quer dizer, fisiológica, do instinto sexual e do instinto combativo. Mas seria vão tentarmos procurar semelhanças entre a táctica dos Antigos e a sua concepção do amor. Os dois domínios permanecem submetidos a leis inteiramente distintas e privadas de medida comum.
O mesmo se não pode dizer em relação à nossa história a partir dos séculos XII e XIII. Vemos então a linguagem amorosa enriquecer-se de figuras que já não designam apenas os gestos elementares do guerreiro mas são colhidas, duma maneira muito preciosa, da arte das batalhas, da táctica militar da época. Já se não trata, doravante, duma origem comum mais ou menos obscuramente sentida, mas sim dum minucioso paralelismo.
O amante põe cerco à sua Senhora. Pratica amorosos assaltos à sua virtude. Cerca-a de perto, persegue-a, procura vencer as derradeiras defesas do seu pudor e colhê-las de surpresa; por fim, a dama rende-se à mercê. Mas então, por uma curiosa inversão bem típica da cortesia, o amante será seu prisioneiro ao mesmo tempo que vencedor. Tornar-se-á vassalo dessa suserana, segundo a regra das guerras feudais, como se tivesse sido ele a sofrer a derrota. Não lhe resta senão fazer prova da sua valentia, etc. Tudo isto em linguagem nobre. Mas o calão do soldado e do civil fornecer-nos-ia uma profusão de exemplos de crueza ainda mais significativa. E mais tarde, a introdução de armas de fogo deveria dar lugar a inúmeros gracejos com duplo sentido».
Denis de Rougemont («O Amor e o Ocidente»).
 |
| EXCALIBUR (1981). |
«Em Wolfram [von Eschenbach] diz-se: "Quem quiser conquistar o Graal só poderá abrir caminho em direcção a este objecto precioso com as 'armas na mão'". Nisto se resume o espírito de todo o ciclo de "aventuras" enfrentadas pelos cavaleiros da Távola Redonda em busca do Graal. São aventuras de carácter épico e guerreiro, que têm igualmente um carácter simbólico, por exprimirem sobretudo actos espirituais e não acções materiais, sem que, contudo, na nossa opinião, esse aspecto do simbolismo represente um elemento fortuito e irrelevante. Isto significa que este "abrir caminho em direcção ao Graal com as armas na mão", com todos os duelos, lutas e combates a ele relativos, remete certamente para uma via específica de realização interior, em relação à qual o elemento "activo", guerreiro ou viril desempenha o papel principal. Contudo, o caminho que é preciso abrir combatendo é sempre aquele que conduz da "cavalaria terrestre" à "cavalaria espiritual": segundo as expressões tradicionais por nós usadas noutra ocasião, não se trata apenas da "pequena guerra", mas também da "grande guerra santa"».
Julius Evola («O Mistério do Graal»).
«A condição do amor é uma vida secreta, que só pode exprimir-se por alegorias. Toda a literatura, exactamente porque usa das liberdades poéticas, confirma a verdade transmitida por velhas tradições. Mal vai aos homens e aos povos que, por esquecimento da sabedoria tradicional, já não entendem os motivos profundos desta condição.
O amor tem de ser secreto porque contra ele luta a entidade mais poderosamente inimiga da vida, que é a inveja. Até as inocentes crianças, maculadas pelo pecado original de não poderem ver o amor, riem maliciosamente dos namorados e dos amantes, quando não os perseguem e perturbam até lhes frustrarem as condições de felicidade. É dos adultos, porém, que surgem os processos auxiliares da inveja, dirigidos para combater efizcamente o amor, para reprimir a exteriorização das emoções, dos sentimentos e das paixões, para enfraquecer no condicionamento sociológico as energias criadoras da vida.
A maledicência, que é um dos processos mais vulgares no combate da inveja contra o amor, a maledicência, que tem por fim a desonra do homem ou da mulher, é significativa da imoralidade de um ambiente sem educação, mas é mais ainda significativa de falta de imaginação. A maledicência é, por isso, um sinal de decadência. Quem diz o mal torna-se a pouco e pouco incapaz de ouvir o bem».
Álvaro Ribeiro («A Razão Animada»).
A GUERRA TOTAL
A partir de Verdun, que os alemães baptizam de Batalha do Material (Materialschlacht), o paralelismo instituído pela cavalaria entre as formas do amor e da guerra parece dissolvido.
Sem dúvida que o fim concreto da guerra foi sempre o d eforçar a resistência inimiga, destruindo as suas forças armadas. (Forçar a resistência da mulher pela sedução é a paz; pela violação é a guerra). Mas não se destruía por isso a nação que se desejava subjugar: bastava reduzir as suas defesas. Batalha organizada contra um exército profissional, sítio das fortalezas, captura do chefe: um sistema de regras precisas, portanto uma arte, designava o vencedor. E este vencedor triunfava sobre algo vivo, um país ou povo ainda desejáveis. A intervenção duma técnica desumana que mobiliza todas as forças dum estado mudou a face da guerra em Verdun.
Porque a partir do momento em que a guerra se torna «total» - e já não apenas militar - a destruição das resistências armadas significa o aniquilamento das forças vivas do inimigo: operários mobilizados nas fábricas, mães que procriam soldados, em suma, todos os «meios de produção», coisas e pessoas equiparadas. A guerra já não é uma violação mas um assassínio do objecto cobiçado e hostil - quer dizer, um acto «total», que destrói esse objecto em vez de se apoderar dele. Verdun, de resto, não foi mais que um prólogo a essa guerra nova, pois que o processo se limitou à destruição metódica dum milhão de soldados, não de civis. Mas esse Kriegspiel permitiu que o aperfeiçoamento dum instrumento que, posteriormente, se viria a achar habilitado a operar em campos bem mais vastos, como Londres e Berlim; já não apenas sobre a carne para canhões, mas sobre a carne que fabrica os canhões, o que é evidentemente mais eficaz.
A esse propósito eis três observações que, como veremos, não deixam de estar ligadas:
b) Essa colectivização dos meios destrutivos, mecanizados, teve como efeito neutralizar a paixão propriamente bélica dos combatentes. Não se tratava já de violência do sangue mas sim de brutalidade quantitativa, de massas lançadas umas contras as outras, já não pelos movimentos do delírio passional, mas sim pela inteligência calculadora de engenheiros. Agora o homem é apenas o servo do material; ele próprio passa ao estado de material, tanto mais eficaz quanto menos humano for nos seus reflexos individuais. Assim, apesar da drogagem empreendida pela propaganda, a vitória depende, no fim de contas, das leis da mecânica, mais do que das previsões da psicologia. O instinto combativo é frustrado. De 1914 a 1918, a habitual explosão de sexualidade que acompanhava os grandes conflitos só se produziu na retaguarda, nas populações civis. A despeito dos esforços do lirismo oficial, duma certa literatura e da imagística popular, o gozo de licença assemelha-se bastante à corrida do macho longamente privado. Testemunhos sem conta de médicos e de soldados, provam que a guerra do material se traduziu na realidade por uma «catástrofe sexual» (1). A impotência generalizada, ou pelo menos os seus pródromos, como o onanismo crónico e a homossexualidade, foi o resultado estatístico de quatro anos passados nas trincheiras. E daí resulta que, pela primeira vez, se tenha assistido a uma revolta generalizada dos soldados contra a guerra (2), deixando esta de figurar como exutório das paixões para passar a ser uma espécie de imensa castração da Europa.
c) A guerra total pressupõe a destruição de todas as formas convencionais da luta. A partir de 1920, já ninguém se submete aos «fingimentos diplomáticos» do ultimato e da «declaração» de guerra. Os tratados já não serão a solene conclusão das hostilidades. As distinções arbitrárias entre cidades abertas e cidades fortificadas, civis e militares, meios de destruição permitidos ou condenados, cairão em desuso. Donde resulta que a derrota dum país já não será simbólica, metafórica, quer dizer, limitada a certos sinais convencionais, mas será concretamente a morte desse país. Mais uma vez, desde que se abandone a ideia de regras, a guerra já não traduz o acto de violação no plano das nações mas sim o acto do crime sádico, a posse duma vítima morta, portanto de facto uma não-posse. Já não exprime o instinto sexual normal, nem mesmo a paixão que o utiliza e o transcende, mas apenas essa perversão da paixão - de resto fatal, como já vimos - que é o «complexo de castração».
A PAIXÃO TRANSPOSTA PARA A POLÍTICA
 |
| Hitler e Hindenburg |
.jpg) |
| Desastre do dirigível Zeppelin (LZ 129 Hidenburg) em 1937. |
Escorraçada do campo da guerra cavalheiresca - quando esse campo deixa de ser fechado como deve ser um terreno de jogo e já se não trata duma liça decorada de símbolos mas dum sector de bombardeamento - a paixão procurou e encontrou outros modos de expressão em actos.
De resto, a isso era obrigada pela depreciação das resistências morais e privadas, assim como pela deturpação da guerra. Por um lado, nos países democráticos, os costumes abrandaram a tal ponto que tendiam a já não oferecer nenhuns obstáculos absolutos, portanto exaltantes para a paixão; por outro lado, nos países totalitários, a mentalização dos jovens pelo Estado tendia a eliminar da vida privada toda a espécie de trágico íntimo e de problemática mais ou menos no mesmo sentido: desencorajam a necessidade de paixão, hereditária ou adquirida pela cultura; afrouxam os estímulos íntimos e pessoais.
O amor, entre as duas guerras, foi curiosa mistura de intelectualismo angustiado (literatura da inquietação e da anarquia burguesa) e de cinismo materialista (Neue Sachlichkeit dos alemães). Viu-se bem que a paixão romântica já não encontrava com que elaborar um mito; já não encontrava resistências no seio duma atmosfera de tempestuosa e secreta devoção. O receio mórbido das seduções «ingénuas» e das «ílusões do coração», aliado a um desejo febril de aventura, é o clima dos principais romances desse período. O que significa sem equívoco que as relações individuais dos sexos deixaram de ser o lugar por excelência onde se realiza a paixão. Esta parece desligar-se do seu suporte. Entramos na era das líbidos errantes, em busca dum teatro novo. E o primeiro que se lhe ofereceu foi o teatro político.
A política de massas, tal como foi praticada a partir de 1917, mais não é do que a continuação da guerra total por outros meios (para retomar mais uma vez, invertendo-a, a célebre fórmula de Clausewitz). O termo de «frentes» já o indica. E por outro lado, o Estado totalitário não é mais do que o estado de guerra prolongado, ou permanentemente recriado e mantido na nação. Mas se a guerra total aniquila toda a possibilidade de paixão, a politica transpõe as paixões individuais para o nível do ser colectivo. Tudo o que a educação totalitária recusa aos indivíduos isolados, ela o transfere para a Nação personificada. É a Nação (ou o Partido) que tem paixões. É ela (ou ele) que assume a dialéctica do obstáculo exaltante, da ascese e da inconsciente corrida para a morte heróica, divinizante.
Enquanto no interior e na base se esterilizam os problemas pessoais, no exterior e no cimo o potencial de paixão cresce dia a dia. O eugenismo triunfa na moral que concerne os cidadãos: e o eugenismo é a negação racional de toda a espécie de aventura privada. O que só pode aumentar a tensão do conjunto, personificada na Nação. De 1933 a 1939, o Estado-Nação de Hitler diz aos alemães: Procriai! - o que é uma negação da paixão; mas diz aos povos vizinhos: - Nós somos demasiado numerosos dentro de fronteiras, exijo portanto novas terras! - o que é a nova paixão. Assim, todas as tensões suprimidas na base se acumulam no cimo. Ora é claro que estas vontades opostas de poder - já há vários estados totalitários - não podem, com efeito, deixar de se embaterem passionalmente. Mutuamente se transformam no obstáculo. O objectivo real, tácito, fatal dessas exaltações totalitárias é portanto a guerra, que significa a morte. E como se vê no caso da paixão de amor, esse objectivo não só é negado com vigor pelos interessados como é realmente inconsciente. Ninguém ousa dizer: quero a guerra; assim como no amor-paixão os amantes não dizem: quero a morte. Apenas tudo o que se faz prepara esse fim. E tudo o que se exalta aí encontra o seu sentido real.
Seria fácil multiplicar as provas deste novo paralelismo entre a política e a paixão. As restrições que o Estado impõe em nome da grandeza nacional correspondem a uma ascese colectivizada. A honra do cavaleiro é a inquieta susceptibilidade das Nações totalitárias. Por fim, sublinharei um facto bastante impressionante: é que as multidões reagem perante o ditador, num dado país, da mesma maneira que a mulher, nesse país, reage às solicitações do homem. Escrevia eu em 1938: «Os franceses espantam-se do êxito de Hitler junto da massa germânica, mas não se espantariam menos dos modos que agradam aos alemães. Nos países latinos, fazer a corte a uma mulher é atordoá-la com palavras lisonjeiras; tal como os nossos homens políticos, ao pretenderem seduzir uma assembleia eleitoral. Hitler é mais brutal: zanga-se e queixa-se ao mesmo tempo; não persuade, enfeitiça; invoca enfim o destino e afirma que esse destino é ele... Desse modo, ele liberta a multidão da responsabilidade dos seus actos, portanto do sentimento opressivo da sua culpabilidade moral. Ela entrega-se ao salvador terrível e nomeia-o o seu libertador no próprio instante em que ele a acorrenta e a possui. Não esqueçamos que o termo popular que designa na Alemanha o acto de desposar é freien, verbo que significa literalmente: libertar... Hitler sabe-o e talvez bem de mais:
Sim, «desde sempre» assim foi. Mas a novidade do nosso tempo está em que a acção passional sobre as massas, como a definiu Hitler, é agora acompanhada duma acção racionalizante sobre os indivíduos. Por outro lado, essa acção já não é exercida por um «condutor» qualquer mas pelo Chefe que encarna a Nação. Donde a força sem precedente da transferência que se opera do privado para o público.
Que sobre-humano Wagner estaria à altura de orquestrar a grandiosa catástrofe da paixão que se tornou totalitária?
Isto conduz-nos ao limiar duma conclusão que eu estava longe de prever (...). Que se siga a evolução do mito ocidental da paixão na história da literatura ou na história dos métodos da guerra, é a mesma curva qua aparece. E chega-se igualmente a esse aspecto demasiado ignorado da crise da nossa época que é a dissolução das formas instituídas da cavalaria.
Foi no domínio da guerra, onde toda a evolução é praticamente irreversível - enquanto há «regressos» literários - que a necessidade duma solução nova surgiu em primeiro lugar. Essa solução chama-se Estado totalitário. É a resposta do século XX, nascida da guerra, à ameaça permanente que a paixão e o instinto da morte fazem pesar sobre a sociedade.
A resposta do século XII tinha sido a cavalaria cortês, a sua ética e os seus mitos romanescos. A resposta do século XVII tem por símbolo a tragédia clássica (3). A resposta do século XVIII foi o cinismo de Don Juan e a ironia racionalista. Mas o romantismo não foi uma resposta, a não ser que se admita - e é possível - que o seu eloquente abandono às potências nocturnas do mito tenha sido um último meio de a deprimir por um excesso intencional. De qualquer modo, essa defesa era fraca perante o perigo desencadeado. As forças antivitais longamente contidas pelo mito espalharam-se pelos domínios mais diversos, donde resultou uma dissociação, no sentido preciso de afrouxamento dos laços sociais. A primeira guerra europeia foi o julgamento dum mundo que havia julgado poder abandonar as formas e libertar duma maneira anárquica o «conteúdo» mortal do mito.
Todavia, não creio que a drenagem de toda a paixão pela Nação seja mais do que medida de desespero. É afastar a ameaça imediata, mas agravá-la, fazendo-a pesar sobre a própria vida dos povos assim constituídos em blocos. O estado totalitário é de facto uma forma recriada, mas uma forma demasiado vasta, demasiado rígida e demasiado geométrica para poder modelar e organizar nos seus limites a vida complexa dos homens, mesmo militarizados. Medidas policiais não fazem uma cultura, os slogans não fazem uma moral. Entre o quadro artificial dos grandes Estados e a vida quotidiana dos homens, subsiste ainda demasiado jogo, demasiada angústia e demasiado possível. Nada está realmente resolvido. Pelo que:
 |
| Denis de Rougemont |
(1) Conclusão de uma investigação feita sobre a conduta de Magnus Hirschfeld por doze sábios alemães e austríacos, e publicada sob o título de Sittengeschichte des Welkriegs (História dos costumes durante a guerra mundial).
(2) O lansquenete moderno, achando a guerra total uma negação da paixão guerreira lança-se em aventuras absurdas que procura enquanto absurdas e desumanas (ver La Guerre notre Mère de Ernst Jünger e Les Reprouvés de Ernst Von Solomon). Combate-se por prazer, ou antes, mais por desespero, contra quem quer que seja. Proletariado guerreiro dos «voluntários» (Báltico, Espanha, China). É a devassidão desesperada e venal do desiludido da paixão. Vingança sádica.
(3) Bachofen (autor do Mutterrecht: o Matriarcado) expõe uma teoria análoga a propósito da tragédia grega, considerada Auseinandersetzung (a discussão, a querela, a explicação) entre a comunidade e as potências do mito.










.jpg)
.jpg)
.jpg)