«Mestre daqueles que sabem, no dizer suavíssimo de Dante, continua Aristóteles a exercer o melhor preceptorado sobre quantos pensadores se dedicam aos estudos filosóficos. Quem ler, durante alguns meses, os principais livros aristotélicos, verificará no termo do ano lectivo que de certo modo robusteceu a sua razão, e reconhecerá que adquiriu maior agilidade mental por haver reduzido ao mínimo o pesado lastro da sensitividade. A doutrina aristotélica habilita o estudioso a adquirir progressiva confiança na sua inteligência, faculta-lhe o processo útil de fortalecer a memória, e propõe-lhe a melhor sistematização das artes, das técnicas e das ciências.
Seja, porém, desde já posta a advertência de que os livros aristotélicos não são de amena, fácil e rápida leitura, para que do aviso ressalte quanto eles valem de útil estímulo ao exercício mental. Os textos que representam o ensino tradicional daquele que por antonomásia tem sido designado por o Filósofo, sem émulo nem par, surgem de manuscritos infielmente reproduzidos pelos copistas e diversamente interpretados pelos comentadores. As vicissitudes dos textos aristotélicos foram dramaticamente narradas pelos historiadores, como se pode ler por exemplo nas Prelecções de História da Filosofia que J. G. F. Hegel deu aos seus alunos da Universidade de Berlim, e tais acontecimentos explicam que até perante as edições mais recentes se mantenha perplexo o estudante meticuloso.
"O que nos resta - escreve o divulgador André Cresson -, é um fundo composto de notas que Aristóteles escrevia para uso pessoal, de lições que ele havia preparado, de planos de curso que havia projectado, talvez até de meros apontamentos mais ou menos completos mas redigidos pelos discípulos. Em suma: nem um só tratado completo; numerosos fragmentos acerca de assuntos muito diversos, exposições metódicas mas abruptamente interrompidas, enumerações de questões para estudo ulterior. Isto é: ou ruínas de um grande edifício desmoronado, quando não um acervo de materiais vários para uma construção futura. Acrescentemos que, de momento para momento, o estudioso vê-se obrigado a perguntar: Será autêntico o livro que estou a ler? No todo ou em parte? Não teria sofrido interpolações? E ninguém pode ficar inteiramente seguro de que resolveu certamente o problema filológico".
[...] Entende-se perfeitamente que, nos países de mais acentuada cultura filosófica, pedagógica e política, se proceda periodicamente ao trabalho proveitoso de reeditar o texto grego, em livros acessíveis a estudantes de todos os graus universitários, mas também se proceda ao acto de alta cultura de promover as traduções vernáculas, e ao facto de as publicar para benefício de aplicados estudiosos e de simples leitores. De lamentar seja, portanto, que no nosso País, onde os serviços públicos têm sido de uma extraordinária prodigalidade na impressão e na reimpressão de obras menos valiosas, ainda não exista uma edição portuguesa das obras completas de Aristóteles. É perfeitamente desaconselhável que, nos estabelecimentos de ensino público, sejam as obras dos filósofos gregos conhecidas por intermédio de traduções francesas, inglesas ou alemãs, porquanto os clássicos da Antiguidade, padrões de uma cultura e de uma civilização, devem ser meditados nas mesmas palavras em que o estudioso articula o seu livre pensamento.
Ante as dificuldades de leitura, tradução e interpretação dos textos, não falta quem duvide de que o aristotelismo tenha sido um sistema de filosofia. Tal dúvida poderá significar o embaraço do intérprete, mas a verdade é que todo o pensamento filosófico se move dentro do sistema em que está integrado, sistema próprio ou sistema alheio, de círculo vicioso ou de infinita espiral.
Um filósofo pode exprimir-se por aforismos, artigos, ensaios, opúsculos, compêndios, tratados, etc., sem que na sucessão desses escritos de ocasião e de circunstância resulte a clara exposição de um sistema definido. Quanto mais didáctico for o escrito, como as obras exigidas aos professores universitários, suficientes na técnica e deficientes no estilo, tanto menos reflectirá a atitude do artista que procura realizar obra original. Há sempre, porém, um sistema filosófico para que tende a obra do pensador, e compete ao intérprete discernir o ponto temático em torno do qual se faz a constelação.
Aprendido ou não na integridade do sistema, certo é que o aristotelismo de judeus, árabes e cristãos dominou até aos alvores da Idade Moderna. Mais ou menos combinado com o plotinismo, o aristotelismo proveio da Alexandria para a Síria, o Egipto, a Mauritânia e a Espanha, onde floresceu desde o século VII até ao século XII, conforme relembrou Steenberghen em ensaio recente [Aristote en Occident].
Para estudar os começos da nossa escolástica é indispensável recorrer aos pensadores árabes Avicena e Averróis, como aos pensadores judeus Avicebron e Maimónides, utilizando para isso a avultada bibliografia de língua espanhola. Esta filosofia comum, capítulo aperitivo, ou de abertura, à apologética das três doutrinas religiosas de tradição bíblica, serviu exactamente de estrutura e de subsestrutura ao ensinamento de clérigos e leigos. Pierre Duhem, respondendo a certos plumitivos que confundem Aristóteles, Escolástica e Igreja, para reduzirem os três termos a um só, e também a quantos alegam estar a filosofia aristotélica em adesão necessária ao dogma católico, pergunta justamente:
"Não poderá esta doutrina ser tão perfeitamente aceite por um crente como por um descrente? E, de facto, não foi ela ensinada por pagãos, por muçulmanos, por judeus, por hereges, como o foi também por discípulos fiéis da Igreja?"
E o professor A. E. Taylor, especialista de história da filosofia grega, também observa num livro de divulgação, que Aristóteles: "Deixou a sua impressão tão firmemente na teologia que muitas das fórmulas da Igreja são ininteligíveis para quem ignorar a concepção aristotélica do Universo. Quem estiver interessado no advento da ciência moderna há-de descobrir por si próprio que lhe será indispensável obter alguns conhecimentos do aristotelismo para entender o pensamento de Bacon, de Galileu e dos outros grandes anti-aristotélicos que criaram a moderna visão científica da Natureza".
É certo que nas instituições eclesiásticas, e especialmente nos estabelecimentos de ensino, foi a pouco e pouco o aristotelismo interpretado segundo a doutrina de Santo Tomás de Aquino, formando-se assim uma solidariedade doutrinal cujas vicissitudes costumam ser descritas nos vários livros de história da filosofia. Aos textos gregos de Aristóteles sobrepuseram-se as traduções latinas, e os textos do comentador eclesiástico figuraram no lugar devido ao filósofo liceal. O aristotelismo dos professores do Colégio das Artes e da Universidade de Coimbra mereceu uma justa menção elogiosa de Leibniz, mas se conferiu à cultura filosófica da Península Ibérica a unidade doutrinal e a firmeza retórica, pecou por não facilitar o diálogo com a cultura da Europa Central. Entre a multidão de aristotélicos portugueses justo é mencionar aqueles que se distinguiram em Paris, nomeadamente António de Gouveia que, no seu libelo intitulado "Em prol de Aristóteles" refutou as doutrinas de Pierre de la Ramée, mestre de quantos haveriam de combater as doutrinas do Estagirita".
Quando Descartes publica o Discurso do Método (1637) e Pascal exprime o célebre apotegma "Verité au deçà des Pyrénées, erreur au delà", já Portugal se preparava para se separar da comunidade cultural ibérica e para adoptar a regra de submissão a doutrinas vindas da Europa Central. A hostilidade para com a filosofia aristotélica, bem ou mal interpretada pelos nossos tomistas, escotistas e suarèzistas, teve lógico desfecho em uma decisão política do reformador da Universidade de Coimbra, o Marquês de Pombal. Enquanto a Espanha permanecia fiel ao princípio tradicional de união doutrinária da filosofia com a religião, Portugal separava as duas disciplinas, preparando uma luta de que resultaria o enfraquecimento de ambas. De aí a facilidade de opor a singularidade portuguesa à centralização castelhana, mas também a dificuldade de determinar a razão da Pátria, ou, seja, de definir a filosofia, a pedagogia e a política nacionais.
Certo é que o Povo Português durante séculos prestou culto superior à Maternidade, à Divina Maternidade, à Mãe de Deus, representando sempre, na grandiosa simbólica da sua profunda religiosidade, a Virgem Maria na companhia de Jesus. A partir do século XIX, a iconografia oriental e mediterrânea, tão rica de colorido ardente e de figuração concreta, estiliza-se e clarifica-se para a cisão representativa das influências nórdicas, provenientes de Além-Pirenéus. Depois sucede a consequente disjunção da Sagrada Família, passando de teológicos a sociológicos os tradicionais atributos de S. José, na mentalidade impiedosa de quantos operários qualificados e não qualificados se revoltam pela engenharia contra as leis da arquitectura.
Referida a toda a humanidade, merecendo por isso o atributo de católica, a religião assume dignidade superior à da política, mas tal verdade não anula a certeza histórica de que cada povo se esforça por elaborar em acumulados pormenores uma interpretação nacional da doutrina ecuménica, para assim reivindicar uma superioridade cultural que legitime a missionação junto de outras gentes. Tal emulação nacionalista tem sido narrada na história política da Europa, e ao estudante será fácil discernir qual a nação que em determinado século conseguiu propor, impor e defender a sua hegemonia espiritual. Ignorando a História de Portugal, - não as figuras, os factos e as datas, como dizem os positivistas que só relacionam efemérides, mas as forças ocultas da nossa autonomia cultural e as causas patentes da nossa independência política, - muitos escritores viram-se perplexos para explicar os factos incontestáveis dos descobrimentos marítimos e da colonização portuguesa. Admitiram uma acção mundial sem preparação prévia de um pensamento nacional, até ao momento de deixarem inserir no quadro de um determinismo histórico, ou de um materialismo histórico, o que resultava da interpretação portuguesa do aristotelismo medieval.
 |
| Torre de Belém |
Afastado da disciplina aristotélica, o ensino português foi necessariamente perdendo a significação humanista, como se prova pela histórica decadência dos estudos de gramática, retórica e dialéctica, das disciplinas do trivium. Tal decadência haveria de ser gradual e só perfeitamente visível, ou alarmante, ao fim de algumas gerações. Da doutrina aristotélica perdura apenas o aspecto empirista em que assentava a filosofia britânica de Locke, Berkeley e Hume, e que predomina nos compêndios escolares necessariamente adversos ao racionalismo. Não foi entre nós aclimada nas escolas de ensino público a doutrina de Kant, nem a dos seus sucessores Fichte, Schelling e Hegel, pelo que se pode dizer que não houve fundamento filosófico para o nosso romantismo político e literário.
Estabelecida no século XIX a liberdade de imprensa, longo se intensifica a divulgação de doutrinas estrangeiras, mediante traduções ou exposições que facilitam o acesso do vulgo ao entendimento não das obras de primeira grandeza, ou dos factos clássicos, mas apenas a livros de terceira ordem, de valor medíocre e de celebridade efémera. Os agentes da cultura estrangeira sabem que só tais livros possuem o condão de formar a opinião pública, e que a opinião pública tem seus métodos para ascender às altas esferas do escol actuante. Os homens que perderam o tempo, os que querem actuar depressa, não se dedicam a afinar a inteligência pela leitura das obras-primas, e contentam-se com superficial relance sobre os digestos periodicamente servidos em papéis ilustrados. É interessante comparar, decénio por decénio, a influência que os livros traduzidos exercerem sobre as diferentes correntes de opinião que preparam os acontecimentos de maior relevo cultural ou de maior acção política.
Não tem sido, porém, pelos eruditos prestada atenção aos malefícios que no nosso país conjuram as sucessivas editoriais, ou editoras, que se dedicam principalmente a publicar obras estrangeiras, não só com significativo desprezo para com a inteligência dos escritores portugueses, mas também com ocultos intentos de desnacionalização cultural, os quais resistem a coberto de uma actividade que outros proclamam indispensável, útil e benemérita. A liberdade de tradução só deixará de ser nociva quando, por lei inflexível, vier a ser imposta aos editores a obrigação de publicarem no mesmo livro a correcção de tudo quanto, por omissão ou erro, possa provocar juízo desfavorável sobre a cultura portuguesa.
Destituídos de legitimação filosófica, o liberalismo e o romantismo não poderiam sobreviver. Em 1870, pela propagação do positivismo em filosofia, do naturalismo em arte e do socialismo em política, é dado incremento ao maior factor de desnacionalização cultural, usando dos processos literários e dos métodos jornalísticos mais pertinentes para lançar a injúria sobre a Monarquia, o ridículo sobre a Tradição e o descrédito sobre a Pátria. Tais processos e tais métodos continuam ainda a ser enaltecidos por quantos elogiam nos Conferencistas do Casino, nos professores do Curso Superior de Letras ou nos Vencidos da Vida os nossos melhores agentes de europeização ou internacionalização.
Em plena vigência de confusão doutrinal, distingue-se a atitude singular de Sampaio Bruno que estabelece a luta em duas frentes. Combate a esquerda hegelina (Strauss, Feuerbach, Bruno Bach, Stirner, Proudhon, Marx) representada entre nós pelos escritores que realizaram as conferências do Casino, como também combate a direita positivista (Augusto Comte, Pierre Laffitte, Émile Littré) representada pelos escritores brasileiros e seus leitores portugueses. A obra de Sampaio Bruno, onde pela primeira vez se pensa "a filosofia da história portuguesa", vale contudo pela interpretação messiânica de "A Ideia de Deus".
Excluindo a "Renascença Portuguesa", que em filosofia, em literatura e até em política se propôs invocar o pensamento nacional, até atingir o máximo expoente no livro A Arte de Ser Português, escrito em momento de exaltação patriótica por Teixeira de Pascoes, todos os outros movimentos pedagógicos, assentando na história e procedendo à revisão do passado, preconizaram a importação, assimilação e divulgação de doutrinas estrangeiras, com seus nomes prestigiosos e prestigiados. Lançando globalmente o ridículo sobre aqueles que resistiam pela crítica de linhas clássicas e considerando-os ignorantes, atrasados ou estúpidos, os ensaístas obtiveram fácil aceitação entre estudiosos sem nitidez de convicções porque educados sem suficiente disciplina trivial e sem firmeza da doutrina de Aristóteles.
Toda a admiração dos nossos publicistas se dirigiu para um ou outro daqueles povos que, superiores nas técnicas militares, navais, comerciais e industriais, deviam tal superioridade ao cultivo das ciências. Essa admiração não foi, todavia, de olhar penetrante, porque se o tivesse sido atingiria a intuição de que, por sua vez, o cultivo das ciências depende da cultura filosófica. Perdida a unidade cultural da filosofia, perdido está o sentido da universidade. A uma filosofia que se fragmente em ciências positivas e técnicas utilitárias há-de corresponder também a decadência do sistema de ensino na fragmentação das escolas terciárias, secundárias e primárias. Cada escola nova arrogar-se-á uma autonomia sem vínculo especial com a cultura superior. O legislador autorizado do ensino público poderá reformar discreta e salteadamente cada uma das escolas, sem tomar consciência das contradições que hão-de surgir entre os membros de um corpo repartido, já sem altura nem espírito. De aí a necessidade de estar a compor e a recompor com providências ad hoc o que a negligência vai decompondo num organismo já invertebrado.
Considerando sempre insuficiente o número de professores, cada reforma escolar caracteriza-se pelo aumento do corpo docente, escalonado por categorias de vencimentos, para equilíbrio entre a economia financeira e a justiça profissional. Consequentemente têm de ser aumentados o número das docências e o das regências, enfileiradas segundo a ordem inalterável dos respectivos cursos, cuja duração será cada vez maior, porque, no dizer dos doutos, foram tão longe as técnicas e as ciências, que ninguém poderá alcançá-las em menos tempo do que o prescrito na nova reforma. Estabelece-se como dogma a presunção de que só a preparação no edifício escolar, certificada por papel escrito, é válida habilitação para uma profissão superior. Efectivamente, quem não for estimulado por prévio ensino sintético e unitário, como aquele que só pode ser dado pela filosofia, permanecerá menor perante a docência alheia, e jamais estudará quando adulto. Nos séculos passados, a Universidade concedia as suas licenciaturas, ou licenças de profissão, a homens maiores de vinte e um anos; no século presente, são tantos os requisitos exigidos por lei, que a menoridade intelectual passa para além da maioridade civil, nas centenas de estudantes universitários que aguardam na incerteza do último exame ou a concessão do último diploma.
O problema da cultura portuguesa encontrará solução no regresso à disciplina de Aristóteles. Fácil é ensinar a história da filosofia em termos de contínua refutação de Aristóteles ao longo das idades antiga, média e contemporânea, e concluir pela afirmação de que o sistema aristotélico, de vigência precária, não é digno da atenção que lhe preste quem deseje aproveitar, para estudos mais úteis, o seu limitado tempo. Muito tem sido dito, efectivamente, para conseguir que os estudantes desprezem quanto possível os escritos aristotélicos. Quem se aproximar, porém, de tais livros quase proibidos e os ler cuidadosamente ficará surpreendido com a descoberta do núcleo perene do pensamento vivo da nossa civilização.
Objectar-se-á, porém, que a doutrina de Aristóteles, válida para as disciplinas triviais de gramática, retórica e dialéctica, não contém todavia uma lógica integrativa de todos os esquemas mentais que caracterizam a metodologia das ciências modernas. Assim professores repetem, sem respeito devido aos alunos, que a indução e a dedução, e nomeadamente o silogismo, talvez sejam úteis na retórica, mas não servem para promover a actividade da epistemologia e, consequentemente, a da gnosiologia.
Tal não acontece, porém. Todas as relações mentais se tornam inteligíveis pela mediação das palavras que foram propostas nos esquemas aristotélicos, os quais continuam aptos a receber os resultados expressivos das ciências. Aristóteles não previu, todavia, o extraordinário desenvolvimento que os utensílios aperfeiçoados iriam dar às operações de construção, experimentação e observação pelos quais se descobriram fenómenos e essências insuspeitados na ciência da Antiguidade. Não pode ser condenatório o juízo sentenciado por especialistas da História das Ciências. Após os primeiros momentos de surpresa, e de adaptação necessária, serão formulados acerca de tais essências ou de tais fenómenos, considerados sujeitos de proposições inteligíveis, predicados, atributos e epítetos de harmonia com as mesmas leis da linguagem e enquadrados nos mesmos esquemas lógicos. Se assim não fosse, cada progresso de cada ciência seria o desesperado afastamento de qualquer sistematização do saber.
Explica-se assim que em cada povo, e em cada época, haja a necessidade de actualizar, ou renovar, a sistematização aristotélica, o que vale mais do que adoptar outros princípios de sistematização para continuidade da mesma cultura. Assim como a sistematização aristotélica é integrativa de todos os progressos das ciências e das artes, também é compatível com a diferenciação das filosofias nacionais. Em primeiro lugar, pela liberdade que concede aos idiomas. Em segundo lugar pela aceitação da pluralidade das imagens, dos conceitos e das ideias, que variam de harmonia com as condições geográficas e com as tradições históricas. Vimos já que o aristotelismo é compatível com as três tradições bíblicas.
A obra aristotélica contém o primeiro estudo sistemático da estrutura do espírito humano, analisado pela sua fenomenologia na objectivação da linguagem. Tal fenomenologia está, como muitas vezes se disse, condicionada pela estrutura da língua grega ou dos idiomas indo-europeus. Isso lhe dá, todavia, o carácter de estudo do logos, voz grega que tanto significa palavra, discurso ou juízo. A obra aristotélica é, nesta acepção, uma lógica. Poderá dizer-se também que é uma psicologia, na medida em que nos interpreta o logos da psique, embora o tratado da alma contenha, além de uma psicossomática, uma psiconoética.
Triste sorte a dos que, descontentes com a variedade dos idiomas e suspicazes perante as funções psíquicas, enfim, aqueles que combatem o filologismo e psicologismo, não encontram recurso superior ao apelo às matemáticas que alçapremam a paradigma da inteligibilidade universal. Estão anotados na história da cultura europeia os nomes desses pensadores matematicantes que na intenção de fazerem da filosofia uma ciência rigorosa, não resolvem a dificuldade de conciliar o positivismo com o solipsismo. Convém, todavia, observar, que a mesma precaução fora exactamente tomada por Aristóteles, que estudou profundamente, integrando-o na sua lógica, tudo quanto havia de assimilável no pitagorismo. Erram portanto quantos escrevem ser a lógica aristotélica fundamentada sobre uma incipiente sistematização zoológica, meramente referida a géneros e espécies.
São muito bem intencionadas as tentativas de procurar, para além da convergência dos idiomas, a essência universal que lhe dá aspecto de espírito comum. Ao longo dos séculos muitos filósofos se esforçaram por dizer-nos o que é o espírito, ou formular uma ontologia do Espírito, por maior ou menor analogia com o espírito humano. De sinceridade é que, apesar de todas as ousadias dos pensadores ingleses e dos seus discípulos alemães, está-nos vedado realizar algo de equivalente a uma anatomia do espírito, com sua representação figurativa no espaço, e com a consequentemente delimitação de funções, ou fisiologia, porque a verdade o transcende. Não é possível uma ontologia do Espírito, porque a coisa-em-si está envolta no mistério.
Descendo da ontologia para a psicologia, outra vez se nos depara a dificuldade de distinguir as faculdades ou funções do espírito humano, de as analisar e de as medir, por falta da unidade irredutível. É esta, aliás, a crítica essencial à psicotécnica e à técnica dos testes. No seu livro sobre a quantidade e a qualidade, mostra Henrique Bergson que apesar de as expressões maior e menor, aplicadas aos fenómenos psíquicos, atraírem as expressões mais e menos, não é possível realizar as operações de adição e de subtracção com números convencionais ou aproximados. O exemplo mais simples está na crítica às leis de Weber e de Fechner, onde o filósofo mostra que na tradução da quantidade para a qualidade, encoberta pela linguagem, está o paralogismo da transgressão do corporal para o anímico, ou vice-versa, enfim, o postulado erróneo da psico-física».
Álvaro Ribeiro («Liceu Aristotélico»).
«Toda a nação que se isola não se propõe em forma de pátria. Portugal foi, na nova idade, o primeiro povo a contrariar o isolamento e com isso indicou aos outros povos a solução da Europa. A vida dos homens e a dos povos só se cumpre, só se realiza, quando eles se oferecem, quando são tanto de si como dos outros. Povo que seja só de si próprio carrega-se da sua parte que lhe não pertence, e mais tarde ou mais cedo sofrerá as consequências de ter-se acumulado, pois que, fazendo-o, falseou o exercício fraternal que lhe competia. E não é mais deficiente a acção do povo que sai do seu território e recua, que a do que se ensimesma, porque tanto um como outro são povos em recusa. Por processos diferentes, ambos se negam a dar a ajuda sem a qual não darão prova de entender o trânsito da Humanidade. Portugal encontrou na sua solução a solução da Humanidade, ou, mais precisamente, na Humanidade, a sua. E, contudo, apesar de dar-se isso, a Europa não se solucionou. Se buscarmos os recíprocos planos de convívio dos restantes povos, verificamos que a fraternidade tem sido recusada da forma mais activa, e negativa. A história da Europa no-lo prova em todas as suas épocas e por isso chegou ao limiar da segunda metade do século XX, e nele entrou, de certo modo desautorizada. O facto de em seu próprio seio haver nações subatrasadas e subalimentadas e homens subjugados das mais diversas maneiras prova o secundarismo de um exercício fraternal. Esse exercício não corresponde aos imperativos da Humanidade, não activa o trânsito, nem promove o homem. A Europa, desentendida, arrisca-se ao declínio. As suas tentativas desesperadas para reter o poder de orientar o mundo estão realmente a frustrar-se, pois preferiu à promoção a subjugação. A ajuda da Europa aos autóctones de outros continentes não respeitou tanto quanto devia as necessidades deles, e o conceito da sua civilização transfundida na crença de única civilização adequada ao devir não tem o menor fundamento. E essa crença conduziu ao desrespeito dos direitos consuetudinários, a um testemunho de desconhecimento da totalidade do homem ou da realidade de um só homem e à consequente destruição ou paralisação de todas as reservas morais que deveriam ser as manifestadoras das virtualidades características de cada povo. Mesmo que a Europa colonizadora julgue que se não haja traído, traiu-se ao considerar que havia um outro homem menor.
Pelas Navegações os portugueses resolveram o problema do amor do seu próprio povo e de outros, no imediato, e mercê disso um e outros se tornarão um só no mediato. Por isso os da iniciativa aparente são os portugueses primeiros e a teoria de povos que em continuação consubstanciaram Portugal os portugueses segundos. Mas porque primeiros e segundos partem da anterioridade ao mesmo tempo de um mesmo porto, primeiros e segundos progressivamente deixarão de distinguir-se, presos ao mesmo ideal além. Os portugueses eram povo sem exercício de amor e os outros que o eram, também. As lendas de amor, tão férteis na literatura oral portuguesa, provam, não os acontecimentos, mas a apetência deles. Muitas dessas lendas continuam a caminhar não apenas ao longo dos caminhos e atalhos ou transpondo serras e rios, mas até, insistentemente, ao longo dos decénios. Muitas delas envolvem-se de fundo exotismo e quase todas do indomínio do trágico. Ora pelo trágico se dá notícia da incapacidade aparente circunstancial e pelo exotismo a apetência para a proposição do amor no espaço. As lendas, e os romances, não dão, pois, notícia da experiência de amor, mas, exactamente, a falta dela, e consciência disso. A literatura oral portuguesa é no aspecto exótico-trágico a mais substancial da dos povos europeus. Não quer dizer que por ela se fique a saber alguma coisa das virtualidades do povo que as gestou, visto que se expressou sempre ou quase sempre em relação ao depois. Os seus temas só se explicaram, quando sobre elas foi possível estabelecer a retrospectiva, quando foi possível estabelecer juízos comparativos entre a essência revelada e o evidente posterior. O ambiente que então foi possível entender-se tinha as duas referências sobrepostas no espaço, mas estavam desajustadas no tempo. O desajuste promove, contudo, um movimento futurante, e por isso o amor, nos ou dos portugueses, se expressa num trânsito absolutamente original. Ao tornarem-se irradiantes os portugueses propuseram por esse mundo fora o tema do amor, não segundo a sua experiência, que a não tinham, mas segundo a sua apetência. A biografia portuguesa do amor ou a biografia do amor português tem hoje uma expressão válida mesmo no seio de outras famílias ou línguas.
O amor português tomou plano de filosofia. Tornou-se sobretudo vulto não como sinal de aventura ou de suavidade regressiva, mas como força perfurante no espaço e no tempo, pelo que é núcleo social de toda a fraternidade intuída e cumprida no antes. O povo propunha e propunha-se, então, em termos de descobridor do amor, e propunha-se bem porque se sobrepunha com o ideal do amor. Não tinha possibilidade de investigar sem dar-se, porque a filosofia quando proposta em termos de amor não pode deixar de ser recíproca. A aproximação, em função recíproca, propõe ou consente que as virtualidades sejam equacionadas não apenas pelos aparentes utentes dela, como pelos outros que se conjugam. A compreensão do ideal do amor autoriza-se em filosofia, e, assim, a investigação. Quem somos, quem são, para onde vamos são interrogações que os homens e os povos se devem propor continuamente, por percepção ou aprendizagem não importa. É a partir delas que o convívio humano se explica, que não há possibilidade de convívio sem explicação. Se não há interrogação, seja por proibição, seja por incapacidade, o encontro não se realiza em plano de futuração, e os comparticipantes, responsáveis ou não, não se realizam.
Assim, pois, a primeira investigação do homem deve ser acerca de si próprio. Só quando ele o começa a fazer se exercita na prática filosófica, e quanto mais cada um o fizer mais a sociedade se responsabiliza no seu próprio destino. Não há sociedades que do seu destino possam tomar ampla responsabilidade sem estarem estabelecidas nesse exercício, e à responsabilidade do seu próprio destino está inerente a compreensão do destino da Humanidade. Há, evidentemente, - mas cada vez menos - grupos humanos que ainda não patentearam posse dessa responsabilidade face ao seu próprio destino, e esses estão aparentemente isolados como número base que aguarda expoente para se iniciar na progressão. A progressão está, portanto, garantida e implicada naquela circunstância, e seja em que hora for será inevitável. Enquanto isolado o homem vive em ciclo trágico e amedrontar-se-á frequentemente do futuro, pois que só o equilíbrio da filosofia, da pedagogia e da política o tornarão confiante na sua vida social. Sem este equilíbrio, o homem, sujeito aos saltos e aos acasos, reveste-se de medos que podem firmar-se como atávicos e tornar-se-á mais religioso que inteligente, porque, abrigado no refúgio emocional da sua crença se justificará do medo. A noção do trágico destitui o homem da vontade, ou redu-la das suas perspectivações, pelo que só servirá não o verdadeiramente superior do homem, mas o resto. Quer dizer, que a vontade, assim, cicunscreve-se ao inevitável, ao quase instintivo, e a consciência dela decai. O homem que se encontra, que toma conta de si próprio, que se investiga, naturalmente que a pouco e pouco reage ao trágico, injustifica o medo e usa, como deve, a vontade.
Mas o homem que se investiga apenas, não se cumpre se não alarga a sua capacidade investigadora para fora do seu grupo, ou povo, e se a não conjuga com a recíproca. E no querer conjugar dá-se. Ponto importante, pois, que o homem se conheça, que para melhor se conhecer busque conhecer os outros, que para melhor conhecer se dê a conhecer. Esta cadeia, cujos elos são inexplicáveis sem a explicação da sua correspondência, contém a expressão accionante e promotora que autoriza considerar-se que nenhum homem ou povo se encontra em missão diferente, mas todos na mesma posição e situação relativas. Ninguém ou nenhum povo tem razões para se considerar usufrutuário de especiais regalias, e comprometem a finalidade da sua acção, que mesmo quando particular nunca deve deixar de conter uma posterioridade comum, se como tal se considerarem. O homem tem de conviver, e num tão grande plano de consciência que se reverencie em formas promovidas das dos animais. Espírito e sangue têm de dar-se mutuamente, não apenas no seu sentido teórico, mas, também, na sua finalidade humana. E dar-se espírito e sangue não significa senão o estabelecimento de uma comunhão em plano social contínuo. O povo que chega não leva razões de prioridade face à solicitada comunhão, que só por isso ela se impossibilitaria. E ao procurar investigar as teorias frutificantes do povo encontrado, mal actuará se o observar como a cobaias ou a animais das reservas. Muitos povos que se propuseram como colonizadores procederam assim, e por isso os povos encontrados foram profundamente sacrificados e a teoria das suas virtualidades esmagada ou atrofiada. Não interessou, portanto, conhecê-las, e por tal atitude se prova que menos ainda importou a esses colonizadores que fossem na realidade conhecidos pelos autóctones senhores dessas paragens. O conhecimento recíproco dos povos não foi nem por isso impossibilitado que ele é inevitável no trânsito da Humanidade, mas permitiu-se a continuação da progressão aritmética ainda quando se indicava exacto o momento da progressão geométrica. O não-isolamento é em consequência inevitável, mas o encontro com tais tipos de colonizadores deu ao homem encontrado a nociva experiência do isolamento. O homem preso aos seus circuitos milenários não sabe que não progride, nem sabe que está isolado. E a verdadeira colonização será libertá-lo do circuito, fazê-lo progredir e criar-lhe consciência de não-isolamento pela conjugação do subestante com o que lhe é dado. O homem ou o povo que em perspectiva se vejam menores paralisam-se; a consciência da menoridade só não é paralisante quando já é retrospectiva, sinal de que a progressão é geométrica. Quando simultaneamente ao encontro os conquistadores e colonizadores não deram notícia do seu plano de fraternidade, o homem encontrado, isolado, não foi o não-isolamento a noção de que se apossou, mas da do isolamento, porque o encontro lhe não revelou uma nova forma de convívio, mas precisamente lhe explicou o que era o não-convívio.
É compreensível que a povos que não intuíram o sentido mediato das navegações estivesse vedada a teoria da colonização. E por isso os povos que na pegada dos portugueses se lançaram recobrindo as suas rotas ou estabelecendo outras, não propuseram, face a esses povos, um exercício social conducente à fraternidade. Mas se é compreensível que a povos que não intuíram o sentido mediato das navegações estivesse vedada a teoria da colonização, incompreensível é que tais povos se tivessem proposto como colonizadores. Com efeito, as grandes potências que como tal se apresentam, não o foram em realidade visto que não foi o exercício social conducente à fraternidade o fulcro do seu gesto. Pelo contrário, traíram tal desiderato demonstrando que estava isolado o homem que se mostrava isolado.
A obediente proposta portuguesa contém o voto do conhecimento recíproco dos povos e, portanto, a força ou expressão anulatória do isolamento. O não-isolacionismo é consequente da colonização proposta em termos únicos, porque o homem, nas questões fundamentais do seu destino, não tem alternativas. Pode realizá-las no momento em que se perceptam ou depois, mas não pode escolher entre o realizá-las e o não realizá-las. Quando o homem individualmente escolhe, entre o realizar e o não realizar, o não realizar, em boa verdade não se garante da permanência da sua escolha, mas, tão somente, da transcendência do momento quando. Ele não escolhe, como a aparência sugere, entre o sim e o não, mas entre o sim-agora e o sim-de-depois. Ele não pode escolher o não. E não pode, portanto, desobedecer. E por não poder escolher o não e por não poder desobedecer a Deus o homem se afirma e se confirma livre. E por esta igualdade, não se pode evitar que o conhecimento dos povos venha a ser recíproco, pois assim todos se investigarão e investigarão o outro, e uns aos outros se darão em dádiva plena».
Fernando Sylvan («Filosofia e Política no Destino de Portugal»).
«Digna de um momento de meditação é a convergência do idealismo absoluto com o absoluto positivismo na intenção de transformar em ciência a filosofia. Vê-se que tanto em Hegel como em Comte há o propósito de opor a ciência à crença, e quem diz à crença diz à fé. Vê-se que tanto em Hegel como em Comte há o convencimento de que o pensamento humano chegou à última fase da evolução. A filosofia alemã e a francesa, filosofias da Europa Central, julgaram ter dito enfim a última e mais alta palavra da sabedoria humana, e fixando doutrina, confiavam aos doutos a missão final de transformar toda a teoria em ciência e toda a prática em técnica.
Estabelecida a vitória da técnica e da ciência, preferível seria eliminar do sistema da cultura a palavra filosofia, como desejava Augusto Comte, a mantê-la nas escolas com significação inexacta e inautêntica. O pensamento gnósico, sófico e pístico não cessaria, por isso, de se exprimir nas artes, tornar-se-ia até mais livre, porque deixaria de se subordinar ao condicionalismo do ensino público. Seria preferível, dizemos, a estabelecer o preceito de que a filosofia deve ser estudada e ensinada como ciência exacta e rigorosa.
[...] O desenvolvimento dos estudos sociológicos, especialmente dos que são conduzidos segundo esquemas abstractos e gerais, produzidos por sábios que temerariamente se jactam de representar a universalidade, não pode deixar de chegar a provocar, por reacção inevitável, o correlato estudo das particularidades e das singularidades que se manifestam nos povos e nos homens. A uniformização sociológica da humanidade é uma utopia: poderemos imaginar que um movimento de política internacional elimine e anule, como superstições populares ou nacionais, as diferenças que restam do passado ou que se observam no presente; não é, porém, difícil conceber que novas alterações hão-de surgir, para desespero dos sociólogos, enquanto o espaço e o tempo forem meios heterogéneos e diferenciantes. O império cultural da sociologia há-de ser efémero, e depois desmembrado, para se concretizar em novas disciplinas de geografia, de história e de literatura, o que anuncia inevitável ressurgimento dos estudos filosóficos.
 |
| Clique em cima para ampliar |
É efectivamente nos textos literários, políticos e religiosos que se encontra mais fielmente expressa a filosofia de cada povo, embora da expressão para o pensamento haja ainda uma distância que só pelo estudo do positivo, do comparativo e do superlativo o homem inteligente poderá com certeza dominar. A dificuldade da filosofia reside exactamente no inefável plano da mediação. Aristóteles, ensinando aos seus discípulos o silogismo, renovou a arte de em tudo ler o universal».
Álvaro Ribeiro («Apologia e Filosofia»).
«Abater fronteiras! Riscá-las dos mapas! Apagá-las das almas.
Eis um ideal que se renova em cada geração: um ideal romântico, que aspira à imediata realização do homem universal, do homem transcendente às nações e aos nacionalismos, às pátrias e aos patriotismos. Ideal que mergulha as suas raízes no "passado" cultural da humanidade. Podemos detectar as antigas pegadas deste ideal na civilização helenística supranacional, visionada por Alexandre; no romano-centrismo imperial de César e de Augusto; na afirmação cristã de que os homens pertencem a uma pátria que não é deste mundo, e de que portanto só tem sentido a cidade universal dos homens enquanto potencial cidade de Deus; consequentemente, nas tentativas e nas teorizações de uma República Christiana, dos Impérios sonhados por Frederico, ou por Carlos V, ou até mesmo do V Império lusocêntrico, Império do Espírito Santo, conciliador de todas as desavenças e todas as cisões através do Espírito da Verdade, ou ainda do Império Napoleónico, agora galocêntrico...
Com a crise do conceito de Império - pois que a supranacionalização era conquistada e imposta afinal de contas por uma pátria centralizadora e absolutista -, deu-se a canalização do mesmo ideal para um princípio a que podemos chamar o internacionalismo.
[...] O facho do antinacionalismo teórico e revolucionário foi levantado pelos partidos socialistas e comunistas. Mas as Internacionais não conheceram melhor fortuna do que os Impérios. A I Associação dos Trabalhadores durou dez anos. A sua existência não resistiu à cisão entre os comunistas, dirigidos por Marx e Engels, e os anarquistas, encabeçados por Bakunine. Não resistiu sobretudo à guerra europeia de 1870, que despertou o espírito nacional na França e na Alemanha. A segunda guerra europeia - de 1914-18 -, marcou o fim da II Internacional, cujos adeptos, na sua maioria, fraquejaram perante o apelo patriótico. A III Internacional, inspirada por Lenine, foi russo-cêntrica, o famoso Comintern. O seu fim foi apressado pela luta entre Trostky e Estaline e, é bem evidente, pela terceira guerra europeia. O domínio soviético, a reaparição do velho nacionalismo russo foram postos em relevo pela cisão da Jugoslávia de Tito e pela satelização da Europa de Leste; mais recentemente, pela revolta da Hungria e pela invasão da Checoslováquia. Em vez do Internacionalismo, a ressurreição do antigo conceito de Império, com a Rússia a exercer a função desempenhada nos tempos passados por Roma, pela Alemanha, pela Espanha, com homens de confiança do tipo sátrapas a dirigir os países satélites, com Partidos transformados em grupos de pressão, trabalhando a favor da "pátria-mãe do socialismo mundial".
Situação que não podia deixar de explodir: todos estes países e partidos lutam hoje por "vias nacionais" para o socialismo, insatisfeitos perante a ideia de uma vassalagem contrariante da sua liberdade. Fala-se de uma IV Internacional, que seria a Internacional dos estudantes, inspirada por Mao-Tsé Tung, por Che Guevara, por Trostky, Internacional simultaneamente anticapitalista e anti-soviética, mas a sua realização seria por certo ainda mais frágil do que as tentativas anteriores.
Em escala um pouco mais reduzida, outras Internacionais agitam as almas e atraem muitos espíritos: por exemplo a chamada Tricontinental - Organização de solidariedade dos povos da África, da Ásia e da América Latina -, concebida para lutar contra o capitalismo e a aliança euro-norte-americana; por exemplo a OEA, a Organização dos Estados Africanos; num pólo oposto, as Internacionais dos países capitalistas, cujas dificuldades de realização não são menores: a Europa-nação, a Europa do Mercado Comum, a Europa das democracias liberais; o pan-africanismo e o pan-europeísmo foram precedidos pelo pan-americanismo mas também este está em regressão, tão ténues são as afinidades sociais, económicas, culturais e políticas entre as três Américas: a da língua inglesa, a da língua espanhola e a da língua portuguesa.
Em suma, em qualquer das suas interpretações - a imperialista ou a internacionalista, a capitalista ou a socialista, a democrática ou a absolutista -, o ideal de um mundo sem fronteiras desfaz-se constantemente contra o rochedo forte da realidade.
Ideal defendido retoricamente, ardorosamente, teimosamente, em vez de progredir, no entanto retrocede. Continuam as utopias de ficção científica a figurar uma era futura em que já não há guerras porque já não há nações. Mas, entretanto, a tendência do real é para a pulverização em número cada vez maior de países: tal acontece na África e na Ásia, por exemplo; e são inúmeras as reivindicações separatistas de províncias que querem voltar a ser pátrias, como por exemplo o país Basco, na Espanha; a Bretanha, na França; a Escócia e o País de Gales na Grã-Bretanha; o Quebec, no Canadá; a Ucrânia, na União Soviética; o Biafra, na Nigéria - para citar apenas alguns casos de agitação muito recente e para não mencionar os países divididos em dois pela estratégia internacional das grandes potências: a Alemanha, a Coreia, o Vietname. Há quem demonstre, por outro lado, que a única forma de resolver o problema do totalitarismo russo ou chinês - países que, pelas suas dimensões excessivas não poderiam ser governados senão em regimes de ditadura - é a sua divisão em várias nações, de acordo com os vários grupos étnicos.
O último desenvolvimento teórico do ideal supranacional - ideia inteligente, sem dúvida - é o que, inspirado no pensamento federalista de Denis de Rougemont, preconiza a substituição das nações por regiões. É uma tese que mergulha as suas raízes no microcosmos sui generis da Suiça. Mas podemos transformar o mundo inteiro numa Suíça? Talvez.
[...] Depois dos nacionalismos militaristas, de que foram expressões o nazismo ou o fascismo (nacionalismos telúricos e racistas, não corrigidos por um universalismo espiritual), a inteligentzia europeia desvalorizou os conceitos de nação ou de pátria. Viu numa próxima humanidade sem fronteiras a solução para as guerras. Foi um período de utopismo emocional, que, mal fundamentado todavia, depressa foi ultrapassado pela própria realidade.
Efectivamente, todas as tentativas de realização de supranacionalidades por alguma razão conheceram o fracasso, desde a expansão russa para os países socialistas de Leste até ao pan-americanismo, desde o projecto dos Estados Unidos da Europa cujo núcleo inicial seriam os países-membros do Mercado Comum até à União Árabe ou à unidade da península industânica. Aliás, uma supranacionalidade (federativa ou imperial) seria ainda uma nação, embora uma nação maior. A super-nação humana, que a ONU até certo ponto deseja prefigurar, pertence a um futuro tanto mais longínquo quanto continuem a incompreender-se ou a subestimar-se as razões que levaram à criação civilizacional das comunidades orgânicas».
«[N]ationhood as we know it will be obsolete; all states will recognize a single, global authority».
Strobe Talbott (CFR), «Time Magazine», July 23, 1992.
«We cannot leap into world government in one quick step... [T]he precondition for eventual globalization - genuine globalization - is progressive regionalization, because thereby we move toward larger, more stable, more cooperative units».
Zbigniew Brzezinski (CFR), President Carter’s national security advisor and a founder of the Trilateral Commission, in an address to world leaders at Mikhail Gorbachev’s 1995 State of the World Forum.
«The UN must gear itself for a time when regionalism becomes more ascendant worldwide and assist the process in advance of that time. Regional co-operation and integration should be seen as an important and integral part of a balanced system of global governance».
The UN-appointed Commission on Global Governance’s 1995 report, Our Global Neighborhood.
«The nation-state will undergo sharp limitations on its sovereignty...».
Henry Grammald (CFR), «Wall Street Journal», Jan. 1, 2000.
«Much power now vested in the nation-state is indeed starting to migrate to international institutions...».
Robert Wright, «The New Republic», Jan. 2000.
ESPELHO DO PENSAMENTO
Ao Fernando Sylvan, autor de Filosofia e Política no Destino de Portugal
A II Guerra Mundial, tentativa sangrenta de resolver o problema da Europa e do Mediterrâneo, terminou na condenação dos nacionalismos políticos, culturais e filosóficos. Mais uma vez observou Portugal a alta maré do internacionalismo, ou do universalismo, que persevera na ambição ideal de reger a História. A Organização das Nações Unidas mandava impor ao Mundo, por meios pacíficos e suasórios, uma cultura unificada, para o que foi em 1945 assinada em Londres a carta orgânica da UNESCO, e em 1946 distribuído o opúsculo de Julião Huxley sobre A UNESCO, Suas Finalidades e Sua Filosofia (1).
Em tempos tão adversos ao princípio das nacionalidades, proclamava quase toda a imprensa o próximo advento de um universalismo redentor configurado na gradual federação de Estados, unidos em torno de um governo comum. A Europa era convidada a federar as suas nações. Tentavam os publicistas demonstrar que tal política, sem fronteiras sócio-culturais, seria indispensável para a felicidade económica dos povos e para estabelecimento da paz mundial.
Protestando contra essas tendências ideológicas, explicaram os nossos escritores humanistas que o nacionalismo só poderia subordinar-se a um universalismo de ordem transumana, como é o da Igreja Católica, já que qualquer doutrina com origem determinada no mundo, isto é, em certo instante do tempo e em certo ponto do espaço, não ostenta validade tal que aconselhe alguém a propô-la ou a impô-la a todos os indivíduos e a todos os povos. Nenhuma nação simples, nem nenhuma nação composta, como a união dos organismos nacionais, pode arrogar-se o imperativo categórico na ordem do dever, ou elaborar um direito público internacional contra o qual protestem as consciências esclarecidas. Cumpre ao escol nacional ver e fazer ver como é que o imperialismo se disfarça ao propor por prestígios económicos e financeiros a tese de que é conveniente uniformizar e comunicar as técnicas instrumentais e os processos mecânicos, entre os quais a contagem automática das votações majoritárias que decidem a seu talante, sem que as minorias vencidas possam alegar restrições das suas liberdades e das suas independências.
 |
| Capelas Imperfeitas (Mosteiro da Batalha). |
 |
| Ver aqui |
Esta sofismação é de há muito conhecida pelos povos europeus que formaram a sua cultura filosófica ao abrigo da Escolástica, e que desinteressadamente meditaram sobre os resultados do exame feito ao problema dos universais. A eliminação de entidades intermediárias, transitórias e transitivas, cujo conceptualismo e cujo realismo ficam suspensos da crítica, permite simplificar todos os problemas jurídicos pela formação de dialéctica entre o indivíduo e a sociedade. Entre o indivíduo, ou um corpo humano, e a última ficção jurídica que será a Humanidade, a Sociedade, o Estado, com qualquer designação conferida pela última doutrina da moda, não se intercalam realidades objectivas ou categorias mentais que mereçam ser consideradas na formulação dos fins do direito, e assim um dado de concreção mental e material como a Pátria estará sempre excluído do enunciado internacional dos eternos princípios.
Pensadores habituados pelo ensino aristotélico ao exercício lógico das categorias e sequentes garantias objectivas nunca poderiam admitir que no mundo condicionado pelo espaço e pelo tempo deixem alguma vez de existir as entidades sociais que ainda denominamos nações. A pluralidade indefinida jamais será unificada pela força de um Império. Não está demonstrado que por unificar, ou unicar, os meios de comunicação a Humanidade anule a diversificação militante ou incessante.
Tópico habitual do jornalismo português era então a luta entre o Oriente asiático e o Ocidente americano, esquecida a mediação singular da própria Europa. Deveria Portugal considerar-se um país pequeno, de solo e de gente humilde, para contentar-se com ser então um mero seguidor e adaptador que navega sobre os sulcos que lhe iam sendo deixados pelos Estados pioneiros da Civilização Unificada. No cumprimento das boas relações diplomáticas com os Estados Unidos da América do Norte, a ONU e a UNESCO, os jornalistas pareciam ignorar que a chamada América do Sul, ou América Latina, é a viva projecção cultural da Península Ibérica, para a qual ainda olham com esperança quantos leram a Decadência do Ocidente de Oswaldo Spengler.
O nacionalismo português para subsistir como doutrina, foi obrigado a desligar-se da argumentação tradicional, e deu lugar a um novo movimento de cultura que se caracterizou essencialmente por substituir a fundamentação histórico-geográfica pela legitimação jurídica, isto é, por conferir significação, à política realizada em nome da Pátria. A nova doutrina iria necessariamente ferir a inconsciência, e até a consciência, daqueles homens que, hostis ao digno esforço de pensar, se limitavam a repetir um nacionalismo de fachada, oficial e oficioso, e a adaptar aos ventos da história as velas dos seus galeões de interesses mais ou menos práticos. A acção política, com seus episódios benéficos e maléficos, prosseguia normalmente num ambiente de estagnação doutrinária, sem crítica nem inquietação filosófica.
Ao observarem, de longe e a tempo, que a Pátria estava a ser ameaçada, os novos nacionalistas iam enunciando com plena consciência que o problema português consistia em formar, quanto antes, um escol de pensadores, escritores e artistas apto a defender a cultura nacional de todas as polémicas afiançadas em nome da ciência, da técnica e da civilização. A meio do século XX foi oportunamente afirmado que esse escol poderia ficar constituído no prazo de sete anos, sem aumento de encargos para o tesouro público mas com radical supressão dos impedimentos burocráticos, se para tal finalidade fossem sincrónica e simultaneamente mobilizadas todas as nossas instituições de cultura, educação e ensino. Na segunda metade do século XX poderia ser a Universidade de Lisboa, com sua bela arquitectura de edifícios separados, na zona urbanisticamente remodelada das antigas Escolas Gerais até às Portas do Sol, a primeira da Europa, graças ao valor intelectual da sua corporação de doutores.
Este apelo à mobilização das energias psíquicas pela didáctica certa de um novo sistema doutrinal mereceu o natural desprezo de quantos descrêem das virtudes do povo português. Ninguém se atreveu a comentar por escrito um alvitre que só parecia digno de desdém. Foi tal hipótese de trabalho considerada como uma utopia a mais a juntar a outras muitas megalomanias que constam da nossa longa história.
A 4 de Junho de 1958, quando candidato a Presidente da República Portuguesa, pronunciou o Almirante Américo Thomaz algumas palavras que merecem ficar registadas na história da cultura portuguesa. Reza assim esse texto memorável:
«Portugal, com uma população diminuta em relação à actual, expandiu-se, no século de Quinhentos, por distâncias então consideradas praticamente infinitas. Os Portugueses desse tempo, dilatando a Fé e o Império, cometeram proezas inenarráveis e escreveram uma epopeia sem igual na História Universal. Os vestígios por eles deixados, não só ao longo de quase todos os Continentes, como no seu interior, a centenas de quilómetros da costa, mostram que os portugueses de Quinhentos não eram homens, mas verdadeiramente gigantes. A sua memória deve merecer-nos respeito completo e comandar as nossas atitudes. Obriga-nos, consequentemente, a que transmitamos aos nossos filhos um Portugal tão Português como o que por eles nos foi legado, e as minhas últimas palavras são para lembrar aos portugueses de hoje o patriotismo sem mácula dos portugueses de antanho».
Dada a autoridade de quem provieram, e de quem as poderia transformar em actos, tais palavras, que relembram certos passos da epanáfora terceira de D. Francisco Manuel de Melo, significaram para muitas almas de leitores e ouvintes a promessa formal de que a escola seria confiada à interpretação filosófica do ideal português.
Esse patriotismo, capaz de engrandecer e agigantar o povo fidelíssimo, só poderia ser no século XX realizado por uma escola formal cujos ensinamentos proviessem de tradição lusitana. Dir-se-ia que a ideia da Civilização Atlântica, ou da Atlântida, aparecia de novo como estímulo de ressurgimento das virtudes populares e fora do espaço mediterrâneo, como estrela orientadora do escol português. Infelizmente agravava-se a crise da Pátria, por falta de entendimento ou por desentendimento, entre as sucessivas gerações e as afastadas províncias, num mundo condicionado pelo tempo e pelo espaço, com suas divisões que só o Espírito consegue reunir.
Ante a crise da Pátria, revelada a 6 de Janeiro de 1961 pelo ataque à província de Angola, e a 18 de Dezembro do mesmo ano pela invasão de Goa, assumiram especial preponderância os problemas de acção política, quer de acção militar nas fronteiras invadidas, quer de defesa diplomática perante as organizações internacionais, ficando os problemas pedagógicos e os problemas filosóficos reconduzidos à sua habitual subordinação. Mais preciso será dizer que os problemas pedagógicos e os problemas filosóficos continuavam a ser confiados a especialistas de informação estrangeira, se não de formação estrangeira, pelo que mais uma vez o patriotismo e o nacionalismo se cingiram à legitimação na prática da administração pública. Ante a indeterminação doutrinária que o jornalismo militante e o conferencismo aberrante não logravam esconder, surgiu em 20 de Junho de 1961 a série de conferências sobre o Ideal Português: (na filosofia, na pedagogia e na política), efectuando assim um protesto cultural sem comparação com os discursos contemporâneos, mas aproveitado e imitado por mais felizes oradores de cerimónias públicas (2).
O Movimento de Cultura Portuguesa, que começara a delinear-se no primeiro número da revista Litoral, firmou-se na declaração de que «sem autonomia cultural não há independência política», e adoptou como recurso demonstrativo das suas teses a conhecida distinção entre as condições necessárias e as condições suficientes (3). Para desenvolvimento da mesma ideologia em várias respostas sequentes, foi considerada a tríade pensamento, palavra, acção para sobre ela ser enunciada como que uma nova lei dos três estados, segundo a qual a doutrinação filosófica precede a pedagógica e esta a política, na fluência das gerações, o que permite escrever a história de modo a relacionar as causas com os efeitos. Esta tese iria contrariar quantos julgam que a política pode ditar a pedagogia e escolher a filosofia, e iria combater o nacionalismo absoluto, aquele que parece julgar-se tão isento de preocupações pedagógicas como independente de leis filosóficas, mas transige na teoria e na prática com as modas existentes em outras nações ou com o internacionalismo predominante.
Nos termos propostos pela doutrinação deste Movimento, cessando a actividade filosófica cessa a actividade pedagógica, e cessando a actividade pedagógica cessa a actividade política, embora a rotina, que é a substituição da actividade pela passividade, mantenha aparências que permitam contradizer a afirmação e favorecer a indolência dos que para seu conforto evitam o encontro com a verdade. A importação da cultura, ou tradução dos meios de cultura, obrigando a tomar por paradigma tudo quanto se faz lá fora, tem por consequência obrigar o povo a ser movido por outrem, em heteromoção ou heteronomia, em vez de se mover por si, em vez da automoção ou autonomia. Conviria, pois, determinar o momento histórico em que o povo português, dotado daquelas qualidades superiores que raros publicistas designam de lusitanas, começou a sentir a sua alma reprimida, recalcada, inibida por um erróneo sistema de docência e de didáctica que lhe inspirou um espírito adverso.
Várias hipóteses têm sido aventadas quanto às causas de decadência do pensamento português, e muitas delas surgiram maculadas por uma intenção polémica a que a revisão da cultura destituía de valor. A cada alteração profunda de vida política como, por exemplo, no momento de nova eleição do Chefe do Estado, ressurge o problema na esperança de que seja enfim renovado o escol. Sem escol filosófico de pensadores, escritores e artistas que proponham directrizes à acção cultural, educativa e pedagógica ficam entregues os destinos do povo a homens de acção, que assim se designam por oposição aos homens de pensamento.
Verifica-se muitas vezes porém que a acção aparente não é mais do que paixão inconsciente, e os homens apaixonados caracterizam-se por uma mobilidade que nem por isso é sinal de liberdade. Seguir ou imitar a acção alheia é muitas vezes indício de paixão. Ora não é raro ver que os homens práticos, até pela terminologia usada em seus discursos, se denunciam imitadores e seguidores do que se pratica no estrangeiro.
A interferência dos homens de acção nos domínios superiores da doutrina ou da teoria, nem sempre louvável, só pode legitimar-se por esclarecido amor da Pátria, mas acontece ser frequente vermos militares, engenheiros e contabilistas interferir afirmando, discutindo, legislando para além das fronteiras que lhes deveriam ser vedadas. Esses homens de leviano atrevimento, que ostentam grande desdém pelo pensamento filosófico, e maior desprezo pelas pessoas dos filósofos, logo no falar e no escrever se denunciam tristes desconhecedores das virtudes do idioma nacional, já que a cada momento mostram hesitação no que as palavras significam, embora saibam o que elas designam, e não se importam de deixar ao ouvinte ou ao leitor a verificação de que vão cometendo sucessivos erros. Tal acontece porque os técnicos presumem de poliglotas, colhem as suas informações em periódicos franceses, ingleses ou alemães, e não se dão ao esforço de pensar em traduzir, deixando sinal de quem não respeita, estima ou ama o público a que se dirige.
 |
| Torre de Belém |
Não diremos que nesses textos se nos deparam aqueles erros imperdoáveis em quem frequentou a instrução primária ou o primeiro ciclo dos liceus, porque certamente o revisor tipográfico os eliminou por zelo profissional ou por honra da imprensa editora. Distinguimos, sim, as incorrecções habituais mas fortemente contagiosas da prosa burocrática, na qual o revisor não interfere com receio de ofender a liberdade do estilo:
- repetição incessante da palavra se em todas as acepções gramaticais, com a intenção de impessoalizar e indefinir o que não conviria designar com exactidão e rigor;
- uso abusivo do gerúndio contra as regras da gramática e a índole estilística do idioma, usado tanto para enunciar a simultaneidade de acções, como para designar as relações de causa a efeito ou de meio a fim;
- abuso dos verbos auxiliares ser, estar, ter, haver, com inclinação da frase para a voz passiva;
- emprego dos verbos modais poder, dever, etc., para exprimir relações de tempo, especialmente para designar o futuro presuntivo, com enfraquecimento da acepção categorial;
- verbos transitivos seguidos de complementos directos que tornam absurda ou inverosímil a expressão que for analisada em segunda e demorada leitura;
- decalque de tropos válidos em línguas estrangeiras mas insólitos ou incoerentes em português.
A leitura desses textos continua a ser de triste augúrio para quem sabe, pelo estudo histórico, os malefícios que desde há séculos causaram os livros estrangeiros traduzidos em mau português e a legislação estrangeira traduzida em mau português, ao abrigo das convenções de direito internacional público e privado.
Ora ao homem que escreve de ciência, de ensino e de educação parece lícito exigir, se não a eufonia cadenciosa das orações académicas, pelo menos as aptidões estilísticas no uso superior das palavras que põe, dispõe ou compõe nos seus discursos de pretensões ou proposições legislativas. No caso, aliás frequente, de não haver feito suficientes estudos de português, deveria pelo menos ter a humildade de recorrer à revisão do texto por um escritor qualificado de filólogo. Certo é, porém, que quanto mais luxuosa for a apresentação dos textos oficiais, tanto mais desagradável se torna o realce dos erros de sintaxe e de estilística, mais incivil é a prova de desprezo pela arte de escrever. Seguindo o método preconizado pelo Movimento de Cultura Portuguesa, na ordenação da sua tríade heurística, verificaremos que os homens de acção, desconhecedores da etimologia e da semântica, como das figuras de retórica e das categorias da lógica, erram também na propositura de um pensamento nacional. Ignorando a finalidade superior da educação humana, porque lhes falta o entendimento filosófico da transcendência ou o significado religioso da transcensão, esses homens tomam por indiscutível o ideal moderno do ensino prático ou do ensino técnico, e consideram a habilitação profissional como predominante preparação para a vida. Fixando como ponto de mira o trabalho de produção económica, deixando à margem os cálculos referentes ao comércio e ao consumo, e eliminando a possibilidade de alterações súbitas na técnica industrial, nas fontes de energia, nos territórios de matérias-primas e nas migrações dos povos, atrevem-se a prever o número de técnicos indispensáveis para assegurar o funcionamento do mecanismo económico em determinado ano, e estabelecem um programa ideal de escolaridade conveniente para abastecer a agricultura, a indústria e os serviços.
Considera-se ucrónico um plano de fomento educativo que haja por bem a formação de um escol de pensadores, escritores e artistas, os quais teriam por missão a defesa da cultura nacional e a elevação dela acima das culturas estrangeiras. Tudo quanto é invocado em nome da finalidade superior da Pátria é colocado fora do campo de visão dos homens práticos. Não se considera utopia a previsão da economia nacional para sobre ela estabelecer um plano de fomento escolar.
De certo que se nos afiguram muito valiosos os serviços tendentes a prever os cursos de modificação dos fenómenos sociais, e parece que todos os serviços destinados a tal fim deveriam trabalhar conjuntamente no Instituto Nacional de Estatística. Também merecem muita estima os cálculos tendentes a prever o número de técnicos que em anos futuros hão-de ser exigidos para os sectores primário, secundário e terciário da actividade económica. Não obsta isso a que se diga que a articulação das exigências do trabalho nacional, ou de mão-de-obra, com a formação escolar de técnicos ou diplomados não pode ser resolvida de modo simplista pela ditadura dos economistas, isto é, dos especialistas de uma só parte, e talvez a mais contingente, da totalidade política, mas pela entidade representativa das actividades que definem a cultura da Nação.
Convém a propósito notar que os economistas do pleno emprego pouco ou mais nada se preocupam com o problema de organizar a economia nacional de modo a eliminar profissões inúteis, ou classes inúteis no mesmo ramo profissional, duplicações de serviços e de trabalhos, formalidades desnecessárias, em que estão ocupados homens e mulheres durante oito horas por dia. Não se explica que a aceleração da técnica, indo até à automação, não tenha por efeito reduzir gradualmente o período diário de trabalho. Dir-se-ia que a técnica é cada vez mais exigente na absorção dos esforços humanos, e na exigência de habilitações escolares, pelo que se nos apresenta entre as maiores inimigas da liberdade.
Espelho do pensamento filosófico, a doutrina cultural e a programação política mostram-nos depois que as exigências da economia sugerem as exigências de cursos científicos e técnicos, menos frequentados do que quanto seria para desejar, preconizam que por meio de uma indefinida assistência de persuasão junto dos estudantes, e até por um compulsivo serviço de orientação profissional, sejam desviados para esses cursos utilitários os trabalhadores intelectuais. A propósito da estrutura dos cursos secundários, com seus reflexos no ensino superior, fala-se até em contrariar «as tradicionais tendências do estudante português para os estudos humanísticos». A concretização de tais providências de orientação escolar iria ferir, nos estudos humanísticos, o cultivo da língua portuguesa e do pensamento português, já que o comércio das outras línguas vivas continua a ser considerado da máxima importância para a conjuntura económica.
Não cremos que seja feliz intento travar a preferência dos melhores estudantes para a finalidade humanística do ensino. Haverá erro, sim, em acelerar esse movimento antes da idade própria, ou impulsioná-lo por caminhos tortuosos ou viciosos. Digno de um exame especial seria a ordenação estranha dos programas de língua e literatura portuguesa, que nos parece terem sido e continuarem a ser consciente ou inconscientemente redigidos em sentido contrário ao dos interesses máximos da Pátria.
Ante a invasão da técnica proveniente de países mais adiantados fica o estudioso perplexo porque não sabe se houve ou não o cuidado de acautelar a mão-de-obra portuguesa, e não só a mão como também os orgãos mais dedicados à atenção do sensível e à atenção do inteligível, ao sistema nervoso e principalmente ao cérebro. Há o problema de saber se a importação da técnica estrangeira não implicará também a importação de um estilo contrário à nossa sensibilidade artística e, principalmente, à índole do nosso pensamento, isto é, às articulações subtis do nosso modo de raciocinar, estimuladas pela estrutura própria da língua portuguesa, mas desconhecidas nos compêndios estrangeiros de lógica científica. Neste ponto nos deveríamos deter e reflectir antes de qualquer decisão. Verdade já reconhecida por filólogos, etnólogos e folcloristas.
Tal verdade explica o facto de o pensador, o escritor e o artista, nascidos mas desprezados em Portugal, serem estimados e admirados nas terras de Além-Atlântico. Ela explica também que o operário português, mas especialmente o oriundo de certas províncias metropolitanas e ultramarinas, quando chamado a trabalhar em países estrangeiros, exceda em habilidade, destreza e zelo os seus competidores, o que contrasta com o sentimento de inferioridade que inibe o trabalhador habitante desta ocidental praia lusitana.
Contraditório nos parece também ser considerada nociva a tendência para os estudos humanísticos por quem deplora a escassez de pessoas com aptidão e vocação para o ensino, ou seja, a reconhecida falta de professores. Deixemos, porém, para crítica ulterior a chamada ilusão pedagógica, a qual consiste em crer que os professores, ou agentes de ensino, se possam formar nas escolas, nas escolas do magistério primário com diplomados com o curso geral dos liceus, e nos liceus normais com diplomados em ciência e letras. Sabemos que a vocação docente e a aptidão didáctica não foram, durante séculos, obra sequer de metodólogos, e assim julgamos despesa inútil a conservação dessas instituições relativamente modernas, que pelas suas exigências nas provas de demissão excluem muitos dos candidatos ao estudo dos métodos de educação e à prática do ensino.
A crise das escolas cuja organização depende do Ministério da Educação Nacional é confirmada também pelos outros Ministérios, que também fundam e mantêm escolas privativas, estabelecendo uma duplicação ou multiplicação de institutos que nem sempre é justificada pela diferenciação ou especialização. Não são só os ministérios que desejam ter escolas privativas, mas também outras entidades quando dotadas de potencial financeiro para manter pessoal docente. Deixemos o problema de saber se tal descoordenação corresponde a uma verdadeira intenção de liberalismo no ensino nacional.
Há já um número excessivo de tipos de escola para muitos misteres, muitos ofícios e muitos cargos, pelo que é tempo de considerar que o exercício de cada profissão se aprende no período de estágio que precede o ingresso no quadro da empresa profissional, e que à escola técnica só compete conceder aquela preparação que a empresa não pode, sem perda de tempo a formar empregados, dar a quem pretende servi-la. É na carreira profissional que verdadeiramente se forma de um aprendiz inexperiente um verdadeiro trabalhador que há-de ser um mestre. A escola tem finalidades muito diferentes da oficina, sem esquecer todavia que o seu educando há-de exercer como principal, senão única, função social, a de trabalhador, pelo que será tanto mais valiosa quanto menos especializada for, quanto mais lhe conceder a habitação mental para flexível aptidão ao aprendizado individual das diversas profissões.
Entende-se, embora seja discutível, o conceito de especialização profissional. Já não é tanto de admitir a correlativa especialização escolar, com a divergência de cursos cujos diplomas finais limitam a mobilidade do trabalhador. O respeito pelas vocações manifestadas durante a adolescência, ou seja, durante a escolaridade secundária, essa é de todos os modos aconselhável para estimular a formação de artistas superiores, ao contrário da escola uniforme que inutiliza os talentos que enriqueceriam a Nação, alegando que, para cultivar e desenvolver os seus dons, o artista não pode deixar de estudar as declinações latinas e as equações de segundo grau.
A idealidade da escola única dilui-se perante a diversidade das profissões a que estão destinadas as camadas constitutivas da população. Ninguém admitirá já a falácia da cultura geral que, no seu género, abrange e integra todas as espécies, especialidades e especializações. O erro persistente da nossa administração ensinativa, aliás admitido pelos mais ilustres metodólogos, é o da escola única ou da didáctica única para todas as idades e para ambos os sexos.
O Movimento de Cultura Portuguesa, atento ao problema do amor humano e da constituição da família, quer dizer, atento a um dos mais importantes factores da felicidade do povo, defendeu a tese educativa do ensino diferenciado, para os dois sexos. Entendendo que a principal vocação da mulher se lhe afigura na intenção de realizar a felicidade de um homem, e também na realização plena da maternidade, o Movimento considerou nociva uma instrução primária que não ministrasse ao sexo feminino os ensinamentos indispensáveis às condições da vida doméstica, da higiene e da puericultura. Reconhecendo também que a gnosiologia feminina é bastante diferente da gnosiologia masculina, preconizou a diferenciação programática, bibliográfica e didáctica não só no ensino primário, antes da puberdade, como no ensino secundário, durante a adolescência.
Não foi definida qualquer limitação no acesso das meninas, raparigas e mulheres a qualquer grau de ensino público, nem, consequentemente, ao exercício de qualquer actividade profissional, e assim foram respeitados os sagrados artigos da Declaração Universal dos Direitos do Homem. A doutrinação expendida pelos publicistas do Movimento da Cultura Portuguesa realizou-se porém tardiamente num ambiente caracterizado pela afluência de mulheres aos empregos públicos nas escolas e nas secretarias, pelo que se tornou susceptível na aparência de ter a intenção de obstar ao movimento chamado de emancipação da mulher. Aos pedagogistas não parecia clara a enunciação do problema de salvar a alma feminina, libertando-a de uma escolaridade que não lhe está de feição e vedando-lhe profissões degradantes, pelo que prevaleceu a doutrina da igualdade dos sexos perante a escola, quanto mais se verificou o facto de as alunas poderem competir com os alunos em dar tão exactas respostas aos objectivos pontos de exame como até em exceder a pontuação quando os testes forem elaborados com intenção de as favorecer.
Em Portugal não tem havido subtileza para estudar nas disciplinas de psicologia geral e experimental, como na disciplina mal intitulada de teoria do conhecimento, a diferenciação subjectiva dos sexos, porque só interessa observar o comportamento objectivo perante os factos. A possibilidade indefinida, ou ainda quase todas as actividades, impressiona de modo empírico a multidão. Não é de estranhar, portanto, a falta de um estudo de orientação profissional que encaminhe as raparigas para os serviços que lhes estão mais a carácter, como a falta de uma legislação que impeça a entrada das mulheres em oficinas que, bem vistas, talvez as desonrem, humilhem ou ofendam, e todos observamos no quadro social os efeitos, embora ignoremos as causas, de tão empírica permutação dos sexos.
 |
| Eleanor Roosevelt (1949). |
Na direcção das escolas, como no respectivo corpo docente, predominam as professoras que estabelecem o delineamento das reformas do ensino, e os professores casados pretendem também assegurar às suas filhas o ingresso nas carreiras de habilitação média ou superior, em vez da tradicional preparação para o casamento. Aceita-se o princípio da igualdade dos sexos, proclamado na Declaração Universal dos Direitos do Homem, sem definir quantitativa ou qualitativamente o termo a que tal igualdade se reporta. Quando uma senhora ascende, por convite, nomeação ou eleição, a um posto de superioridade social que por hábito nunca discutido costumava ser destinado a um homem superior, o público fica perturbado com a notícia, e interroga-se perplexo sobre a falta de candidatos (masculinos) com qualificação igual à das candidatas (femininas), e não deixa de lamentar a decadência do sexo outrora chamado forte.
Entre as pessoas que manifestaram pensamento semelhante ao da tese propugnada pelo Movimento de Cultura Portuguesa será justo distinguir a Srª D. Deolinda de Oliveira dos Santos Fonseca. Na sua qualidade de Directora do Instituto de Odivelas, a distinta professora subscreve o artigo intitulado «Ensino uniforme ou ensino diversificado para os dois sexos?», que o Boletim da Acção Educativa Escolas Técnicas inseriu no seu 30.º número, publicado com data de Abril de 1961. Merece honrosa menção essa voz concordante com a tradição portuguesa, mas corajosamente adversa à orientação oficial.
A ilustre autora, embora não utilize os dados da psicologia contemporânea nem ostente larga erudição, porque o seu saber parece garantido pela observação e pela experiência, singularmente confirmadas pelo convívio diário com dezenas de almas, enuncia com nitidez o que parece desconhecido nas repartições onde se elabora a legislação e se vigia a administração: reconhece a diversidade de caracteres dos dois sexos, já conhecida por educadores tais como Fénelon, Almeida Garrett e Teófilo Braga. Nos seus comentários à legislação portuguesa, desde a criação dos liceus em 1836 por Passos Manuel até às últimas reformas do ensino público, alenta ainda a esperança de que os nossos governantes revejam as dimensões do problema tão magno e tão complexo como o enunciado no título do estudo. Em leves notas alude aos relatórios da UNESCO cuja sofismação, em proveito da escola única, assenta numa peregrina distinção entre psicologia estática e psicologia dinâmica, a qual dilui as características sexuais em características individuais, resultantes da influência do meio familiar ou do ambiente social.
Com a habitual anulação das entidades intermediárias por seu conceito lógico e por sua realidade ôntica, a UNESCO nega os sexos como também nega as pátrias, para afastar obstáculos à unificação da cultura, e arremata a habitual sofismação com declarações oratórias contra os que pensam, falam e escrevem de outro modo, acusando-os de levantarem impedimentos à universalidade do progresso social. No entanto, as nações deformam-se e reformam-se, sem deixarem de existir, com razão inteligível que se pode analogar à inteligível razão da existência dos sexos até nos povos cuja legislação reprime o amor, a maternidade e a família, mediante imprevidências sugeridas pela técnica, pela economia e pelo colectivismo. Só as mentalidades viciadas por uma escola onde a didáctica assente em abstracções lineares e em raciocínios simplistas, fora da intuição directa da realidade concreta, podem permanecer cegas ante o triângulo das realidades intermediárias entre o zero e o infinito.
No planeamento do ensino público existe, efectivamente, a ordenada ou a abcissa indispensável para referir as idades dos alunos, e em consequência a legislação exige a prova, apresentada em certidão do Registo Civil, de que o aluno completou o número de anos mínimo para ser admitido à matrícula na escola ou submetido às provas de exame. Tem havido, aliás, grande preocupação da crítica ao verificar a heterogeneidade etária de cada classe escolar que há-de ser dividida em turmas para estabelecer homogeneidade, indispensável à facilidade da didáctica, e tais críticas lamentam ser no nosso país muito alta a percentagem de estudantes que concluem os cursos muito depois de passarem a idade considerada normal. Não se detêm todavia a discriminar as causas do fenómeno numerado, porque a investigação iria atingir delicadas zonas de alta responsabilidade, mas assim não conseguem propor os remédios tendentes a eliminar tão grave mal que significa parcial frustração das ambições dos estudantes, com respectivo cortejo de ressentimentos, e lamentável falta de competência no aproveitamento dos valores nacionais.
 |
| Quartel-General da Unesco, Paris (1952-58). |
Deveremos, contudo, observar que tal estatística significa o resultado do número de reprovações, das desistências e das impotências que se revelam principalmente nos adolescentes durante o prosseguimento da linha dos estudos. Professor que reprova é professor que não ensina, queremos dizer, que nunca assumiu o compromisso de aprovar ou habilitar todos os componentes da turma, que não prestou assistência diária aos esforços operados durante o estudo de cada um dos seus alunos, ou que nem sequer conhece o examinando proveniente de outra escola. Na intenção de fazer acusações ao corpo examinante, sem intuito de fazer acusações ao corpo docente -, obrigado a trabalhar em condições adversas aos mínimos preceitos da didáctica -, deveremos contudo dizer que a tal falta de produtividade da escola portuguesa não pode ser mais imputada à massa dos alunos, ansiosos por estudar tudo quanto lhes desperte gosto, curiosidade ou interesse, e por obter vitória sobre as graduadas dificuldades da aprendizagem.
A propósito da razão numérica entre professor e alunos muito se tem escrito na intenção de reduzir a quantidade na formação das turmas. Não parece curial apresentar como números inteiros de alunos e de professores os resultados dos cálculos sobre fracções, porque tal sofismação não causa engano a quem sabe o que realmente resulta da permutação horária de docentes e discentes. No ensino secundário é exigido ao adolescente o que nunca mais será exigido ao adulto, o total saber enciclopédico, e assim cada professor é o especialista de uma disciplina entre todas as que o aluno há-de estudar, compreender e assimilar.
A escola demonstra a sua insuficiência ao exigir que o aluno estude em casa (com o auxílio dos pais, dos explicadores ou dos colegas), porque os programas e os compêndios são mais vastos do que é ao professor possível ensinar nos tempos lectivos. A legislação prescreve muitos trabalhos domésticos que completam um ensino incapaz de ser ministrado em poucas horas lectivas, e tanto os alunos a estudarem lições como os professores a corrigirem exercícios semanais passados a centenas de alunos se aplicam a um trabalho que exige as oito horas diárias do operário, e avançam apressadamente para a estupidificação por sobernal. Os adultos lamentam que a exigência de tais estudos domésticos os impeçam de frequentar escolas secundárias, diurnas ou nocturnas, mas esta atitude de combate aos tempos livres e aos tempos lúdicos numa sociedade organizada em torno da idolatria do trabalho, é determinada por quem não acredita que a vida humana tenha uma superior finalidade artística, filosófica e religiosa.
Dir-se-ia que, depois de cumprido o serviço escolar obrigatório, cada estudante encontra junto à porta de entrada da escola seguinte o letreiro negro com estes terríveis dizeres: «Reservado o direito de admissão». Com efeito, os exames de admissão e de aptidão não são mais do que o processo burocrático de excluir a má frequência nas classes já superlotadas, e esse processo consiste em determinar os responsáveis ou indesejáveis. Neste aspecto se pode ver a decadência semântica da palavra exame, afastada de qualquer significado correlacionado com a orientação escolar e a orientação profissional.
Depois de nos referirmos às idades convencionalmente determinadas pelos números na linha do decurso civil, e à cronologia aferida pelos registos burocráticos, a única que até agora tem sido considerada pelos nossos pedagogistas, vamo-nos referir a cada uma das idades do homem e da mulher, isto é, aos períodos delimitados por crises fisiológicas e psicológicas, mas caracterizados por definidas qualidades mentais. Dir-se-á com certeza, que tais períodos variam de indivíduo para indivíduo e são diferentes para cada sexo. Abstraindo, porém, das variações ou variantes individuais, cujo âmbito não excede grande número de meses, seria contudo mais curial distribuir os planos de ensino pelas idades fisiológicas ou pelas idades psicológicas, do que pelas idades cronológicas.
Normal seria que o ensino maternal, confiado em casa aos familiares que não aos pedagogos na escola, pressupusesse em todas as mulheres um conhecimento da puericultura para crianças de menos de sete anos, desde a higiene, à fonética e à civilidade; normal seria que o programa de ensino primário devesse ser elaborado de modo a corresponder à curiosidade intelectual juvenil (de 7 a 10 anos ou 12); vota-se por que o programa de ensino secundário seja elaborado de modo a corresponder à curiosidade intelectual dos adolescentes (de 12 a 18 anos). Tal não acontece porque o nosso ensino público não é planeado por atenção aos estádios da vida humana, nem é estruturado perante as noções que ao pedagogista sejam dadas pela psicologia da infância ou pela psicologia da adolescência, disciplinas sem autonomia nas escolas de psicologia geral, mas perante um ideário anacrónico e assexuado de cultura geral para a classe média da população. A distribuição das matérias de ensino, segundo aquela ordem de precedência lógica tão explícita no papel como agradável aos enciclopedistas, tem em vista muito mais a facilidade metodológica dos redactores de compêndios e dos didactas especialistas do que a consideração plena dos complexos problemas da criança, do adolescente e do adulto.
A ambiguidade da expressão «cultura geral», expressão paradoxalmente estimada pelos especialistas, é a principal causa de erro na redacção dos programas de ensino secundário, onde se escreve do «desenvolvimento harmónico e gradual das faculdades do aluno», isto é, do aluno médio, normal, típico ou fictício, cuja determinação varia de reforma para reforma, consoante a evolução da sociedade. A falta de flexibilidade do programa do curso geral dos liceus contraria a possibilidade de cada adolescente revelar a sua vocação, e de preferir certas técnicas de estudo a outras mais, antes reprime, inibe ou recalca as predominantes tendências volitivas, afectivas e intelectuais por um sistema de julgar o aproveitamento lectivo mediante um critério de notas numéricas, talvez com significação de aproveitamento, mas certamente sem orientação escolar. Exigido por determinações burocráticas, como documento indispensável para a matrícula numa escola ou para o exercício de uma profissão, o certificado de instrução primária, ou o certificado de instrução secundária, é concedido às crianças, ou seja, mediante provas escritas e orais de um programa igual ao que foi redigido para a mentalidade de crianças ou para a mentalidade de adolescentes, sem que nos livros de ensino ou nos pontos de exame seja tomado em consideração o desenvolvimento corporal, a experiência fisiológica e a observação psicológica de quem já atingiu maioridade, já prestou serviço militar, já constituiu família.
Cada programa escolar reaparece distendido no texto do livro único, oficialmente aprovado, estabelecido para uniformização objectiva dos pontos de exame e das classificações numericamente justas. É claro que quanto mais objectiva for a relação de certeza entre pergunta e resposta tanto mais será imposta a necessidade da ciência e tanto mais restringida a liberdade de pensar. Nem o professor nem o aluno se atrevem na interpretação de um problema susceptível de várias soluções, pois desejariam que a exemplo da certeza matemática todas as disciplinas fossem insusceptíveis de arbítrio no julgamento dos examinadores, e por isso os pedagogistas, depois de conseguirem o decreto oficial da unificação e simplificação ortográfica, esperam ansiosos pela unificação e simplificação da nomenclatura gramatical, preferindo a certeza no critério de avaliação dos examinadores à incerteza na interpretação subtil de uma língua tão fértil de estímulos intelectuais.
Dir-se-ia assim que no nosso sistema de ensino público é mais considerada a idade dos programas, graduáveis por numeração ordinal ou cardinal, do que a idade dos professores e a idade dos alunos. Tudo assenta na errada tradição de que o sábio especializado transmite ao aluno modesto determinados ensinamentos mediante uma didáctica de simplificação gradualmente aperfeiçoada pelos importantes metodólogos dos liceus normais, e nesta didáctica objectiva, em que a palavra docente e a acção didáctica podem ser substituídas por um compêndio bem redigido ou por meios audiovisuais, o ensino torna-se impessoal, indiferente à singularidade do professor e à individualidade do estudante, mas adequado à massa e à multidão, Dificultado pela burocracia, o conceito de educação, que é o processo socrático de externar as virtudes ou virtualidades da alma humana, para as actualizar, fazendo do homem escravo um homem livre, não se realiza progressivamente, não ascende de educação individual a educação nacional, pelo que a Pátria perde inconscientemente todas as riquezas espirituais que cada nova geração lhe poderia trazer em acréscimo às que lhe antecederam.
Este padrão de escola única, técnica e estática, que os alunos são obrigados a frequentar se quiserem obter o certificado indispensável para o exercício de uma profissão, defendida pelo respectivo sindicato, contradiz toda a finalidade da educação, ainda quando sirva de paradigma a estabelecimentos que ministrem ou administrem noções úteis para o aperfeiçoamento humano. Escolaridade imposta, estabelecida por vários processos de coação burocrática ou de repressão fiscal, obrigando o infante e o adolescente a estudar à força, distorcendo as suas espontâneas faculdades mentais e adulterando as virtudes congénitas da raça, é o que verdadeiramente significa a palavra pedagogia, palavra de origem grega que provém de pedagogo, o escravo encarregado de levar o menino burguês ao ginásio da cidade, conforme se depreende da leitura dos diálogos de Platão que ao assunto se referem e que permitem legitimar o conhecido adágio: pedagogia, pederastia (4). Fácil será inferir, a quem estabeleça a mediação dos processos sociais de constrangimento, que as épocas de pedagogia são também épocas de demagogia, o que se torna claro a quantos alguma vez ouviram afirmar que o povo é uma criança.
Temos, portanto, por convicção nossa, que na nomenclatura autêntica de um sistema racional de educação nacional não haverá lugar para confundir o professor com o pedagogo, nem lugar administrativo para a palavra pedagogia, termo a excluir com seus derivados dos serviços públicos. A expressão «ciências pedagógicas», oportunamente refutada por Leonardo Coimbra, também merece ser excluída porque não foi construída com rigor etimológico. Se fosse lícito chamar a algumas ciências pedagógicas, subsistiria a legitimidade de perguntar se o mesmo epíteto não será extensível a todas as ciências, já que por definição aristotélica todas podem ser matéria de ensino (In Espiral, n.º 8-9, Lisboa, 1965, pp. 40-56).
Notas:
(1) «A. J. B. - A única filosofia admitida pela Unesco», ensaio publicado in Boletim do Ministério da Justiça, n.º 6, Lisboa, Maio de 1948.
(2) O que É o Ideal Português. Tempo de Pensar, Lisboa, s. d.
(3) Litoral. Revista Mensal de Leitura (director: Carlos Queiroz), Lisboa, Junho de 1944.
(4) Suzanne Lilar, Le Couple, Paris, 1963.
























































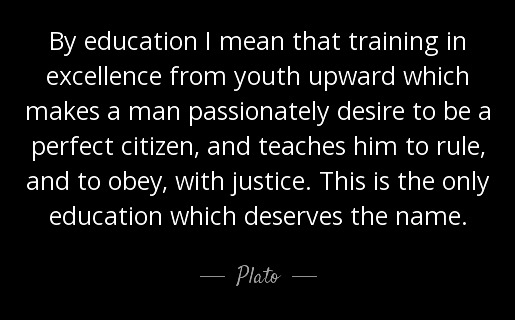
























Nenhum comentário:
Postar um comentário