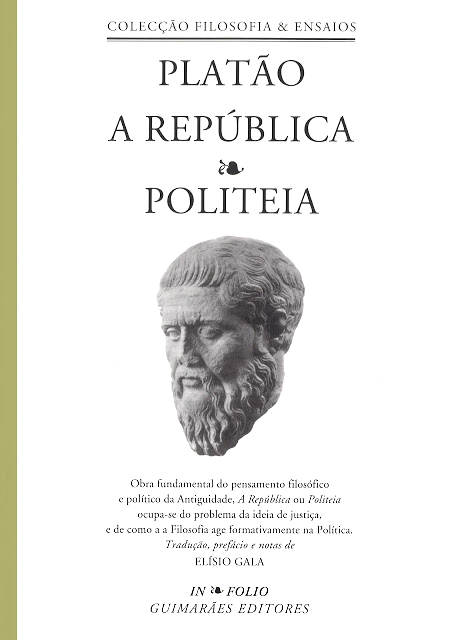Escrito por Miguel Bruno Duarte
Não queremos negar que sejam discutíveis as condições hegelianas banidas da Assembleia Constituinte eleita em 1975 pelos portugueses; mas que nos seja, então, concedido que não passa de um absurdo a pretensão do socialismo moderno em ter, por um lado, sua origem na filosofia de Hegel e em destinar-se, por outro lado, a suprimir o Estado: "A Constituição Política - diz Hegel - é antes de tudo o mais a organização do Estado" (parág. 271). Não há racionalismo de uso corrente nem idealismo por mais vazio, capazes de suportar tanta contradição».
Orlando Vitorino (Prefácio à 2.ª Edição de Hegel, «Princípios da Filosofia do Direito»).
Prólogo
Orlando Vitorino e a filosofia portuguesa
Escusado será, pois, dizer que a «cultura oficial» recusa admitir a existência da filosofia portuguesa. Quando muito só poderá haver «Filosofia em Portugal» na acepção de mais uma «cadeira universitária» entre as demais. Nada, portanto, de filosofia portuguesa radicada no génio da Pátria e na língua de Camões.
Ora, disso já Álvaro Ribeiro revelara perfeita consciência quando, em 1943, dera a lume O Problema da Filosofia Portuguesa, também ele oriundo de questões levantadas por Eudoro de Sousa e Sant’Anna Dionísio no âmbito do pensamento especulativo português. Ou seja: Álvaro Ribeiro, perante a alegada carência de uma tradição de pensamento especulativo, quando não perante a dúvida sobre a capacidade especulativa dos Portugueses, sabia e compreendia que um povo, sem autonomia cultural, não pode ser politicamente independente.
Porém, transcorridos vinte anos sobre a publicação d'O Problema da Filosofia Portuguesa, Álvaro Ribeiro resolvera, por fim, anotar o que se segue no Diário Ilustrado de 20 de Dezembro de 1962:
«Enunciado em 1940, a modo de posição crítica perante as Comemorações oficiais do duplo Centenário da Fundação e da Restauração da Nacionalidade, o seu nacionalismo não obteve a concordância, nem sequer a aceitação, dos intelectuais responsáveis pela doutrinação patriótica. Desde a extrema-direita, constituída pelos abencerragens do Integralismo Lusitano, até à extrema-esquerda, vagamente desenhada por um ou outro escritor neo-realista ou neo-positivista, todas as correntes de opinião se manifestaram adversas à tese elementar de que sem autonomia cultural não pode haver independência política».
Por outras palavras, Álvaro Ribeiro, profundamente consciente de que certos publicistas «não querem que haja filosofia portuguesa», enquanto, outros ainda, «querem que não haja filosofia portuguesa», dera por intempestivo um problema geralmente repudiado e incompreendido.
Aliás – diria ainda Álvaro Ribeiro –, nem sequer entre os que se diziam «discípulos de Leonardo Coimbra, obteve a causa da filosofia portuguesa, do seu discernimento, do seu esclarecimento e da sua exposição, a mínima cooperação leal capaz de servir de fundamento à aventura de uma geração». Contudo, uma tal filosofia, para surpresa de uns e clara irritação de outros, continuaria viva e actuante não já como problema a debater, mas como pensamento capaz de influir nas nações da América do Norte e do Sul, assim como em todos os povos irmãos que ainda não puderam ou quiseram transitar do ministério da mais recente colonização para o magistério da educação obrada em fraterno, universal e recíproco entendimento.
Desse modo, podemos e devemos dar por adquirida a fecunda vitalidade da filosofia portuguesa na actualização da filosofia clássica, ou, se quisermos, do aristotelismo enquanto sistema ou filosofia natural do género humano. E é precisamente por isso que Orlando Vitorino nos diz que a origem da filosofia moderna, também por ele designada de «filosofia nórdica», «remonta a Santo Agostinho ou à ruptura entre o mundo antigo e o mundo moderno». Todavia, certo «é que nem a filosofia do mundo antigo nem outros modos mais ocultos de pensar, deixaram de estar presentes, e se desenvolver, ao mesmo tempo, nos povos e até nos mesmos homens nos quais e pelos quais a filosofia moderna se manifestou e desenvolveu. A sua presença é, porém, uma presença derrotada, à margem da rota do triunfo. Complementar desta “refutação da filosofia triunfante” será uma “exaltação da filosofia derrotada”» (2).
De resto, uma tão propugnada exaltação implicara uma nova visão da economia que Orlando Vitorino descreve do seguinte modo:
«Há nove anos, estamos agora em 1983, estava eu longe de prever (…) que os estudos da economia alguma vez viessem a interessar-me. Creio poder conjecturar – dado que o homem nasceu para ser ocioso – que o mesmo terá acontecido e estará acontecendo aos leitores que me acompanham. Outras razões, as que a vida dá e só cada um conhece, terá cada um de nós. As minhas foram as de andar exclusivamente dedicado (…) às coisas da filosofia e das artes e, como das coisas menores, também da economia non curat proetor. Seguia nisso o exemplo de Hegel que durante anos li, reli, até traduzi e, em tempos de mais juventude, comentei com entusiasmo. Foi ele contemporâneo dos primeiros teorizadores da ciência económica e, se lhes louvava o esforço de procurarem conhecer os conceitos da prática que exerciam, fazia-o com distante condescendência. Nesse ponto me deixei eu iludir por aquela tendência tão frequente e tão natural, de fazermos nosso o pensamento, e até as atitudes, dos mestres que admiramos. Devia, antes, ter seguido o exemplo de Aristóteles: o de que não há coisas menores e mau sinal dá de si o pensamento que em tudo não souber comprovar o que vale.
Ora, naquela data já hoje afastada [25 de Abril de 1974], se deu uma alteração na política do meu país que, precisamente, os estudos da economia me fizeram ver não ser mais do que a última fase de um processo que vinha de longe. Consistiu ela na transferência para o Estado de toda a orientação da economia. As populações começaram por recebê-la com entusiasmo, acreditando que ela lhes iria trazer uma era de prosperidade e abundância sem cuidados ou em que os cuidados caberiam apenas ao magnânimo Estado. Devo declarar que não levei tão longe a minha natural ingenuidade mas ainda conservei a ilusão de que poderia continuar a viver como um sorridente espectador. Depressa a ilusão se desvaneceu, depressa verifiquei, sofrendo-o até na carne, que o Estado me entrava em casa, ditando os contratos do meu trabalho, o emprego do meu dinheiro, os modos do meu viver, as condições do meu futuro, o que podia e, sobretudo, o que não podia fazer. E não tardei a observar que os instrumentos que o Estado utilizava para tanto mal me trazer, eram instrumentos económicos: a desvalorização do dinheiro, o condicionamento do mercado, a colectivização da propriedade, a sindicalização dos salários, a organização do ensino segundo a utilidade, as taxas selectivas dos impostos indirectos, o aumento, sem limite prévio, dos impostos directos. Esparsos nos pequenos, e também nos grandes, tais instrumentos, além da sua terrível eficácia, ainda escondiam o tartufo, permitindo-lhe controlar, dirigir e asfixiar a existência de cada um de nós, que é onde reside a liberdade mais vivida e real, e ao mesmo tempo proclamar aos quatro ventos a liberdade universal de todos, ou seja, a liberdade de escrevermos nos jornais onde nunca escrevemos ou publicarmos livros para cuja publicação nunca serão nossos os meios, a de se nos abrirem fronteiras que nunca queremos atravessar, a de termos novos amigos em todos os continentes que nunca visitaremos e gente inimiga em todos os vizinhos cuja “classe” não seja a nossa, a de elegermos os nossos governantes depois de eles se terem eleito a si próprios dando-lhes nós o nosso voto num democrático domingo de quatro em quatro anos.
Menos por percepção intelectual e culta do que, também como eu, por o sentirem na carne, as populações reagiram como o corpo reage à doença, e se ainda hoje não alcançaram desfazer o processo político em que se viram envolvidas, antes lhe continuando a deixar abertas todas as vias, conseguiram, no entanto, travá-lo. Quanto a mim, intelectual que sou, procurei compreender: compreender o que é a economia, como se forma a sua ciência, como ela transita, de actividade natural e espontânea em que cada um é dono do que é seu e faz do que é seu o que entender, para uma rede complexa e impenetrável de regulamentações de que só alguns detêm o comando e o segredo. Pus-me, durante alguns anos, a ler os livros mais actuais, ou mais recomendados e celebrizados pela "cultura oficial", suportando, com esforço e paciência, a enfadonha prolixidade de todos eles, observando como seus autores, personalidades de renome, são pródigos na descrição de minúcias que toda a gente conhece ou imediatamente apreende e são avaros e fugazes na exposição, quase sempre apenas alusiva, das teses, conceitos e definições mais decisivos da sua ciência. Deles me soltei por fim ao remontar à origem dessa ciência, lendo “A Riqueza das Nações”, de Adam Smith, e deparando, aliviado, com uma clareira de simplicidade e raciocínio. Pude, a partir daí, refazer o caminho percorrido na formação da ciência até chegar à leitura da “Acção Humana”, de Ludwig von Mises, que vi ser, para o período contemporâneo da economia, o que “A Riqueza da Nações” foi para o período clássico. Certifiquei-me assim de que era possível compreender, coisa de que já chegara a desanimar. Por fim, encontrei nas obras de Milton Friedman e, em especial, de Frederico Hayek, sobretudo em “A Constituição da Liberdade” e “O Caminho para a Servidão”, a demonstração das causas e dos fins do que estava a acontecer no meu país. Entendi, então, que devia, pois já o podia fazer sabendo o que conseguira saber, também por minha vez intervir. Tratar-se-ia, naturalmente, de uma intervenção intelectual.
Fundei uma modesta revista a que dei o título de “Escola Formal”, em homenagem a meu mestre Álvaro Ribeiro que, com esse título, escrevera um livro expondo as teses imprescindíveis à liberdade do pensamento. A revista defendia o liberalismo e a liberdade económica e, embora difundida apenas nos meios intelectuais, foi recebida como a provocação “reaccionária” de uma doutrina “ultrapassada”. Traduzi e editei um dos citados livros de F. Hayek e consegui trazer o autor a Lisboa, onde proferiu três conferências e dirigiu três colóquios acolhidos com espanto, falsa indignação e temor. Estávamos em 1977, o socialismo era considerado a doutrina de todo o futuro, um dogma indisputável, até aqueles que menos o desejavam, e “a via de transição para o socialismo” acabara de ser consagrada na Constituição Política. Nestas circunstâncias, ver discutir, criticar e refutar tal dogma por um homem cuja autoridade científica só não foi contestada porque acabara de receber o Prémio Nobel da economia, afigurava-se inacreditável. A meio de uma das conferências, um ministro das Finanças abandonou a sala vituperando e um embaixador de França insultou os organizadores das conferências em desagravo do Partido Socialista Francês de que era membro.
Ao mesmo tempo, ia eu verificando que o pensamento e as obras que me haviam por fim orientado na aventura em que me lançara, sobretudo as que, no período contemporâneo, haviam dado à ciência o desenvolvimento e os fundamentos que ela não obtivera no período clássico, eram totalmente ignoradas pelos nossos economistas, não figuravam no ensino universitário e nem sequer se encontravam nos circuitos comerciais livreiros. O que assim acontecia em Portugal, acontecia noutros países. Em vão procurei, nos manuais e “sebentas” das universidades, qualquer exposição dos “meus” teorizadores. Como tivesse comentado na “Escola Formal” tão injustificável ausência, um professor catedrático fez, em público, um desmentido indignado, dando o seu próprio curso como prova do contrário. Lá fui eu percorrer, linha a linha, a “sebenta” desse curso e apenas consegui descobrir uma citação do nome de F. Hayek entre outros vários nomes dados para ilustração de uma nota acidental. Viria eu a encontrar, num livro de von Mises, a informação (…) de que a situação correspondente existiu nas universidades alemãs e inglesas.
Também os “meus” teorizadores eram ignorados nas livrarias. Não me foi possível comprar ou fazer vir do estrangeiro qualquer das suas já muito numerosas obras. Da “Acção Humana”, por exemplo, só consegui obter, e fora dos círculos livreiros, uma tradução castelhana editada por iniciativa de entidades particulares, e do “Caminho para a Servidão”, editado em Inglaterra em 1942, só se fez uma reedição em 1975, quando o autor obteve o Prémio Nobel. Assim pude concluir, não sem secreto e aristocrático prazer, que a existência da ciência é hoje uma existência clandestina.
Nos meios economistas, por fim, deparei com a mesma ausência e a mesma ignorância. Ainda em 1981, um ministro das Finanças (3), ao abandonar o seu cargo governativo, publicando uma longa justificação da política económica que seguira, afirmava que “logo à partida pusera de lado o monetarismo de M. Friedman, o qual, aliás, os economistas não sabem bem o que seja”.
E uma noite, num clube de Lisboa, pronunciara eu, entre alguns amigos, o nome de von Mises, quando, do fundo da sala, se nos dirige um desconhecido: “Foram os senhores que falaram de von Mises? Os senhores são economistas?” Dissemos-lhe que não éramos economistas mas que falávamos, efectivamente, de von Mises. “É espantoso, comentou ele. Eu sou economista, trabalho com muitos colegas economistas e nunca encontrei algum deles que soubesse quem é von Mises!”
Existe, pois, como diz M. Friedman no livro “Liberdade e Capitalismo”, um statu quo que só por ser o que é, só por força da inércia e de aí estar instalado, constitui um poderoso obstáculo à introdução de qualquer teoria, por mais verdadeira, que não seja aquela donde deriva a prática contabilística e a política económica em exercício. O avanço que eu, entretanto, viera alcançando nas minhas indagações, permitia-me já observar que, para este êxito do statu quo, para conseguir ele manter inabaláveis as suas posições, muito contribuem duas graves deficiências da ciência económica apontadas – infelizmente apenas apontadas – por L. von Mises (…). É, uma, a falta de um léxico adequado e rigoroso, outra a de ela ainda não possuir o claro conceito dos seus fundamentos lógicos – que veremos serem as categorias económicas – o que se explica por ter adoptado, “como ponto de partida”, uma tal interpretação do pensamento de Aristóteles que o tornou estéril para a cientificação da economia» (4).
No entanto, essa interpretação seria profundamente superada pela varonil interpretação de Orlando Vitorino, que lhe permitiria, inclusive, conceber uma metafísica da propriedade enquanto garantia de todas as categorias daí emergentes, como a fruição, o trabalho, os produtos, o mercado e o dinheiro. Uma metafísica, portanto, intuída e concebida à luz da filosofia portuguesa da qual Aristóteles representa o centro inspirador. Ora, dessa metafísica diz-nos Orlando Vitorino:
«A propriedade pode ter a forma jurídica de um direito e a forma económica de uma categoria. Na forma de um direito, consiste na atribuição a cada um do que lhe pertence, exprimindo-se ou no reconhecimento passivo dessa atribuição ou na posse em que cada um afirma a decisão de alienar ou não alienar o que possui. Na forma de uma categoria, é a disposição perpétua que cada um tem daquilo que lhe pertence, o que faz dela o ponto de partida da actividade económica ou primeiro momento de cada ciclo da economia.
A moderna ciência da economia não dedicou à propriedade a atenção e o rigor que dedicou ao mercado e ao dinheiro, e limitou-se a supô-la como necessária por ser ela condição imprescindível para a existência do mercado, uma vez que a transacção de uma mercadoria é sempre transacção da propriedade dessa mercadoria. Daqui resultaram várias e grandes consequências, todas elas negativas. Uma é a de ter remetido para o direito toda a concepção da propriedade, assim a limitando unilateralmente a uma forma jurídica. Poder-se-ia dizer que deste modo se prolongou a superior concepção que o direito romano formou da propriedade se não acontecesse que os romanos a derivaram do princípio da justiça e se o direito moderno, de acordo com o seu princípio, que é, não a justiça, mas a liberdade, não tivesse de a subordinar à forma jurídica do contrato (5).
 |
| Orlando Vitorino |
A esta ordem de razões uma outra se sobrepôs, cujo ponto de partida reside no seguinte: quer como forma jurídica quer como categoria económica, a propriedade estabelece uma relação entre os homens e as coisas mas reside nas coisas, não nos homens. À ordem de razões que daqui se deduz, não hesitarão muitos, movidos por estultas intenções minorativas, em considerar metafísica. Mas a economia, tal como o direito e como tudo o que é real e susceptível de ciência, apela necessariamente para uma metafísica, para o que está além dela e lhe dá princípio, para o que a transcende e substancializa.
As coisas de que é composto o mundo são, por si sós, inermes. Por não terem o saber de si, são como se não fossem. Carecem do homem para que se saibam e depois se afirmem e manifestem no que lhes é próprio, na sua propriedade. Sejam, por exemplo, os produtos industriais: carecem eles do homem não apenas para que tenham origem mas também para cumprirem a finalidade que essa origem lhes deu e é o que lhes é próprio, a de serem usados e consumidos. Mas porque é discutível que os produtos industriais sejam coisas do mundo, não passem de um momento na transformação violenta a que a indústria sujeita as coisas, o seu exemplo torna-se talvez inadequado. Consideremos, então, as formas e seres naturais, coisas cuja origem, ser e criação lhes não provém do homem mas que, sem ele, não seriam mais do que uma simples presença, um simples ser em si, inerme e sem manifesta finalidade. O que as faz emergir do ensimesmamento em que estão mergulhadas, adquirir uma finalidade e existir para outrem ou, simplesmente, existir – pois existir é ser para outrem – o que, em suma, as faz transitar do ser à existência, é o homem.
Dir-se-á, então, que é o homem quem dá existência ao mundo. E tanto pode, ou tanto lhe cumpre, porque é ele, entre os seres da natureza, o único em quem existência e ser são solidários, o único que não carece de outrem para existir uma vez que é o único dotado de pensamento e, portanto, da faculdade de se conhecer a si mesmo. Compreende-se deste modo que o conhecimento de si mesmo seja um imperativo, o primeiro imperativo do homem, como no nosce te ipsum socrático. Antes de tudo, cumpre-lhe dar-se a si próprio existência para, depois, dar existência ao mundo. Num sentido, é Deus quem cria o mundo, pois lhe dá o ser; noutro sentido, que é o de lhe dar existência, quem cria é o homem. A criação divina dispensa, decerto, o homem, mas não o pode dispensar a existência do mundo. Está ela, sem dúvida, virtual e latente no ser das coisas, mas só o conhecimento de si, que apenas o homem pode às coisas transmitir, a torna manifesta e real. Ora, a existência, com a finalidade ou o ser para outrem que implica, é o que é próprio, é a propriedade de tudo o que é. A propriedade reside, pois, não no homem, mas nas coisas que se oferecem ao homem, passivas, ensimesmadas e inermes.
De dois modos complementares dá o homem existência às coisas e ao mundo. É, um, o do pensamento que conhece o mundo na sua eternidade e as coisas em seus arquétipos genéricos ou ideias. É, outro, o da relação com as coisas no que elas têm de particular, e é esta a relação da propriedade» (6) .
Relativamente ao que é próprio de Portugal, Orlando Vitorino não tinha quaisquer dúvidas sobre a sua dissolução histórica após a revolução comunista de 1974. No final do prólogo à Exaltação da Filosofia Derrotada, o autor tinha, pois, «a sensação de, nesta margem do Atlântico, estar a escrever para ninguém numa língua aqui já morta». Enfim, uma situação profundamente trágica perante a qual os homens já não dispunham de forças para enfrentar os combates, os conflitos e as contradições num contexto dominado pela mais perfeita indiferença.
No entanto, convém salientar que essa mesma situação relativa à História e à vida dos Portugueses constituía para Orlando Vitorino algo susceptível de ser representado, escondido e falseado no teatro, já que a tragédia propriamente dita pertencia ao domínio dos deuses que, ao contrário dos homens, já podiam suportar os conflitos irredutíveis e as contradições insolúveis por neles coincidir pensar e ser, em que tudo é simultaneamente origem e termo, princípio e fim. No fundo, ficava apenas o teatro nascido da tragédia, numa acepção diferente da definição aristotélica em que a tragédia surgia como imitação dos homens melhores do que eles ordinariamente são.
No lance, Orlando Vitorino também conhecia bem a natureza humana, nomeadamente a que se perde por entre os círculos inferiores da política vil:
«Não quero saber do poder para nada. Afigura-se-me até que há uma certa obscenidade no poder político. Repugna-me mandar nos outros homens. Avilta-me a importância social. As escadarias atapetadas de vermelho já as fiz subir muitas vezes aos actores, no palco dos teatros. Aprendi com eles que tudo isso é fictício e só tem beleza quando se faz a fingir. O discurso de Marco António com o cadáver de César nos braços é tão belo na peça de Shakespeare como deve ter sido repugnante na realidade vivida. O que falta cada vez mais à humanidade é educação estética. Em especial aos políticos. Todos eles são actores sem personagem» (7).
De facto, Orlando Vitorino fora um homem do teatro, e não de teatro como dizem os mais desprevenidos. Trouxera assim à filosofia portuguesa não só a regra de ouro do teatro – a que manda separar, nas palavras que se falam, a voz e o sentido –, como também trouxera, num meio culturalmente dominado por professores universitários, a mais poderosa das mensagens inscrita nas palavras de Ésquilo: «a verdade é a melhor arma dos homens».
A questão universitária
Orlando Vitorino revelou-se, entre nós, o filósofo da liberdade. Logo, se com José Marinho pudera apreender que o não-ser e o nada possam ser lidos como o sem-limite – ou, se quisermos, possam ser compreendidos enquanto teoria pura do espírito e da liberdade que, por sua vez, não se identificam com as condições em que um e outra se manifestam e tornam reais –, com Álvaro Ribeiro intuíra que o princípio da liberdade, não estando imediatamente referido à acção nem, por intermédio desta, à vontade, surge não apenas como a garantia da liberdade absoluta do espírito, mas também de toda a real e concreta liberdade.
Porém, Orlando Vitorino não identificava um tão nobre princípio com o eventual carácter vazio e indeterminado da subjectividade humana, na medida em que a liberdade, insusceptível de ser possuída ou abandonada, resulta inconquistável. Daí tratar-se de um princípio que mal se manifesta no domínio das formas, dos conceitos e das ideias, logo desaparece quando deles fugiu e abandonou. Queda, no entanto, o pensamento como revelação e realização da liberdade na justa condição de não perder a consciência de ser apenas um substituto permanecente em todo o real e não a própria liberdade, sempre volátil e fugaz.
Ora, Orlando Vitorino também sabia que a zona da cultura, da política e das instituições representam a zona onde se fabricam ou se recebem já fabricadas as opiniões, os sofismas e os preconceitos triunfantes. E, mais que tudo, sabia e compreendia muito bem como a Universidade positivista e anti-teológica emergia no nosso tempo como um instrumento do mal. Não fora, pois, por acaso ou por capricho que, por adesão à liberdade do espírito que sempre tivera como horizonte último, agia, escrevia e pensava ao revés de uma superficial e pretensiosa função repetidora tão própria e assaz caracterizadora das instituições universitárias dominantes.
Filósofo, Orlando Vitorino figurava no extremo oposto do professor universitário. Aliás, era de facto admirável assistir ao modo verdadeiramente varão como Orlando Vitorino reduzia à insignificância todo e qualquer professor universitário que, desavisado perante a poderosa inteligência do seu interlocutor, tivesse a desventura de querer ostentar a sua ignorância bem pobre e contente de si. De resto, a forma como o fazia residia na consciência que o filósofo sempre tivera da Universidade enquanto «herdeira de todas as limitações ao desenvolvimento intelectual e de todas as proibições de informação cultural e científica ancestralmente atribuídas a organizações que, no progresso de actualização, as vieram abjurando, como as do ensino e da censura eclesiásticos» (8).
Por outro lado, Orlando Vitorino conhecia perfeitamente bem, até por via da nossa literatura, como os nossos escritores, pesando-lhes o bacharelato universitário como primeiro passo para a «possibilidade efectiva de um emprego burguês, um casamento burguês, uma vida burguesa», tendiam e tendem a exprimir, nos termos «de um socialismo falso e abstracto de ideal humano, universal e fraterno, denunciador de todas as injustiças sociais», o «pavor pela vida de pobreza e miséria do proletariado». Tal é ademais o que permite explicar a ambição e a sofreguidão de domínio com que a maioria dos universitários se apoia no alegado prestígio dos pergaminhos e títulos académicos obtidos ao longo da vida. E, perante tanto formalismo, até Sant'Anna Dionísio chegara mesmo a propor uma designação assaz curiosa, mas não menos indiciadora do fenómeno em causa: «as refracções intelectuais do donjuanismo».
Entretanto, se há quem julgue que é na Universidade que reside a consciência superior da Pátria Portuguesa, então que nos diga onde está a nossa independência política e cultural. E a nossa moeda, bem como a nossa língua que, como já dizia Orlando Vitorino, virou uma língua morta.
De resto, decorridos cerca de 40 anos após a publicação do opúsculo de António Quadros, A Angústia do Nosso Tempo e a Crise da Universidade (1953), o autor destas linhas, contestando tudo e todos, passava pela Faculdade de Letras de Lisboa onde o positivismo, designadamente o alemão – Kant, Husserl, Feuerbach e Marx-, dominava no departamento em que a história da filosofia surgia segmentada em antiga, medieval, moderna e contemporânea. A máquina universitária continuava, pois, a enfermar de quase todos os vícios tão cuidadosamente descritos e apontados por António Quadros, tais como a entropia sociológica e uniformizadora do ser humano, o funcionalismo burocrático, rotineiro e amanuense do corpo docente, o sistema inquisitorial do esbirro judicativo ou do professor examinador inapto para aferir talentos e encaminhar vocações, ou ainda o preconceito didáctico consagrado por esquemas e modelos estrangeiros inibidores do mais original pensamento português.
De facto, António Quadros, sendo um literato, um escritor e um intelectual, propunha, incentivava e sugeria uma reforma da mentalidade que passasse por uma Universidade cujo núcleo dinamizador postulasse um Instituto Central de Cultura Superior destinado a um saber teorético actual, vivo e original capaz de vencer forças e tendências fragmentárias em prol da situação concreta da filosofia portuguesa. Enfim, uma ilusão do foro existencial, já que, na linha de pensadores como Unamuno, Ortega, Camus e Karl Jaspers, não era de todo indiferente a um positivismo do sentimento por contraponto ao positivismo do pensamento idealmente abstracto, vago e sem radicação espácio-temporal.
Não obstante, estamos em crer que António Quadros, íntima e paradoxalmente, sabia que a especulação filosófica, no que tem de verdadeiramente criador e imprevisível, não nasce em institutos de cultura nem muito menos se rege por artigos de revistas eruditas e universitárias, ou até mesmo se limita a roteiros bibliográficos ou a trabalhos especializados de divulgação, crítica ou comentário do pensamento alheio. Assim, o mais que se pode esperar da Universidade é o registo fóssil do pensamento pensado segundo critérios textuais, metodológicos e pseudo-científicos que aproximam estudantes e professores no repúdio pela Verdade.
Nas Faculdades de Letras, o que se entende por “filosofia” equivale à revolta das Letras contra o Espírito. Por outras palavras, a filosofia não é uma actividade de gabinete onde os estudantes ou os candidatos a "profissionais da filosofia” se prestam a todo o tipo de exames, vexames e a tortuosos e minuciosos interrogatórios com a mera finalidade de passar às diferentes cadeiras que visam o diploma de fim de curso. De resto, a maioria dos profissionais em questão destina-se a engrossar as fileiras de funcionários públicos do ensino médio, onde, caso consigam colocação, limitar-se-ão a inculcar aos adolescentes um programa curricular praticamente ditado pelas directrizes ideológicas de uma agência especializada das Nações Unidas, nomeadamente a UNESCO.
Aliás, todo este processo encontra-se minuciosamente explicado, detalhado e demonstrado num livro publicado pelo autor destas linhas, intitulado Noemas de Filosofia Portuguesa: um estudo revelador de como a universidade é o maior inimigo da cultura lusíada. Na actualidade, é praticamente o único estudo que vai directo aos aspectos verdadeiramente cruciais da questão universitária, uma vez que não só aprofunda e actualiza o que já António Quadros e Afonso Botelho haviam parcialmente dito e diagnosticado sobre a falência moral e espiritual da Universidade, como ainda põe a nu a actividade antipatriótica perpetrada por uma instituição que tem permanecido praticamente incólume nas duas últimas centúrias.
Deste modo, a ideia de Universidade enquanto corporação espiritual promotora da transcendência no concerto dos povos, é já coisa de antanho. Logo, esqueça-se, para efeitos de actualidade, a histórica filiação da instituição universitária no claustro monacal. E esqueça-se ainda o modelo medievo arquitectado e inspirado nas sete colunas do Templo da Sabedoria. Tudo isso foi já irreversivelmente banido e ultrapassado pela pós-modernidade triunfante.
Infelizmente, continua deveras presente o espectro da Universidade pombalina onde Aristóteles não mais representa o eixo. Por contrapartida, Álvaro Ribeiro – o mestre dos que sabem segundo Orlando Vitorino – dizia que a «filosofia portuguesa representa, pois, uma aventura espiritual de fidelidade a Aristóteles, aventura que, narrada em documentos literários, políticos e religiosos, não foi compreendida pelos metodólogos responsáveis da reforma pombalina da Universidade de Coimbra» (9). E Orlando Vitorino, por sua vez, dizia que «o que há de mais sério na “filosofia portuguesa” é a sua actualização do aristotelismo» (10).
No mais, o filósofo da liberdade também sabia que a maioria das soluções propostas para a resolução da questão universitária traduzia-se, na esteira de Lobo Vilela, António Quadros e Afonso Botelho, numa reforma da mentalidade. Afonso Botelho, inclusive, respondia ao problema universitário segundo os princípios e as directrizes do tradicionalismo católico (11), ao passo que António Quadros depositava a sua esperança em transferir «para a cultura, portanto na forma de resultados definitivos, aquilo que, na obra de Álvaro Ribeiro, é processo de revelação pela filosofia» (12). No fundo, um problema, como refere Orlando Vitorino, que até ao presente não logra passar da «crítica do ensino, nos justos termos em que ela é feita, à consequente viabilidade de uma solução dentro das instituições tradicionais».
Ora, neste ponto essencial, cabe, pois, a Orlando Vitorino inteira razão: nenhum dos autores acima referidos, ou mesmo outros que se procurem «na vasta bibliografia portuguesa sobre o problema do ensino», souberam dar aquele passo decisivo. Nessa medida, quer fosse «por atavismo ou formação», quer ainda «por prestígio social dos títulos académicos», a verdade «é que nisso está uma infindável origem de contradições que nelas logo absorvem ou fazem frustrar as sempre necessariamente parciais soluções apresentadas em obras individuais, em planos ou relatórios, em esperanças postas numa reforma ou numa infindável sucessão de reformas das sempre idênticas instituições. Tudo delas se discutindo e criticando e condenando, só a elas se não discute nem critica nem condena. Porque o tudo que se discute, é por partes que se condena e reforma».
 |
| António Quadros |
«O. V. começa por fazer a descrição crítica do nosso actual ensino (...) subordinado a uma visão colectivista, marxista e reducionista (...) e que fomenta uma igualização ou uniformização pelo inferior destinada a forjar inferiores ou escravos (...) Depois da crítica, O.V. propõe, não só a extinção da Universidade, o reconhecimento de todas as formas de ensino livre e o abandono do predomínio do Estado na organização do ensino, mas também o primado da filosofia no ensino, entendendo-se que todo o ensino depende, não de uma filosofia, mas da filosofia (...) Seguindo a ideia, já defendida por Leonardo Coimbra e Delfim Santos, de que as reformas não conseguirão nada, o autor faz a proposta de um ensino completamente diferente...» (13).
Sobre a extinção da Universidade, diz-nos ainda Orlando Vitorino aquando da sua entrevista dada ao jornal A Capital, a 4 de Novembro de 1985:
«Temos apresentado e repetido - em folhetos, em artigos, em conferências e em livros - todos os argumentos que concluem pela necessidade de extinguir a Universidade. No entanto, desde o Magnífico Reitor da Universidade de Coimbra até ao caloiro da Faculdade de Direito e seus aflitos pais, todos nos pedem explicação dessa proposta. Estou cansado de a repetir para, em todos os casos, acabar por obter a concordância de quem a pede. A extinção tem inúmeras razões, desde o estabelecimento da autonomia do ensino superior, autonomia sobretudo científica, até ao facto de a Universidade, estatizada há dois séculos e marxizada há uns quarenta anos, condicionar e determinar toda a organização do ensino, que é, como se sabe, caótica e insusceptível de reforma. É preciso extingui-la para, em vez dela, criarmos escolas privadas de ensino superior.
Como lhe observássemos que já existem entre nós escolas privadas de ensino superior - a Universidade Livre e a Universidade Católica - Orlando Vitorino esclarece:
Essas Universidades só administrativamente são privadas. O seu ensino, a sua didáctica, os seus métodos, os seus cursos, até os seus professores são os mesmos da Universidade do Estado que lhes serve de modelo, modelo imposto como condição para que os respectivos cursos sejam reconhecidos pelo Ministério da Educação, todo ele infiltrado de comunistas nos lugares-chave».
Notas:
(1) Orlando Vitorino, «Um filósofo singular: Álvaro Ribeiro», in Letras & Letras, 5 de Maio de 1993, n.º 94.
(2) Orlando Vitorino, Refutação da Filosofia Triunfante, Teoremas, 1976, p. 21.
(3) O ministro referido é o Sr. Dr. Cavaco Silva e a respectiva justificação foi publicada no semanário «Tempo», em Novembro de 1981.
(4) Orlando Vitorino, Exaltação da Filosofia Derrotada, Guimarães Editores, 1983, pp. 25-30.
(5) O modo como o direito romano se sistematizou tendo por princípio a justiça e como o direito moderno fez da liberdade o seu princípio, está exposto pelo autor no livro «Refutação da Filosofia Triunfante».
(6) Ibidem, pp. 95-97.
(7) Orlando Vitorino, O processo das Presidenciais 86, Organizado e Publicado pelos Serviços da Candidatura de Orlando Vitorino, Lisboa, 1986, p. 26.
(8) Prefácio a John Stuart Mill, Ensaio sobre a Liberdade, Arcádia, 1973, pp. 27-28.
(9) Álvaro Ribeiro, Apologia e Filosofia, Guimarães Editores, 1953, p. 57.
(10) Prefácio à 3.ª edição de Hegel, Princípios da Filosofia do Direito, Lisboa, Guimarães Editores, 1990, p. 16.
(11) Afonso Botelho, O Drama do Universitário, Lisboa, Cidade Nova, 1955, p. 90.
(12) Cf. Orlando Vitorino, «A Angústia do Nosso Tempo e a Crise da Universidade – Por António Quadros», in Diário Popular, Lisboa, 24 Out, 1956, pp. 17 e 19.
(13) António Quadros, in Tempo, 18/1/85.
Continua