Escrito por Álvaro Ribeiro
.jpg) |
| Expulsão de Adão e Eva, por Alexandre Cabanel. |
«Pinharanda Gomes classifica-o entre os "gnósticos" no seu Dicionário de Filosofia Portuguesa. Há, com efeito, em Álvaro
Ribeiro o desgosto do mundo humano e a ideia de que a salvação vem pelo
conhecimento. Como, porém, o conhecimento é interpretado em analogia com “O
Homem conheceu a Mulher” do Génesis, o seu pensamento opõe-se a
todas as correntes gnósticas que põem como condição do aperfeiçoamento humano a
abstenção de relações sexuais ou a tolerância delas como um mal necessário,
segundo o ensino de São Paulo. Deste ponto de vista, Álvaro Ribeiro não é um “gnóstico”,
é um adversário da Gnose.
Aquilo a
que podemos chamar a baixa gnose e
que perpetua degeneradamente o ensino de São Paulo, na impossibilidade de
reprimir o puro, natural, santo impulso do amor entre o homem e a mulher,
procedeu à sua conspurcação pelo cinema, pela imprensa, pela rádio, pela
televisão, pela pornografia, fingindo defendê-lo ao tornar patente e público o
que só é verdadeiramente pelo segredo e pela relação individual. A colectivização
do acto sexual constitui a última e aparentemente decisiva, julgam eles,
consagração da magia negra pelo socialismo. Compreende-se assim que o nome de
Álvaro Ribeiro seja silenciado e odiado à esquerda e à direita.
O amor
entre o homem e a mulher é, em primeiro plano, uma relação sem mácula de duas
naturezas. Pela palavra, a relação natural torna-se transparente do
sobrenatural. A sua socialização movimenta as palavras e as imagens obscenas
que atraem o que no sobrenatural constitui o mais baixo e reles demonismo. A
palavra é pelo pensamento como o acto é pela palavra. Só o pensamento, criando
as palavras da imaginação amorosa faz nascer o acto que eleva e redime. O
pensamento é, porém, como o filósofo diz, uma actividade invisível do espírito
cujo meio próprio é o segredo e o mistério.
Assim se
evidencia a íntima relação da filosofia com o amor. Pelo pensamento poderemos
viver o mistério que é o universo, o imenso universo de que o amor entre o
homem e a mulher assistido por Deus é a renovação miniaturial, mas infinita. O
perfeito amor é o que corresponde a uma perfeita filosofia e essa é a de Deus
que devemos procurar imitar.»
António Telmo («A Ilha do Amor no Pensamento de Álvaro Ribeiro»).
«As teses
da biografia íntima do pensador sublinham as posições da sua biografia
exterior. Se conseguirmos estabelecer esta relação sublimante, conseguiremos
apreciar a verdade concreta, a firmeza real das teses e do pensamento. Um
exemplo: Álvaro Ribeiro teve uma infância difícil que lhe tornou tormentosa a
transição à fala e para sempre lhe perturbou as capacidades de expressão oral.
Todavia, enunciou a tese oposta a esta posição e empenhou-se permanentemente em
afirmar e demonstrar que a fala é o mais elevado valor da natureza humana e a
expressão a garantia da realidade, ou da verdade, do pensamento. Escreve, sobre
esta tese, as melhores páginas que jamais se escreveram sobre a caracterização
da língua portuguesa, da língua francesa e da língua alemã, como línguas da
filosofia e, identificando a tradição com a pátria, enunciou a tese de que “a
tradição é a língua”, isto é, de que na língua se guardam os significados, os
conceitos e as ideias que, em suas sucessivas e múltiplas variantes, constituem
a riqueza de pensamento de um povo, constituem a própria pátria, porque a pátria é uma entidade espiritual.
Outra
posição de Álvaro Ribeiro foi a ausência de família, posição infeliz ou
negativa em que o pensador firmou a tese contrária: a de que na família reside
o elemento mais firme e fecundo da educação, não podendo nós esquecer que esta
tese, de âmbito à primeira vista limitado, se amplia na tese inspirada na ética
aristotélica, de que toda a filosofia é uma doutrina da educação ou uma teoria
do ensino.
Ainda outra
posição na biografia exterior de Álvaro Ribeiro, foi a da constante pobreza em
que toda a vida viveu e, por vezes, muito sofreu. Todavia, o pensador, em vez
de cair em qualquer vulgar preconização socialista da igual distribuição da riqueza, antes afirmou a sua concordância com as teses do liberalismo chegando
até a enaltecer o positivismo – que doutrinariamente refutou – de Teófilo Braga
por haver contrariado, com êxito, o republicanismo sindicalista de figuras da
1.ª República que lhe estariam mais próximas – dele, Álvaro Ribeiro – como o
portuense Basílio Teles.»
Orlando Vitorino («As Teses da Filosofia de Álvaro Ribeiro»).
.jpg) |
Orlando Vitorino
|
«O
liberalismo da razão pura, ou o liberalismo puro, nunca poderia ser operante na
vida social. Ele tem sido, porém, apresentado pelos doutrinários na expressão
radical da liberdade indefinida ou infinita, na confiança plena dada à
iniciativa particular, e na admissão providencialista do jogo das leis naturais.
É evidente que tal liberdade concedida à motivação egoísta das actividades
humanas tende a criar o estado de guerra, ou o seu análogo, na vida social,
visto que as leis naturais são contingentes e estão maculadas pelo mal. Ao
egoísmo dos homens sucede o egoísmo das instituições, e o próprio princípio
associativo, ao intitular-se de socorro-mútuo, nessa designação exclui aqueles
que, sofrendo de facto, não beneficiam de auxílio por não estarem em situação
legal. O princípio regulamentar de só conceder benefícios aos sócios é a
perfeita negação da caridade. A instituição egoísta fortalece o princípio da
tirania, acabando por negar e contradizer a liberdade indefinida e infinita.
Não há,
porém, puro liberalismo, nem liberalismo de razão pura, como não há puro
naturalismo que se regule por leis físicas. A liberdade está condicionada pelo
processo educativo, pela possibilidade de aperfeiçoar cada homem actualmente
existente, e, mais ainda, pela possibilidade de transformar o género humano
durante o processo infinito de redenção. A natureza, dizem os teólogos, tem de
ser completada pela graça, e sem a graça não é possível a glória. A acção
educativa é, portanto, uma acção de auxílio, e não uma intervenção de
constrangimento. É de advertir que ao falarmos do processo educativo não nos
referimos apenas à escolaridade. A escola moderna tende a desinteressar-se mais do composto humano para se subordinar aos interesses mais imediatos, mais urgentes e mais prementes da sociedade.
Explicado
assim que a liberdade depende da verdade, e não da vontade mais ou menos
opiniosa, resta resolver o problema de saber quem é livre. É este, aliás, o
problema equivalente ao de saber quem é sui
juris. O doente, o degenerado e o anormal, seres nos quais a vontade não é
livre, não podem exercer os direitos de concessão universal; nesse caso estão
as crianças, quer dizer, os seres humanos em fase biológica de crescimento;
outrora foram também considerados menores as mulheres e os escravos. Entre as
pessoas legalmente consideradas livres, nem todas podem exercer os seus
direitos, porque estes vão sendo cada vez mais condicionados por certas provas
de ciência ou de liberdade. A burocracia faminta de papéis exige certidões,
certificados e atestados que o cidadão obtém à custa de muitas humilhações
perante os seus semelhantes, ou até perante os seus inferiores. A sociedade
duvida cada vez mais de que os seus membros amem a verdade, tenham palavra de
honra, sejam livres. Estas exigências burocráticas que tendem a aumentar com o
rodar dos tempos, demonstram bem a distância que existe entre a vontade animal
e a liberdade humana.»
Álvaro Ribeiro («Escola Formal»).
«A liberdade
exige que o indivíduo possa prosseguir os seus
propósitos; quem é livre em tempo de paz não está cativo dos desígnios concretos
da sua comunidade. Essa liberdade de decisão individual deve-se à definição de
distintos direitos individuais – os direitos de propriedade, por exemplo – e de
áreas em que cada um pode usar para os seus próprios fins os meios com que
conta ao seu dispor. Isto é, uma clara área de liberdade é definida para cada
um. Tal é de capital importância. Ter algo de seu, mesmo que pouco, é
igualmente o fundamento para formar uma personalidade própria e criar um
ambiente distintivo em que cada pessoa prossiga os seus desideratos
individuais.
A confusão
nasce do pressuposto vulgar de que é possível ter esse tipo de liberdade sem
restrições. Este pressuposto surge no aperçu atribuído a Voltaire de que “quand
je peux faire ce que je veux, voilá la liberté” (“a liberdade é fazer o que bem
entendo”), na afirmação de Bentham de que “toda a lei é um mal porque toda a
lei é uma infracção à liberdade” (1789/1887: 48), na definição de Bertrand
Russell de liberdade como “ausência de obstáculos à concretização dos nossos
desejos” (1940: 251), e em inúmeras outras fontes. A liberdade universal é, não
obstante, impossível neste sentido porque a liberdade de cada um claudicaria
ante a liberdade ilimitada, isto é, na ausência de restrições, de todos os
demais.
A questão é,
portanto, como alcançar a maior liberdade possível para todos. Isso pode ser
alcançado mediante a restrição da liberdade de todos por via de regras
abstractas que impedem a coerção arbitrária ou discriminatória por ou de outras
pessoas, evitando qualquer invasão da livre esfera individual de cada um (ver
Hayek 1960 e 1973...). Em resumo, objectivos concretos comuns são substituídos
por regras abstractas comuns. O governo é somente necessário para impor essas
regras abstractas e, assim, proteger o indivíduo contra a coerção ou invasão da
sua livre esfera pessoal por outrem. A obediência forçada a propósitos comuns
concretos é equivalente a escravidão ao passo que a obediência a regras
abstractas comuns – por mais pesadas que possam ainda fazer-se sentir – abre campo
à mais extraordinária liberdade e diversidade. Por vezes, supõe-se que essa
diversidade possa, contudo, redundar em caos ameaçando a ordem relativa que
associamos à civilização, mas maior diversidade gera mais ordem. Daí que o tipo
de liberdade possível graças à adesão a regras abstractas, em oposição à
liberdade de restrições, seja, como Proudhon observou certa vez, “a mãe e não a
filha da ordem!”».
Friedrich A. Hayek («Arrogância Fatal: Os Erros do Socialismo»).
«A Liberdade
não é, ao contrário do que a etimologia da palavra possa sugerir, uma
derrogação de todos os constrangimentos, mas sim a aplicação da mais efectiva
observância de cada um dos justos constrangimentos a todos os membros de uma
sociedade livre, sejam eles magistrados ou súbditos.»
Adam
Ferguson
«Amor não quer cordeiros nem bezerros.»
Luís de Camões
O Amor
O amor é
uma realidade imaginária, e por isso mesmo dificilmente inteligível. Quem
estiver livre de confundir a imaginação com a representação mental e com a
percepção, quem souber que a imaginação é criadora, saberá também que o amor se
distingue do eros por um carácter sobrenatural. A atracção dos sexos, cuja
fenomenologia naturalista se apresenta à consciência humana em imagens
perturbantes, significa apenas uma relação a compor na correlação própria da
analogia.
A linha de
demarcação entre o natural e o sobrenatural não será a mesma para um critério
histórico e para um critério metafísico, mas seja qual for o critério adoptado,
sempre a distinção há-de contribuir para a inteligência da condição sexual da
humanidade .
Os fins superiores da vida humana realizam-se por mediação do amor, graças à
imaginação que os amantes intercalam no que naturalmente é comparável ao
procedimento das espécies zoológicas. A decadência da arte explica a redução da
vida amorosa à vida erótica quando a humanidade sofre o cansaço de imaginar.
O estudo do
amor conduz necessariamente ao estudo dos mitos, e a presença da mitologia é
critério bastante para separar a poesia lírica da poesia de amor. Está no Simpósio de Platão a prova filosófica de
que o conceito de Eros não é suficiente para explicar a ideia de Amor. Admitido
que o amor propõe à consciência um problema humano, um segredo natural e um
mistério divino, convém reconhecer que na adunação está efectivamente a
religião.
Alguns
compêndios de psicologia inserem, no capítulo dedicado à vida afectiva, breves
referências ao amor, mas tudo confundem com o tratamento esquemático das
emoções, dos sentimentos e das paixões. É, todavia, evidente que o amor não
pode ser classificado entre os fenómenos afectivos. O amor é uma realidade
transhumana e transcendente, de que podemos ou não ter consciência, embora seja
certo que esta realidade revela a sua verdade mediante emoções, sentimentos e
paixões.
Incluir o
estudo do amor nos livros de psicologia equivale a reconhecer que só pela palavra,
pelo modo por que a psique formula o seu logos, sabemos que o amor é algo
desconhecido pelos animais. A arte da palavra é efectivamente o que humaniza e
imanentiza essa realidade transcendente a que damos o nome de amor. Neste
aspecto se vê quanto a psicologia se relaciona com a literatura.
O vero
atractivo da obra literária está na promessa de descrever, e de narrar, como é
que as personagens tomam consciência do amor, não só para o exprimir mas também
para o explicar. Muitas vezes tal consciência não se dá perfeitamente, e então
é o escritor quem excita o leitor a assumir consciência da inconsciência das
personagens, acrescentando com a ironia reflexiva um motivo de maior interesse
na feitura do romance. Vendo que as personagens vivem emoções, sentimentos e
paixões que, por motivos vários, não se referem directamente ao ser amado, o
leitor observa uma inconsciência que há-de ter efeitos dolorosos, traumáticos,
alarmantes, até ao momento trágico em que as personagens se desenganam e se
defrontam com a vontade.
O carácter
involuntário e inexplicável do amor é que permite confundi-lo com a paixão, e
neste engano diz o vulgo que determinado homem está apaixonado. O homem que ama
sabe que é livre, mas a sua libertação passa do sofrimento para o sentimento, e
do sentimento para a imaginação, segundo um ritual de expressão e de
comunicação a que a mulher, já prevenida e preparada, naturalmente se conforma.
Errada é, pois, a nomenclatura da sedução, da conquista e da posse, porque,
oriunda dos domínios da vontade e da violência, não pode adequadamente cingir
os aspectos evasivos do amor.
O amor
humano abrange as ordens corporal, anímica e espiritual. Nisso se distingue,
sem comparação degradante, com o instinto de reprodução dos animais. A ética do
amor seria mera convenção moral, sempre discutível, se a perfeita união da
mulher com o homem não tivesse repercussões virtuosas ou pecaminosas na ordem
do Espírito.
A união
amorosa realiza-se em três planos que poderíamos dizer da vida afectiva, da
vida imaginativa e da vida racional, escala cuja ascensão e descensão abre
sempre novos horizontes aos amantes. A imaginação é, efectivamente, o poder
mais alto que ao ser humano foi dado para atenuar a dor, se não para atingir o
prazer. Quando a razão expulsa a imaginação, quando o ser amante julga o ser
amado, a conclusão chama-se divórcio, separação de dois egoísmos.
Confundir a
vida instintiva, a que o sedutor se cinge, com a vida emocional, apenas porque
uma e outra se denunciam pelo comportamento fisiológico, equivale a confundir
imanência com transcendência. A palavra intervém sempre para humanizar a vida,
e é pela magia das palavras, ou pela poesia, que o homem e a mulher se podem
assegurar de estarem ou não perante o amor. Sem eloquência não há vida amorosa,
e a prova é que para simular o amor em actos de sedução é indispensável
recorrer a palavras falsas.
Toda a
nossa atenção incide sobre os verbos que exprimem a consciência do estado
amativo, e sobre eles é possível fazer um admirável estudo de psicologia e de
filologia. A consciência exprime-se por locuções em que entram os verbos
auxiliares, seguidos de nome predicativo do sujeito, quando por egoísmo a
pessoa não excedeu o grau de liricidade. Uma vez reconhecida a pessoa amada,
uma vez imaginada a superioridade da pessoa amada, já o amor se exprime por
verbos activos e transitivos, verbos que pedem complemento directo.
A
declaração de amor utiliza verbos como desejar,
querer, gostar, etc., mas também usa substantivos verbais, quer dizer, os
substantivos que designam acções e paixões, embora não seja esta a definição
corrente na nomenclatura gramatical. Afeição,
admiração, adoração substantivam mas exprimem actividades da alma amante, a
que responde a alma amada com a passividade de termos tais como compaixão, simpatia, ternura, querença. A imaginação, exprimindo
hipérboles, compõe os dizeres amorosos com as promessas de eternidade.
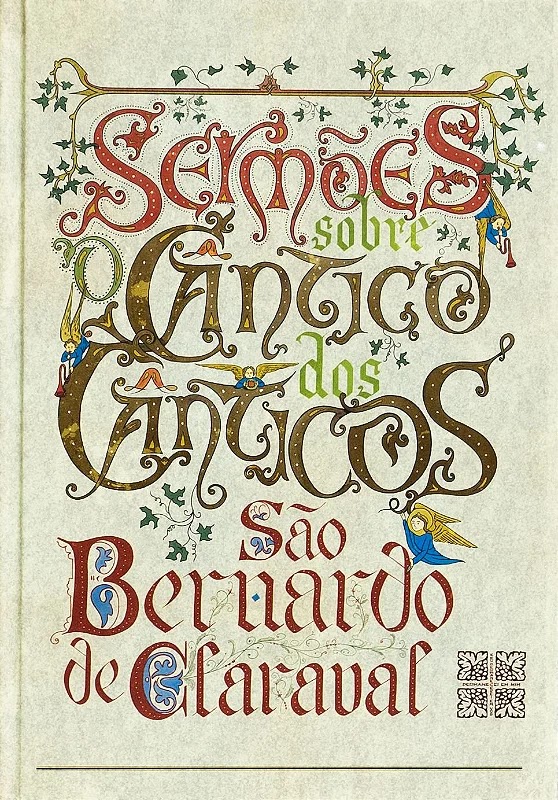
Ao estudo
da linguagem do amor pertence também o estudo dos termos de comparação de que o
amante se utiliza quando pretende louvar a pessoa amada. Lembremo-nos do Cântico dos Cânticos, e por esse exemplo
nos guiemos para observar a relatividade das circunstâncias e das oportunidades
que sugerem as metáforas da poesia de amor. O estudo estilístico terá de ser
acompanhado pelos estudos foclórico e etnográfico, sabido que a poesia
primitiva, ou popular, é a matriz das mais altas obras da literatura.
É
indispensável, como vemos, um certo domínio da linguagem para atingir alta
consciência do amor. A infância, isto é, a idade em que a criança não fala, ou
ainda não fala correctamente, não pode ser idade de amor. A precocidade da
mulher em relação ao homem, no desembaraço da fala, na escolha ou invenção de
expressões melodiosas, na espontânea aptidão para cantar, são indícios de que
para o sexo feminino o amor contém maior importância do que lhe atribui o sexo
masculino.
Há muitos
escritores que, cientes da verdade de que logo ao nascer pertencemos a um dos
sexos, afirmam que a consciência do amor possa surgir antes da puberdade, e
confirmam a sua tese mediante a descrição fenomenológica de emoções,
sentimentos e paixões que se revelam na puerícia, idade que se conta dos sete
aos catorze anos. Estes amores, falsamente chamados infantis, porque quem ainda
não fala ainda não sabe amar, têm até sido poeticamente descritos em diários,
memórias e obras literárias. Tais documentos humanos de imperfeita consciência
do amor revelam uma expressão que ainda não é comunicação, ou comunicativa,
provam que é indispensável o tempo próprio para que se verifique o trânsito da
potência ao acto.
Durante a
puerícia é mais natural a indiferença ou o desinteresse de um sexo pelo outro
do que a curiosidade tendenciosa para as relações sexuais, embora a imitação
das atitudes e dos procedimentos dos adultos possa surgir de exemplos dados no
ambiente social. Muitos incitamentos exteriores apressam a curiosidade pela
temática amorosa, e muitos exemplos incitam a puerícia a um desequilíbrio moral
pela precocidade erótica. Será difícil preservar o pudor natural das crianças
num ambiente em que os chamados meios de difusão da cultura estão, e não podem
deixar de estar, impregnados de problemática afrodisíaca .
Incitar os
adolescentes a que procurem pessoas que não
respeitam, não estimam, não amam, para com elas praticarem a
simulação do amor, num contrato miserável e por vários aspectos comparável ao
homicídio, é um crime, porque transforma os vivos em mortos. Esta negação do
amor, professada por aqueles que chamam ao casamento um contrato, segundo uma
definição já condenada na Filosofia do Direito de Hegel, contradiz a teologia
do matrimónio e, com ela, o significado espiritual da vida humana .
Tal simulação chega a ser tolerada por pessoas que se jactam de bom
comportamento moral.


O
preconceito egoísta denuncia-se, porém, na unilateralidade das expressões
vigentes. Cada pessoa pretende resolver apenas o seu próprio problema sexual, indiferente a quaisquer
razões de amor. Assim, em consequência desta atitude solipsista, os verbos casar, separar e divorciar são usados na conjugação reflexa, o que é linguisticamente bem significativo do carácter individualista dos nossos
costumes e da nossa legislação.
Além destes
aspectos, que alarmam o moralista, convém prestar atenção a que se acentua cada
vez mais a tendência para a masculinização da cultura durante a idade escolar.
Quanto mais vencer a tese da igualdade dos sexos perante o padrão masculino,
quanto mais a mulher se desvestir dos atributos de feminilidade, por influência
da escola, tanto mais a vida amorosa tenderá a descer à preocupação elementar
da satisfação dos instintos. A mulher crê na superioridade da cultura
masculina, pretende absorvê-la e assimilá-la, mas na medida em que imita o
homem vai considerando ridículos e desprezíveis os atributos que
outrora eram tidos por característicos da feminilidade.
As doutrinas religiosas explicam a relação da mulher com o homem pelo simbolismo da relação da carne com o espírito. O matrimónio solidário dos mistérios da encarnação, da redenção e da ressurreição, sacramentando confere as graças especiais dos casados e dignifica a geração humana. Infelizmente, porém, as doutrinas religiosas vão-se adulterando em doutrinas sociológicas, e já os moralistas se contentam apenas com sobrepor ao facto natural o direito social.
A moral
condena, pelo ridículo, o homem que de qualquer modo se afemina, e a lei
intimida-o até com violentas sanções; mas a sociedade tolera que a mulher a
pouco e pouco adquira atitudes e hábitos masculinos, desde o corte do cabelo
até ao vestuário de uniforme. A transfiguração da mulher, nos limites
consentidos pela Natureza e tolerados pela Sociedade, não pode deixar de
adulterar a significação do amor, da maternidade e da família. O homem há-de
sentir-se humilhado quando reconhecer que a mulher, em vez de manifestar a
superioridade que é própria do seu sexo, perverte a imaginação em inteligência,
para dominar nos campos abertos ao instinto combativo.
Ninguém
observa com atenção suficiente que é injusto obrigar a rapariga a receber o mesmo ensino escolar que foi destinado
para o rapaz, e que tal injustiça é clamante no período dos sete aos catorze
anos. É de alarmar a ignorância de que a mesma idade cronológica não
corresponde nos dois sexos a iguais idades biológicas e psicológicas, pelo que
não pode haver ensino simultâneo dos mesmos programas escolares. A rapariga
cumpre mais aceleradamente o ciclo da evolução, que pode dar-se por definido na
puberdade, pela consciência da finalidade maternal, que a torna verdadeiramente
mulher, enquanto o rapaz só nesta idade desperta para a seriedade da vida à
chamada da vocação.
Diz-se que
as raparigas são mais precoces do que os rapazes, mas convém explicar esta
noção de precocidade pelos seus motivos biológicos e psicológicos. Fácil é
verificar quanto as raparigas são sensíveis ao ridículo, dotadas de aptidão
para as expressões cómicas, que transmitem umas às outras com risinhos em voz
baixa; fácil é verificar que os rapazes se dedicam à exteriorizar a vontade,
falando alto e gritando, satisfazendo por processos violentos a sua profunda
tendência expansionista. As raparigas cedo se dedicam ao estudo das pessoas,
dos caracteres e dos temperamentos, ganhando assim superioridade sobre os
rapazes que, mais reflexivos, e intimidados, só depois da adolescência hão-de
entender a diferente psicologia de cada sexo.
A tendência
para o individual, o pessoal e o concreto é mais nítida na rapariga, que tem
melhor memória para o jogo lúdico das palavras, enquanto que o rapaz, para dar
à vontade a justificação racional, tende para o juízo reflexivo e para a
abstracção. Não há, para a dialéctica, metodologia mais útil do que seguir as
fases do jogo, da arte e do trabalho nas várias idades, para ver como elas naturalmente
se diferenciam conforme os sexos. A rapariga tende espontaneamente a brincar
com a boneca, a exercitar a sua habilidade manual nos trabalhos relacionados
com a alimentação, o vestuário, o mobiliário e a habitação, a distinguir-se no
que se convencionou chamar «artes decorativas»; enquanto o rapaz se concentra
com os brinquedos mecânicos, em busca de uma física que ninguém o auxilia a
descobrir, ou a arquitectar edifícios que se transformem em fábricas por
virtude da engenharia, ou a procurar mundo onde possa dar expansão às suas
tendências combativas, aventureiras e nómadas.
.jpg)
Vemos assim
que o programa de ensino deve ter por lema transitar do concreto para o
abstracto, considerando primeiro a antropologia com a biografia e a história,
seguidamente as ciências biológicas e a geografia, depois a física e as
técnicas industriais, e por fim a matemática. Claro está que a ordenação
minuciosa das matérias destas disciplinas não pode ser a mesma para raparigas e
para rapazes, se atendermos a que a evolução biológica e psicológica de ambos
os sexos não é simultânea, e que portanto não podem ser simultâneos os mesmos centros de interesse. Raparigas e rapazes não podem aprender ao mesmo tempo as
mesmas disciplinas ou, com maior exactidão, exercitar os processos mentais que
tais disciplinas exigem, mas é nesta desarticulação das ciências e das artes
para fins didácticos que falham muitos redactores de testes, de pontos para
exame e de livros escolares.
Só depois
da puberdade, fixada e definida a alma, é que começa a deixar de ser perigosa
para ambos os sexos a uniformidade didáctica e a ser conveniente o ensino
comum. O ingresso nas escolas de habilitação profissional, tanto das profissões
inferiores como das profissões superiores, poderá ser condicionado por um exame
de aptidão, mas nunca por um exame à soma de conhecimentos que pode e deve ser
diferente, que pode e deve ser desigual, nos estudantes dos dois sexos. A
complementaridade de pontos de vista, masculinos e femininos, perante a mesma
técnica, a mesma ciência ou a mesma metafísica, será um benefício social.
Muito
grandes são os estragos que na alma feminina exerce o ensino público, sempre
que pela masculinização tende para a uniformização que nunca chega a ser
espiritual. Nem todas as mulheres se defendem daquela linguagem impessoal, ou
abstracta, que estrutura as técnicas, as ciências e as metafísicas; nem todas
as mulheres se libertam daqueles modos de raciocinar ou de pensar, que
docilmente assimilaram enquanto estiveram na escola. Felizmente, porém, maior é
o número daquelas que se desprendem de pesos mortos, que lhe dificultam a vida,
para regressarem ao que efectivamente é a sua vocação natural e sobrenatural.
A mulher
consciente sabe que o seu primeiro dever é ser bela, que deve cultivar e
aperfeiçoar o seu tipo de beleza, visto que de um modo geral se pode dizer que
não há mulheres feias. A fealdade só é ostensiva na mulher que não cuida do seu
corpo, do seu vestuário, da sua habitação. A mulher dotada de imaginação saberá
sempre valorizar a parcela de beleza com que foi brindada por Deus.
A mulher comunica-nos
a sensação de beleza quando tem consciência do valor do seu corpo. Quando a
mulher se compenetra de que o seu corpo deve ser belo como um templo, também o
resguarda dos olhares profanos como quem reserva um tesouro. A simetria, a
estabilidade e a altura da mulher dão à sua figura algo de hierático e
arquitectónico, inspirando os pintores a representarem a beleza invisível em
retratos que hão-de ser sempre admiráveis.
A pintura
esforça-se por fixar todas as gradações do pudor feminino, porque a arte é a
representação sensível do insensível, que se aperfeiçoa ascendendo do problema
para o segredo, e do segredo para o mistério. O pudor feminino é graça que
todos os homens respeitam, quando a reconhecem autêntica e sincera. Tal
respeito perdura até nos tempos em que a dança, os desportos e a ginástica
parecem aconselhar à mulher a completa desnudação, antecedente de uma dádiva total, sem reserva nem escolha.
A mulher é
atraente, mas para atrair acentua a sua beleza com ornatos de joalharia. A
mulher sabe sempre que o homem tantas vezes ignora quando interpreta o
simbolismo das jóias. Assim realça a fronte com o diadema, as orelhas com os
brincos, o colo com os colares, os braços com as pulseiras, os dedos com os
anéis, para que a fragilidade da carne aumente de beleza no contraste com a
preciosidade dos metais.
A mulher é
atraente na medida em que a beleza, valor estético, significa atracção. Bem
sabemos que a beleza feminina é efémera, móvel e simbólica, mas há mulheres que
a podem conservar por graça que dura a vida inteira. Na sua mobilidade, a
mulher pretende impressionar um só tipo de homem, ou um só homem, aquele que já
elegeu ou que há-de ser eleito, porque é feminino viver no signo da monogamia,
exclusiva e total.
Erram
quantos julgam ser a mulher naturalmente vaidosa. A vaidade é ávida de aplausos
e louvores, e vaidosos são os homens que exultam com as condecorações no peito
e com as coroas na cabeça – sejam coroas de metais, de louros ou de espinhos –,
contanto que assim ostentem o sinal de estarem dependentes da opinião dos seus
semelhantes. A mulher procede muito mais por opinião própria, com a
perseverança de quem persegue um destino, resignada e paciente.
Acumulando
motivos de distinção entre as outras mulheres, e de brilho que impressione os
olhos dos homens, cada qual pretende exteriorizar simbolicamente o que a
sociedade lhe impede de exprimir directamente pelas emoções. A moda, ou mudança
de vestuário, vale de discurso alegórico pelo qual a mulher, quando sabe
perfeitamente o simbolismo das cores e das formas, torna a sua alma inteligível
a quem for capaz de a entender. Nada contraria tanto a feminilidade como a
renúncia à liberdade de expressão simbólica, nada lhe repugna tanto como a
obrigação de vestir um uniforme.
Ninguém
ignora o simbolismo do preto e do branco no vestuário, ninguém ignora o
significado do luto e da candura, da viuvez e da virgindade. Todas as cores são
dotadas de significação notável, todas as figuras que contornam as cores
representam realidades inteligíveis, e não há mulher que desdenhe a graça de
rever no espelho os fantasiosos enfeites da sua arte admirável. Adivinhar o que
o símbolo diz quando falta a palavra, eis o que só é dado aos homens que
estudam fora dos livros a estética, porque a estética, ciência dos símbolos ou
simbologia, tem por efeito exercitar a alma na intuição precisa dos segredos
naturais.
A sociedade
não consente que a mulher exprima tumultuariamente as suas emoções, nega-lhe o
direito de manifestar o natural anseio de obter a companhia do varão, obriga-a
retrair-se numa atitude expectante, e assim é o sexo feminino impelido a usar a
linguagem indirecta dos símbolos, espera ser desejado enquanto não lhe for
lícito desejar. Decerto que o desejo não é ainda amor, decerto que o desejo é
obscura consciência do instinto que quer ser dado à luz gloriosa da sensação,
mas consciência dolorosa e sofredora. A equivalência entre desejo e sofrimento,
em que por leviandade de alma poucos reparam, torna-se evidente a quem passou
sede ou fome, conforme aliás se diz em comparações usuais da linguagem erótica.
A mulher
tem por mister esforçar-se por ser admirada, desejada e amada, para que entre
os sucessivos pretendentes vá eliminando os que menos lhe agradam até à hora
decisiva da escolha. As palavras compaixão, condolência e concordância, que
podem valer de sinónimos para simpatia, denotam bem que o amor se revela pela
simultaneidade de dois sofrimentos, pela esperança comum de sublimar a dor pelo
prazer. Toda a arte de amar gira em torno da compaixão, conforme demonstrou
Miguel de Unamuno no livro intitulado Del
Sentimiento Trágico de la Vida.

A mulher
declara a compaixão pelo homem de quem admira a superioridade, qualquer que
seja o tipo social da superioridade. Enquanto umas mulheres julgam, porém, essa
superioridade desejável só para seu benefício, antegozando graças a obter
mediante o casamento, tão estáveis quanto garantidas pela legislação civil,
outras não ignoram que a superioridade masculina aparece desarmada neste mundo,
e que a sociedade não reconhece à primeira vista os santos, os heróis e os
génios. A mulher amante dispõe-se a subordinar a sua vida à vida do seu amado,
e, nesta subordinação tão voluntária como consciente, gratifica o homem com a
possibilidade de seguir a sua carreira, de vencer e de triunfar.
Condenáveis e lamentáveis nos parecem todas as
mulheres que, dando ouvidos a terceiras pessoas, impediram os seus maridos de
realizarem as obras a que deveriam ter-se dedicado por vocação. Grande é o
número de artistas, escritores e pensadores que, contrariados pelo egoísmo
pessoal, familiar ou mundano de suas mulheres, desistiram para sempre de
cumprir a missão superior. Todos nós conhecemos vários exemplos na sociedade
contemporânea, e se bem que a decência impeça de os apresentar a execração
pública, nada evita que sejam por vezes relembrados em conversas particulares
ou confidenciais.
O mérito,
para não dizermos o dever, da mulher casada está em adaptar-se às condições
sociais do marido, e não na perfídia que contraria a vocação masculina,
alegando exigências de economia familiar. Todos os homens concordam com igual doutrina
quando, enternecidos pelo amor ou até pela amizade, afirmam que não desejariam
que as suas mulheres trabalhassem fora do lar, e quando, em consequência dessa
doutrina, procuram acesso a profissões mais remuneradas, para acertarem enfim a
economia doméstica. O egoísmo masculino renega, porém, aquela doutrina, quando
admite que as mulheres dos outros
percam a beleza, a saúde e até a honra no exercício das mais duras profissões
do comércio, da indústria e da agricultura.
A mulher
faz a graça ou a desgraça do homem, porque lhe propõe as ideias, emoções e
figuras que estimulam ou atenuam a sua actividade. Da qualidade destas figuras,
emoções, ideias, que pairam na atmosfera de sonho, de poesia ou de realidade,
depende a possibilidade de o homem ser herói, artista ou santo. Na mulher que
escolheu, e que escolheu porque a considerou bondosa, bela ou inteligente, o
homem, senhor da sua liberdade, hipotecou perigosamente o seu destino .
A mulher
bem avisada deve estar preparada para reconhecer quão fraco é na vida íntima do
lar o homem que parece forte na via pública, conhecer os desânimos, as desistências,
as covardias do sexo masculino nas horas de perturbação, e reanimar o amado
para nova luta contra falsos amigos e verdadeiros inimigos . É
por isso que a mulher casada, pela sua dedicação a um só homem, realiza um
sacrifício incomparavelmente mais valioso do que as mulheres que, repartindo o
seu zelo pelos serviços de instituições, tais como as puericultoras, as
enfermeiras e as espias, não sabem o que é dádiva total de pessoa a pessoa. A
mulher casada pode ser obrigada a suportar integralmente o peso da infelicidade
que recai sobre o seu marido, quando outras circunstâncias dramáticas não
afectam a vida conjugal, o que não acontece às mulheres solteiras que, embora
lutando com as asperezas e as dificuldades do exercício de uma profissão, gozam
de um prestígio cada vez mais garantido pelos costumes, pelos regulamentos e
pelas leis.
 |
| Eros e Psique |
A monogamia,
que as instituições defendem a favor da mulher, depende em grande parte da
conservação do sigilo conjugal. Estranho é que na lei não esteja prescrito este
dever de ambos os cônjuges, porque sem a conservação do sigilo conjugal não
pode haver fidelidade amorosa, nem pode o casamento realizar plenamente os fins
da família. Ao tornar público o que é privado, ao relatar em conversas fúteis e
inúteis todas as experiências dolorosas, desde as doenças do corpo, alma e
espírito, até aos desastres nos ócios e nos negócios, o cônjuge inconfidente
devassa a intimidade do lar, abre a porta à devassidão.
Verdade é
que a moral não faz pressão para que o sigilo conjugal seja de lei. A moral
representa os sentimentos da mediocridade e da mediania em transigência mais ou
menos elástica com os supremos valores. Ora todos observamos que os homens,
logo na adolescência, são instigados a confessar as aventuras eróticas de que
foram protagonistas, e assim, para satisfazerem a vaidade própria do sexo
masculino, pecam contra a gratidão devida ao sexo feminino.
O mancebo
que narra um encontro erótico, seja em conversa alegre ou em poema lírico, e
que não guarda total segredo sobre a identidade da mulher, está a aviltar-se,
sem que disso tenha consciência, perante os que escutam, ou os que o lêem, com
sorriso acolhedor, irónico e condenatório. Não observa que a si mesmo confere um
atestado de delator o homem incapaz de defender pelo segredo a honra da mulher.
Na ausência será escarnecido pelos companheiros, esse homem que sobrepõe o amor-próprio
ao amor alheio, esse homem que não merece ter amigos.
A condição
do amor é uma vida secreta, que só pode exprimir-se por alegorias. Toda a
literatura, exactamente porque usa de liberdades poéticas, confirma a verdade
transmitida por velhas tradições. Mal vai aos homens e aos povos que, por esquecimento
da sabedoria tradicional, já não entendem os motivos profundos desta condição.
O amor tem de
ser secreto porque contra ele luta a entidade mais poderosamente inimiga da vida,
que é a inveja. Até as inocentes
crianças, maculadas pelo pecado original de não
poderem ver o amor, riem maliciosamente dos namorados e dos amantes, quando
não os perseguem e perturbam até lhes frustrarem as condições de felicidade. É
dos adultos, porém, que surgem os processos auxiliares da inveja, dirigidos
para combater eficazmente o amor, para reprimir a exteriorização das emoções,
dos sentimentos e das paixões, para enfraquecer no condicionamento sociológico
as energias criadoras da vida.
A maledicência,
que é um dos processos mais vulgares no combate da inveja contra o amor, a
maledicência, que tem por fim a desonra do homem ou da mulher, é significativa
de falta de imaginação. A maledicência é, por isso, um sinal de decadência.
Quem diz o mal torna-se a pouco e pouco incapaz de ouvir o bem.
(In Álvaro Ribeiro, A Razão
Animada, Sumário de antropologia,
Livraria Bertrand, 1957, pp. 249-263).



-003%20(2).jpg)
.jpg)
.jpg)




.png)



.jpg)
%20(2).jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)



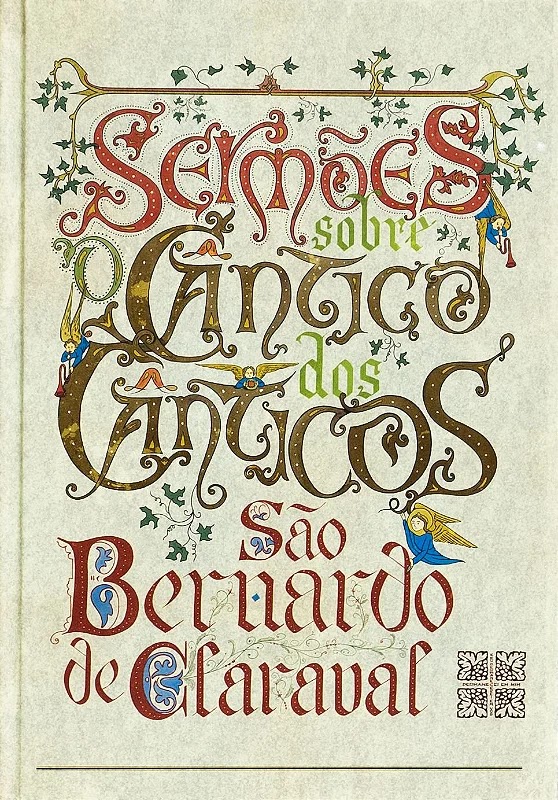


.jpg)
.jpg)


%20(1).png)























