Escrito por Manuel Ferreira Patrício
«(...)
disse-me várias vezes Leonardo Coimbra que o nosso sistema escolar faz cessar
a evolução mental do português aos quinze anos. É verdade. Basta fazer a
análise lógica dos compêndios escolares. Depois dos quinze anos tudo é ensinado
a martelo, na intenção de reconduzir as novas e mais complexas noções aos esquemas
da mentalidade pueril».
(«O Testemunho de Álvaro Ribeiro», em entrevista apresentada e conduzida por
António Quadros).
«As
minhas reflexões têm uma relação forte com a experiência de professor de
filosofia no ensino secundário durante cerca de 10 anos. Não são reflexões
abstractas. Vivi por dentro o ensino da filosofia no ensino secundário, entre
1966-67 e 1975-76. Confrontei-me quotidianamente com as dificuldades do ensino
da filosofia a jovens adolescentes e posso imaginar as dificuldades que terão
hoje os professores de filosofia, com alunos mais novos que os de então, com
uma educação qualitativamente degradada e numa sociedade mais desvalorizadora
da reflexão.
(...)
Há uma menorização geral do ensino da filosofia na Europa, dentro e fora da
União Europeia, o que não é grande sinal para o seu futuro».
Manuel
Ferreira Patrício («Reflexões sobre o Valor Formativo do Ensino da Filosofia»,
in Philosophica, 6, 1995).
«(...)
talvez induzido por algum popular em Montargil, cheguei a perguntar aos meus
queridos Avós se já tinham ouvido falar num eventual filósofo por aquelas
bandas. Lá me disseram que sim, que havia um, a caminho das Afonsas. Eu, que
sempre fora um experimentalista, lá fui até dar, segundo indicação prévia, com
a Travessa das Amendoeiras. Bati à porta e apresentei-me como sendo neto do
Manuel Baptista. Entrei e, trocadas algumas breves impressões, dei-me logo
conta de que não se tratava propriamente de um filósofo, mas, sim, de um professor
universitário. Era o Manuel Patrício».
Miguel
Bruno Duarte («Noemas de Filosofia Portuguesa»).
«Nas
nossas meditações e na nossa modesta docência universitária temos proposto, defendido
e utilizado [um termo] que nos parece mais perfeitamente adequado à essência e
finalidade da educação: “antropagogia”. Por antropagogia entendemos a teoria e
a prática da formação do homem na plenitude da sua humanidade».
Manuel
Ferreira Patrício («A Pedagogia de Leonardo Coimbra»).
«Nem todos quando abstraímos temos força suficiente que nos ajude a abstrair, ou seja, a nossa intencionalidade na abstracção tem arcos diferentes – ou seja ainda, não há cavernas iguais nem com os mesmos limites. Podemos afirmar que numa construção da lógica aristotélica, quando pensamos o género, nem todos o compreendemos com a mesma amplitude, porque os arcos de entendimento e os vazios que possamos preencher, em suma, o valor da nossa subjectividade, é sempre variável. O Arco mais profundo é o da intencionalidade».
Luís Furtado («Teoria da Luz e da Palavra»).
«O
Estado português, fundamentalmente positivista, não tem por missão essencial promover
o cultivo da filosofia. Desta afirmação, que merece acordo unânime, inferimos e
esclarecemos as consequências observadas naquele ramo de administração pública que
até agora tem sido designado por instrução,
educação ou escolaridade, o qual pressupõe opção por uma tese definidora da
liberdade e do destino do homem em seu trânsito pelo mundo. Outrora referida à
finalidade suprema de conhecer e amar a Deus, a vida humana é hoje, programada
em obediência às ilusões da prosperidade material e da distribuição das riquezas
pelos povos. A falta de uma disciplina ordenadora e coordenadora de todo o
saber, a falta de uma filosofia nitidamente caracterizada por seus princípios,
meios e fins, tem por consequência a impossibilidade de projectar e concretizar
no quadro do ensino público uma instituição que mereça o nome de
Universidade. Um aglomerado de escolas
em que falte a unidade, a monarquia, a teologia do saber teorético ou teórico,
jamais poderá assegurar ou promover a realização da autêntica e verdadeira
cultura. Há escolas superiores umas às outras; há escolas inferiores umas às
outras; predomina o relativo sobre o absoluto; mas deste modo a pluralidade
dispersiva das ciências, das técnicas e dos ofícios, se torna permeável a todas
as contradições que, no tempo como no espaço, ameaçam a continuidade e a
segurança do espírito que caracteriza a Nação».
Álvaro Ribeiro («Homenagem a José Marinho»).
O HOMEM PROPRIAMENTE DITO, NA SUA SINGULARIDADE E UNIVERSALIDADE
«Quando
nós próprios começámos a pensar o homem e os problemas do homem – escreve Marinho
– não tínhamos notícia de outra antropologia senão a científica». Ora esta antropologia
considera sempre o homem analiticamente, nas suas «diversas formas de ser ou de
saber ou de comunicar e agir». O homem propriamente dito, «na sua singularidade
e universalidade, esse não o encontramos ali». Esse homem é o que José Marinho
quer captar e por isso se orientou decisivamente para a antropologia
filosófica: «A autêntica antropologia é filosófica, quer quando interroga sobre
as origens do homem, quer quando interroga sobre a plenitude do homem ou no
homem, efémera embora e fugitiva no ser singular que é cada um para si».
A grande interrogação antropológica é, pois, esta: «que é o homem?» Quem interroga? É já, é sempre, inevitavelmente o homem. Todavia, no concretíssimo da interrogação é um homem e um homem numa situação única. Quem interroga realmente sobre o ser do homem sou eu. À interrogação abstracta e insituada prefere Marinho a concreta e situada: «Deixando, pois, o caminho da interrogação primeira, decido interrogar-me a mim próprio e aos que me são mais próximos». É, pois, abandonada uma antropologia geral e assumida «uma antropologia interrogativamente situada aqui e agora, atenta a todo o diverso e divergente, ao que se diferencia ou diferenciou».
 |
| José Marinho |
Marinho
não opõe o universal ao singular. O singular humano – seja um homem, seja um
povo, seja uma civilização – não nega o universal humano, pois este é o seu
próprio fundamento e razão de ser. Todavia, universalidade não é homogeneidade.
O filósofo português é fiel à primeira, mas não cede à ilusão da segunda. Essa
foi a ilusão que a Europa viveu com o iluminismo e já antes dele – é hoje,
porventura, a ilusão de muitos tecnoconstrutores da Europa comunitária. Diz
Marinho: «Essa ilusão radicava na ideia de que o homem provinha de uma forma
fixa e dada de uma vez por todas, ou de um género que se subdividisse em
espécies, povos e seres singulares». Ilusão impotente perante a análise
filosófica, que evidencia que «no homem
o género não cobre toda a espécie, a espécie não cobre todo o povo, o povo não
cobre toda a riqueza e potencialidade do ser singular».
Uma
antropologia para portugueses tem, portanto, de acabar por ser – porque tem de
começar por ser – uma antropologia portuguesa. Começa por sê-lo, porque a
interrogação radical sobre o ser do homem é feita por portugueses. Acaba por
sê-lo, porque a radicalidade da interrogação já envolve a radicalidade da
resposta.
(...)
Não chegou José Marinho a formular a o problema da antropagogia. E, todavia, é nesta
que aquela se cumpre e é sobre a educação que se encerra o opúsculo de que
vimos falando [Elementos para uma
Antropologia Situada, 1966]. «Aprender tem toda a dimensão humana, permeia
toda a vida do homem, desde o primeiro instante» – escreveu. Ora a uma
antropologia situada só pode corresponder e só pode seguir-se uma antropagogia
situada. O homem que é preciso educar é «o homem concreto aqui e agora» e não
«um homem geral que não existe»; o homem que é preciso educar é «um ser
concreto em perpétua descoberta de si para si próprio e para os outros».
(In Manuel Patrício, Lições de Axiologia Educacional, Universidade Aberta, Lisboa, 1993, pp. 221-223).

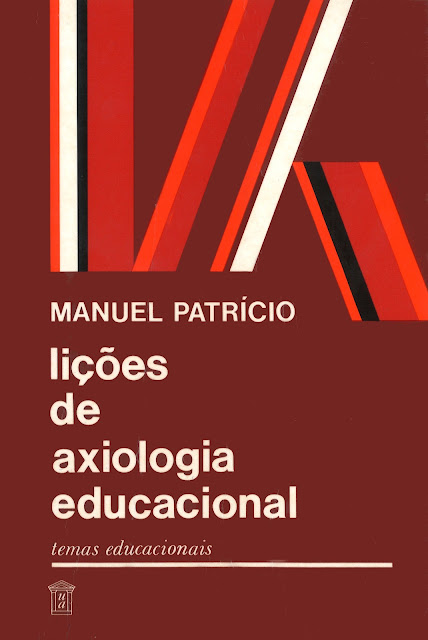


%20(1).png)
.jpg)






















Nenhum comentário:
Postar um comentário