Escrito por Carlos Blanco de Morais
.jpg) |
| Promontório de Sagres |
 |
| Infante de Sagres |
«Sem embargo do sucesso em Ceuta, e não obstante o instinto nacional, alguns do reino discordavam da expedição de África e do plano das navegações. Representava essa corrente o infante D. Pedro, que o rei no regresso de Marrocos fizera duque de Coimbra. Viajara depois pelos países europeus, frequentara as principais cortes, convivera com os personagens mais grados do continente; e, todo voltado para a Europa e imbuído de ideias e princípios formulados para protecção de interesses alheios, não se identificava inteiramente com os sentimentos do reino, nem parecia compreender a posição particular em que este se encontrava. Esteve em Inglaterra; foi recebido na Flandres e homenageado em Bruges; percorreu a Alemanha; atravessou a Hungria; passou a Roma onde teve trato com o Papa e a Cúria; e quando tornou ao reino transformou-se em opositor aos planos de seu irmão Henrique. Entretanto, em 1433, morria João I. E dirigindo-se a seu irmão Duarte, agora rei, o duque de Coimbra dizia: “porque sei, sendo eu fora deste reino, que Vossa Mercê em vida d’el-rei meu senhor e pai, que Deus haja, tendo com meus irmãos e sobrinhos sobre este caso conselho, fostes aconselhado que esta guerra se não devia fazer”. Partilhava do mesmo receio o infante João; mas este equacionava a empresa de África com a própria independência do reino; e observava que no caso de se “não ganhar o dalém” se poderia então “perder o daquém”. Era a mesma consciência que Zurara reflectira ao ver o reino cercado pelo mar e apertado pelo “muro de Castela”. E também alguns nobres – os condes de Barcelos, de Arraiolos, de Ourém – se pronunciaram junto de D. Duarte no sentido de se abandonar a empresa de África, e de se ajudar Castela a combater os mouros de Granada. Eram estes os representantes de uma tendência ou partido europeu: apenas viam perigos e dificuldades no ultramar: davam prioridade às querelas e lutas de poder no continente da Europa sobre os interesses exclusivamente nacionais: eram os Velhos do Restelo. Mas o ânimo do infante D. Henrique, apoiado nos seus navegadores e sábios, nos seus capitães de frota e homens de armas, nos marinheiros vindos do povo, não vergou a tais pressões, e obstinou-se em levar por diante o plano de expansão, e do reconhecimento progressivo do mar oceano e da costa de África. Além do mais, escutara de seu pai, no momento da morte, a exortação de que prosseguisse no caminho iniciado em Ceuta. Mas o infante D. Pedro insistia: o cometimento era desarrazoado e falho de serviço de Deus; nem os reis de Espanha todos juntos poderiam levá-lo a cabo quanto mais um só, sem ajuda e sem gente para povoar o que se conquistasse, nem fortalezas para o defender: e por isso “nem agora nem em algum tempo deve Vossa Mercê empreender esta guerra de África”. O rei Duarte estava indeciso. Mas o Infante de Sagres argumentava: a guerra era justa porque era do serviço de Deus; e era razoada porque não se dirigia contra países mas contra uma terra em grande desvairo e toda partida em senhorios: e se o rei tivesse firme vontade alegrar-se-ia com tudo o que fizesse e cuidasse. Prevaleceu D. Henrique: a empresa de África prosseguiu sem esmorecer: o próprio D. Pedro, perante as realidades, viria a apoiar sem reservas o irmão: e segundo os documentos da época D. Duarte passou a considerar as navegações e conquistas como obra nacional e de todo o Portugal. Entretanto, e como consequência do desastre de Tânger, caía em poder dos sarracenos o infante Fernando: e estes, para o libertar, exigiam a entrega de Ceuta. Discutiu-se o ponto nas cortes de Leiria, de 1438; o infante de Sagres, embora magoado pelo cativeiro do irmão, opôs-se vigorosamente à devolução da praça; D. Pedro, sem embargo da sua recente adesão à tese africana, pronunciou-se todavia pela entrega da cidade. Mas o rei e a corte foram firmes: os interesses superiores do reino impunham a conservação de Ceuta: e embora todos os meios se tentassem para salvar o que viria a ser o infante santo, este haveria de sofrer o que o destino lhe reservasse. E quando o infante D. Pedro teve de assumir as responsabilidades supremas, como regente e defensor do reino durante a menoridade de Afonso V, e não obstante as dissensões que então laceraram o reino, nem por isso se quebrou o ímpeto das descobertas e navegações: era ainda a visão do Homem de Sagres que se impunha: e era sobretudo o triunfo da vontade colectiva e do instinto nacional, que D. Pedro era forçado a interpretar. Era o fenómeno ultramarino que passava a fazer parte integrante da consciência da nação e da vida portuguesa: e as novas elites saídas da revolução cumpriam o imperativo.»
Franco Nogueira («As Crises e os Homens»).
«Correio da Manhã – Existe, na verdade, um pensamento político português?
Orlando Vitorino – Não pode deixar de existir um pensamento político português, pois não pode existir Pátria ou Nação sem haver um pensamento. Pode existir uma Nação sem pensamento mas depressa se evanesce se não possuir um pensamento próprio.
O que acontece, em Portugal, é que o pensamento político português encontra-se dissociado do pensamento que preside à actual acção política.
Houve um período, desde o início da Nacionalidade até à época final dos Descobrimentos, em que o pensamento português coincidiu com a acção política.
A principal expressão dessa coincidência encontra-se no Rei D. Duarte, com o seu "Leal Conselheiro", um livro admirável, uma obra que os portugueses têm sido obrigados, propositadamente, a não conhecer. Basta dizer que o "Leal Conselheiro" só foi editado no século XIX.
No entanto trata-se do livro criador daquela aristocracia que deu origem à governação de Portugal conducente aos Descobrimentos.
CM – Já existiam, nesse tempo, forças contrárias ao Pensamento português?
O.V. – Sem dúvida. O próprio D. Duarte foi incitado pelo irmão, o famoso Infante D. Pedro, a impedir o Infante D. Henrique de prosseguir os trabalhos e os estudos necessários às descobertas.
O Infante D. Pedro é uma espécie de representante da CEE no século XIV. Ele escreveu a célebre carta de Bruges, na qual aconselhava D. Duarte a contrariar a obra de D. Henrique, andando pela Europa e procurando integrar Portugal nesse espaço geográfico, político e filosófico, impedindo a expansão marítima.
CM – Tivemos outros "delegados" da CEE nesses tempos?
O.V. – Damião de Góis é outro desses inimigos do pensamento nacional. Viveu a maior parte da sua vida nesses países que são, hoje, a Comunidade Económica Europeia e veio para Portugal com a finalidade de escrever umas crónicas e outros textos, nos quais representa uma posição contrária à do pensamento português que tinha feito Portugal.
Opõe-se, por exemplo, a João de Barros, contemporâneo seu, que dirigia os Descobrimentos na altura, como feitor da Casa da Índia. João de Barros possuía um conhecimento não só teórico como directo do que seria a essência de Portugal, e sobre isso escreveu as famosas "Décadas da Ásia", as que restam de uma obra que teria projectado, ou até teria escrito, incluindo as "Décadas da Europa", as "Décadas da África" e as "Décadas de Santa Cruz".
Escreveu, igualmente, livros de filosofia, um deles com o título "Tratado das Causas", o que significa ter sido um livro sobre o que há de mais essencial na filosofia. Estes tratados também desapareceram, sem deixar rasto, pois quem venceu o conflito foram os partidários do pensamento não português.
Sempre tivemos delegados da CEE
CM – Essa linha de ataque contra o Pensamento português, desde o Infante D. Pedro a Damião de Góis, teve continuação?
O.V. – Não só teve continuação como se desenvolveu, através de toda a decadência de Portugal iniciada no século XVI, quer com os "estrangeirados" do século XVIII, quer com o seu último representante, o António Sérgio, passando por homens como Oliveira Martins, Luís António Verney, etc.
Todos eles tiveram e emitiram uma má opinião de Portugal.
CM – Podemos considerar a época governativa do Marquês de Pombal como um período de grande avanço do pensamento antiportuguês?
O.V. – Está provado que o Marquês de Pombal promoveu, até, uma separação institucional entre o pensamento político da acção exercida e o pensamento político português.
Isto verificou-se, por exemplo, na sua reforma da Universidade, que ainda hoje vigora, pois a nossa Universidade continua sendo pombalina... Foi uma Universidade feita sob o signo da abolição da filosofia substituindo-a, apenas, pelo iluminismo.
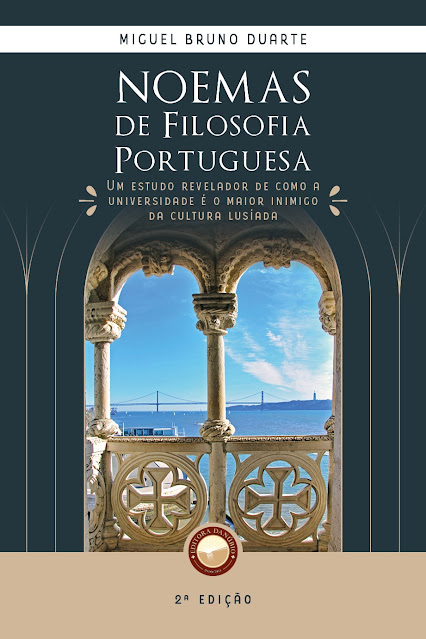 |
| Ver aqui |
CM – Assim, somos obrigados a pensar que 1820 não passa de mais uma ofensiva daquilo a que poderemos chamar pensamento antiportuguês?
O.V. – Foi a realização, em termos de acção política, de algo que já vinha de antes e frutificou sob esse aspecto de chamar liberalismo ao que não era liberalismo mas, apenas, um pensamento francês.
Depois, em 1870, esse liberalismo acaba por ser substituído pelo positivismo como doutrina, digamos, oficial, tendo segregado o pensamento português no ensino, nas instituições e na acção política.
Naturalmente, do positivismo transita-se para o marxismo e, actualmente, caso se possa chamar pensamento ao marxismo – pois trata-se mais de uma ideologia que de um pensamento – é esse marxismo que domina as instituições portuguesas e, sobretudo, domina toda a organização do nosso ensino.» Ver aqui
Entrevista a Orlando Vitorino («O pensamento português está contra o marxismo»).
«(...) a degradação dos costumes e anuviamento dos espíritos, a
partir de meados do século XVI, eram progressivamente mais fundos. Na Índia ainda
se erguia um João de Castro: homem tratado com “veneração de rico e lástima de pobre”, não possuía “ouro, nem prata, nem móvel, nem coisa
alguma de raiz”: e, não conseguindo empenhar os ossos de seu filho, que lhe
morrera pelejando, ofereceu em hipoteca, para obter fundos destinados a obras
de defesa, as suas próprias barbas, que considerava símbolo da sua honra: e
sendo Vice-Rei da Índia morreu na miséria. Mas a administração e a corte de
Lisboa, sem uma política e sem uma vontade, tornavam inúteis os homens de fé e
de isenção. Transformava-se em negócio de alguns a empresa das navegações. Na
expedição das armadas procurava-se sobretudo o lucro, e caravelas e naus eram
construídas de más madeiras e à toa; mantimentos iam já deteriorados para
bordo; e os capitães eram escolhidos pelo favoritismo da corte e não por
experiência de oceano ou conhecimento de marinharia. Naufragava o império da
Índia na corte de Lisboa: o país possuía os recursos e os homens: mas os chefes
eram “mais moles do que duros”. Na História Trágico-Marítima perpassava já
um traço de drama nacional: era o princípio do declínio.
O rei venturoso,
esbanjando e mantendo a ostentação, e ajudado pela fortuna dos homens de armas e
de mar, da escola de João II, conservou uma aparência de poderio. Mas as traves
estavam carcomidas. E o reinado seguinte, de D. João II, não soube travar o que
podia ser travado: ao contrário, contribuiu para tornar a decadência
irremediável. Demais, nos círculos da corte, e da sociedade de escol, o espírito
europeu, trazido por intelectuais e poetas, lançara raízes; e esse europeísmo, alheio aos interesses vitais
da nação, punha em causa os valores em que assentara a mística nacional da
expansão e os princípios políticos da independência. É certo que D. João III ainda
teve uma visão pálida do papel de Portugal: reformou a universidade, iniciou
sistematicamente a colonização do Brasil. Tinha boa vontade e inteireza de
carácter; mas foi enredado por influências da corte; e a Inquisição, que
permitiu, envenenou a vida nacional. A rainha, Catarina de Áustria, “foi sempre mais castelhana que portuguesa
e, como o dominava inteiramente, favorecia o mais possível os seus patrícios em
detrimento dos de seu marido”. A infanta D. Maria casou com o príncipe de
Castela, Filipe; aturada correspondência passou entre as duas cortes; e foi
negociado um pacto naval em que
se confundiam os navios dos dois países para defesa das respectivas costas. E
em cortes de Lisboa, por mandado da rainha, foi discutido o problema de saber
que praças do ultramar se “deviam suster
ou largar”. Verificava-se e reconhecia-se a decadência: era deplorável o
estado a que “somos vindos e quão
diferentes das vidas e nos costumes daqueles Portugueses antigos, usando de
tamanhos excessos nas jóias, nos comeres, nos adereços de nossas casas e nos
exercícios de nossas vidas”, pelo que era indispensável “apontar o modo com que se atalham tamanhos
males”. Mas não foi possível atalhar o mal: em 1542 eram abandonadas as
praças de Azamor e Safim e mais tarde as de Alcácer e Arzila. Entretanto, o rei
e a corte mergulhavam mais e mais na fé e na devoção: mas não eram a fé e a
devoção que haviam levado à cruzada ultramarina: as de agora tinham qualquer
coisa de fúnebre, de soturno, de mórbido. À morte de D. João III, por 1557, já
não era possível ocultar o declínio. Adensou-se o castelhanismo da corte. O rei
ficou sempre fiel à influência de seu mestre Diogo Ortiz de Villegas, que depois
fez bispo de Viseu; e a rainha dominava o seu espírito e a sua vontade. E então
reproduz-se uma situação histórica: e da parte de Castela, agora já Espanha,
promove-se de novo a incorporação de Portugal. Haviam sido “despedaçados tecidos vitais”; a Espanha atingia um fastígio europeu;
e para a Europa a independência de Portugal contava por coisa nenhuma.
 |
| Ver aqui, aqui e aqui |
Século e meio decorrera desde D. João I. Os princípios de João das Regras, o génio militar de Nuno Álvares, o povo de Álvaro Pais e Afonso Penedo, o impulso sistemático de Henrique de Sagres, a visão de Albuquerque, o pensamento histórico de D. João II, e um friso de marinheiros, sábios, homens de armas, santos e mártires, haviam construído uma grande nação que se manteve em apogeu durante cento e sessenta ou cento e setenta anos. Portugal fora o único país a dar execução prática à tese da expansão geográfica da cristandade. Mas corrompeu-se no centro vital, e definhou. Estava-se à beira de 1580: e da segunda crise do reino.»
Franco Nogueira («As Crises e os Homens»).
«O fim da história, considerada como ciência humana e humanística, não é uma regressão ao passado, mas uma explicação do presente, uma arte de prever e uma promessa de excedência.» «Preocupou-nos sempre e conjuntamente a face da vida extinta do passado e a da vida presente, para explicarmos uma pela outra. E quanto mais tentávamos compreender a segunda, mais descobríamos na sua estrutura as estratificações indeléveis da primeira.»
«Sem embargo da decadência iniciada nos
tempos de D. Manuel e da desnacionalização agravada durante D. João III, e não
obstante a azáfama enlouquecida em que o reino mergulhara, a consciência
nacional continuava a sentir os
domínios ultramarinos como preocupação absorvente. Da massa popular, e de
alguns elementos fidalgos, emergia um grupo de homens que, frio perante os
conflitos da corte e a sua desorientação, se devotava aos senhorios de
além-mar. Por impulsos e arrancos, não cessava a actividade. Até ao fim do
século XVI, o espírito empreendedor e pioneiro da nação mostrava-se vigoroso e
arrojado. Enquanto nas cortes de D. João III e D. Catarina, e nas de D.
Sebastião e de D. Henrique, se entretinham os responsáveis com a intriga e a
volúpia do que era europeu, os capitães-mores, os homens de armas, os
marinheiros e os missionários não desistiam de consolidar o resultado das
navegações.
Na Índia, e por
todo o Oriente, três governadores de alto espírito e ânimo haviam lançado os
alicerces do que poderia ter sido um grande império: Francisco de Almeida,
Afonso de Albuquerque, João de Castro. Praticaram políticas diferentes, como
resultado das flutuações da corte, e disso se ressentiu a acção portuguesa. No
entanto, esta atingia o esplendor nos meados do século XVI. Por esse tempo,
eram respeitadas as armas nacionais e conservávamos as posições-chave do
domínio. Goa era a capital, e fora elevada a diocese metropolitana pelo Papa Paulo
IV, e até ao fim do século guardava a supremacia entre as cidades que a nação
erguera além-mar. Era um centro imperial: pela sua opulência, pelo alto nível
de vida, pela irradiação ocidental que projectava em todo o Oriente. Fora a
genialidade de Albuquerque que a descobrira, e que lucidamente viu o papel que
devia representar: e adivinhou a excelência da sua situação geográfica, das
suas ligações económicas e sociais, da sua posição estratégica. Orçava a sua
população por cerca de 200 000 habitantes, e entre estes misturavam-se os fidalgos
guerreiros com os mercadores árabes, os negociantes do Mediterrâneo com os da China,
os frades com os administradores, os indostânicos de todas as castas com os
marinheiros das naus: e multiplicavam-se os bazares de jóias, de sedas, de
tapetes, de charões e porcelanas, de lacas e sândalos. Cruzavam-se as
religiões, os cultos, os idiomas: e dos confins de Ceilão e de Malaca, do Pegu e
de Sumatra, e mesmo do oriente amarelo, afluíam multidões a Goa. Majestoso, no
meio do luxo, apoiado nos canhões das naus e na firmeza das espadas, vivia o
vice-rei; e do seu palácio instruía os capitães das armadas, velava pela defesa
das fortalezas, mantinha as rotas marítimas abertas, despachava para o reino as
mercadorias do Oriente. Em todo o refinamento e sumptuosidade, no entanto,
havia decadentismo, e um prenúncio de decomposição. Com a segunda metade do
século XVI, começava a diminuir o respeito pelas armas portuguesas, crescia a
audácia dos inimigos nos ataques às armadas e às praças; pressentia-se uma
dissolução a prazo. Constantino de Bragança
tentava dar novo alento ao império. E por 1568 voltava à Índia D. Luís de
Ataíde, agora como vice-rei. Impassível, de coragem temerária, de vontade sem
desfalecimento, de apuradas qualidades guerreiras e políticas, Ataíde deu-se
conta da situação, e com uma energia brutal impôs as medidas de guerra e de
administração apropriadas. Tanto bastou para que os adversários recuassem:
durante um momento voltaram as armas portuguesas a ser temidas: e cessaram os
ataques às frotas e às fortalezas de Portugal. Seria breve esse renascer.
Porque o desgoverno das cortes de D. Manuel e de D. João III, que fez Sá de Miranda exilar-se e que Gil Vicente verberou, não permitiu que fosse prolongado esse
arranco de vitalidade no Oriente.
Foi diferente o
ânimo português no Brasil. Com D. Manuel haviam sido organizadas as capitanias do mar e as capitanias de terra: constituíam uma
estrutura de administração e de política, que supunham um plano e um objectivo.
D. João III dá novo alento à colonização do Brasil: e os portugueses, em contacto
com as populações ameríndias, chegam neste período aos confins da Amazónia, às
fronteiras do Peru e da Bolívia, aos extremos de Mato Grosso, aos grandes rios
do Paraguai e do Uruguai. Sem embargo de muitas sombras, não foi na altura
indiferente o papel da Companhia de Jesus. Com o aproximar do fim do século,
foram as bandeiras, ao sul, e as jornadas, ao norte e a partir da
capitania de Pernambuco, que haviam de constituir a grande epopeia portuguesa
no Novo Mundo: e António Raposo Tavares e Pedro Teixeira tornar-se-iam mais
tarde os seus símbolos. Dos elementos colhidos nas viagens e expedições dos
portugueses, e nos documentos por estes estabelecidos, se utilizaria séculos
depois a diplomacia de Rio Branco para defender e fazer respeitar, no plano
internacional, os limites históricos do país. Apesar da crise da corte de
Lisboa, mostrámos no Brasil uma vitalidade que contrastava com o
entorpecimento e a decomposição que se anunciavam no Oriente.
Mas se no Brasil
obedecemos ao sentimento heróico português, foi para a África que se voltou o
instinto nacional: e naquele continente se viu a condição de sobrevivência. Era
na África que Zurara pensava quando, como reflexo da consciência geral do seu
tempo, escrevia que se não ganhássemos o de além-mar poderíamos perder o de aquém.
Apresentava o continente, aliás, uma contiguidade geográfica favorável à
colonização ao longo dos meridianos. D. João II, com a visão em grande que era a
sua, pressentiu as virtualidades da África, e da sua colonização sistemática, e
isso a partir do feito de Diogo Cão. No arquipélago de Cabo Verde teve origem a
Guiné, no sentido de que esta era indispensável como base de apoio e protecção às
ilhas; São Tomé foi centro irradiador para o Benim, os Camarões e a Nigéria; os
estuários dos grandes rios foram pontos de fixação e penetração; e da ilha de
Moçambique nos expandimos até formar uma província na terra firme.
Estabelecimentos, fortalezas, padrões, feitorias, entrepostos, tudo fomos
implantando pelo litoral. Cedo nos apercebemos da importância da Guiné e de
Cabo Verde para a liberdade e segurança das comunicações norte-sul, e desde
meados do século XVI constituiu preocupação fundamental do governo a defesa
daquelas províncias; nesse sentido existem instruções precisas de D. João III e
de D. Sebastião; e é possível, segundo um historiador, que outros documentos
corroborem uma continuidade de acção ainda mais antecipada do que se supõe
[Jaime Cortezão, in História de Portugal,
ed. Barcelos, V, 441]. Das ilhas de São Tomé partimos para as costas do Benim,
e esboçámos a criação duma província que abrangia território desde a Costa do
Ouro até à Guiné espanhola, passando pelo Togo, Dahomey, Nigéria e Camarões. “Mal podemos imaginar como foi vasto o
nosso domínio nessa parte de África”. Mais ao sul, Diogo Cão reconheceu o
Zaire e a costa angolana. E na capital do Congo, hoje São Salvador, se fundou
uma igreja, e se estabeleceram fábricas;
e assim, através de rasgos e vicissitudes, se formou Angola. Paulo Dias de
Novais, titular da carta donatária de 1574, foi a alma e o nervo de uma criação
que é exclusivamente portuguesa: em 1576 fundou a Vila de Luanda: e por todo o
vale do Cuanza ainda hoje as povoações de Dondo e Massangano atestam a acção
daquele capitão-mor. Em 1588 – já o reino havia perdido a independência há oito
anos, mas ainda em vida de Paulo Dias – portugueses de “vistas mais largas” compreenderam o significado e as potencialidades
da província de Angola: e data desse tempo a visão de “formar uma única província na Àfrica Austral, que reunisse Angola e
Moçambique”. Em 1592, um plano minucioso foi concebido por Abreu de Brito: e
com base no mesmo, e para sua execução, insiste com a corte pedindo que auxilie
Angola: e além do mais, salienta que a construção de uma vasta província
austral facilitaria as comunicações com o Índico, evitando o Cabo.
Embora com semelhanças profundas, foi diferente a evolução verificada na costa oriental. Data de 1508 a primeira fortaleza na ilha de Moçambique. Ficava na rota da Índia, e constitui ponto de escala das armadas. Aí se fazia aguada; no local aguardavam a chegada e a partida de frotas os funcionários e os marinheiros; e, entre outros, Luís de Camões, Diogo do Couto, São Francisco Xavier ali se cruzaram. Por 1515, fundámos feitorias em Madagáscar; em 1544, erguíamos uma fortaleza em Quelimane; e nesse ano Lourenço Marques estabelecia-se na baía a que foi dado o seu nome e desenvolvia o comércio de marfim. Dada a íntima ligação marítima entre a costa oriental de África e a Índia, estavam ambas submetidas à mesma administração: e esta centralizava-se em Goa. Mas por 1565, não obstante já haver principiado na corte o desgoverno do ultramar, houve visão bastante para separar as duas administrações: e Francisco Barreto foi nomeado governador e capitão-mor de Moçambique. Mostrou ser um português que às intrigas da corte e do escol, preferia os trabalhos do ultramar. A partir de 1571, explora o curso do Zambeze, e os portugueses penetram no interior e surgem em Sena e Tete: e daí passam ao reino lendário do Monomotapa, com a anuência do seu imperador. Verdadeiramente, iniciava-se a fundação da província de Moçambique, para além e sem embargo da decomposição do reino.»
Franco Nogueira («As Crises e os Homens»).
 |
| Ilha de Moçambique |
 |
| Igreja de Nossa Senhora da Saúde |
 |
| Fortaleza de São Sebastião |
«Patriotas? Sem dúvida, se por patriotismo se deve entender apenas o propósito de não trair deliberadamente o seu país, nem de ceder às tentações da vaidade e da cobiça, sob o pretexto de fomento da riqueza, a independência e integridade do nosso território ultramarino.»
Basílio Teles («Do Ultimatum ao 31 de Janeiro»).
«Depois de longas, minuciosas conversas nos Estrangeiros, Ball é recebido pelo chefe do governo. Salazar agrada-se de Ball: julga-o sério, digno, compreensivo, consciente das particularidades e subtilezas da política portuguesa. Ball acha Salazar “um homem com encanto e urbanidade, muito rápido mentalmente e lúcido, extremamente conservador, profundamente absorvido por uma dimensão do tempo muito diversa da nossa, transmitindo uma forte impressão de que ele e todo o seu país estão vivendo em mais de um século, como se o Príncipe Henrique o Navegador, Vasco da Gama e Magalhães fossem ainda agentes activos na formulação da política portuguesa”».
Franco Nogueira («Salazar, V, A Resistência – 1958-1964)».
«Aceitar pacificamente que as pátrias estejam ultrapassadas, à luz de uma vetusta, rediviva aspiração utópica, é prematuro e perigoso como norma de acção, dado que em três quartas partes do Globo, deflagram ou intensificam-se nacionalismos. E muitos deles ao rubro. Esta a realidade objectiva, a despeito da agregação em bloco de cariz mais étnico e regional que genericamente humano – o que vicia e inutiliza a cooperação mundial.
Aquela atitude assente em pressuposto longínquo mas tocada pelo imediatismo dos interesses, assumida em países tão evoluídos como decadentes, equivale a desmantelamento psicológico e subordinação progressiva, se não suicídio.»
Francisco da Cunha Leão («Ensaio de Psicologia Portuguesa»).
 |
| Ver aqui |
Quatro teses do pensamento geopolítico de Franco Nogueira para uma viável e permanente política externa portuguesa
Reeditar As Crises e os Homens de
Alberto Franco Nogueira, volvidas quase três décadas sobre a primeira edição,
constitui, para lá da justíssima evocação da memória daquele que foi um dos
maiores arquitectos da política externa e do pensamento geopolítico português
nos últimos dois séculos, uma forma de confrontar, com a crueza dos factos do
tempo presente, a obra onde melhor condensa o seu pensamento sobre as grandes
linhas permanentes da política externa de Portugal.
(...) Franco Nogueira não procura manipular a História para, através de eventos desgarrados, amparar a sua construção política. Propõe-se sim, através de uma narração comprimida de toda a História de Portugal, com reporte às mais diversas fontes e sem pretensões invocatórias, descer sobre as grandes crises que abalaram ou ensombraram a subsistência de Portugal como Nação independente.
Nessas crises, procura decantar e classificar as suas sintomatologias comuns, representar critérios e processos alternativos de as enfrentar pelas autoridades e grupos político-sociais em presença, e avaliar comparativamente as consequências decorrentes das opções efectivamente tomadas.
Trata-se, sem dúvida, de uma perspectiva utilitária de conceber a História como modo de compreensão dos factos presentes e antecipação dos futuros, e que o autor assume explicitamente, através da pena de Jaime Cortezão: «o fim da história (...) não é uma regressão ao passado, mas uma explicação do presente, uma arte de prever e uma promessa de excedência».
 |
| Ver aqui |
II. Pese o facto de Franco Nogueira
destacar sempre como factores condicionantes de cada grande crise que se
propõe abordar os jogos de força internacionais, a situação política,
económica, social e cultural do País e os equilíbrios entre grupos de
influência, o autor acaba, a título final, por privilegiar o recorte da
personalidade, inteligência, carácter, virtudes e defeitos dos dirigentes que
então foram chamados para a sua resolução ou enfrentamento.
A sua perspectiva de evolução
histórica é, assim, voluntarista e antideterminista, considerando mesmo que, em
situações desesperadas, a existência de um líder frio, hábil, convicto,
resistente e com poder de mobilização colectiva em torno de um rumo
determinado, pode obter inesperados triunfos, enquanto um dirigente volúvel,
hesitante e inseguro e subserviente a estratégias alheias, constitui segura
garantia de um desastre.
Em síntese, confrontando os homens com
as grandes crises nacionais e avaliando o respectivo desempenho, procura o
antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros esboçar um código de conduta
permanente para a política externa portuguesa.
Dos vectores medulares desse código,
torna-se possível escolher, de entre outras, quatro teses.
Primeira Tese: – as
grandes crises nacionais têm causas e denominadores comuns, que se repetem
inexoravelmente, pese a variabilidade do seu contexto, das suas facetas, dos
seus efeitos e até de alguns dos seus protagonistas, já que são quase as
mesmas, com poucas actualizações, as forças externas que se fazem sentir no
país.
Diz Franco Nogueira que, em todas as
épocas, as gerações novas esquecem factos passados e acreditam estar em tempos
completamente diferentes, sem raízes ou antecedentes, quando na verdade um
conjunto de determinantes básicos se mantém.
Muitas dessas linhas permanentes
reconduzem-se às diversas experiências, individuais ou colectivas, de hegemonia
no continente europeu, algumas das quais, por exemplo, antecederam a actual
construção da União Europeia, nomeadamente depois do Congresso de Viena de 1815
– em cujo contexto se falou pela primeira vez em «Estados Unidos da Europa».
Outras linhas derivam da própria
inserção geopolítica de Portugal, confrontado com um só vizinho, mais forte, na
sua larga fronteira terrestre.
Lembra o autor que, diversamente de
outros pequenos países, como a Holanda, a Bélgica e a Suíça – cuja
independência tem sido assegurada pelas maiores potências europeias que com
eles fazem fronteira e deles carecem como estados-tampão – Portugal deve
essencialmente a si próprio o esforço de manutenção da sua independência face à
Espanha, já que para muitos é indiferente a existência, ou não, de dois estados
peninsulares.
Daí que, também invariavelmente, nos
momentos de maior debilidade, a Espanha tenha surgido, e venha sempre a
ressurgir, como potência interessada na assimilação de Portugal, usando para o
efeito uma metodologia variável de instrumentos – os quais umas vezes passam
pela intervenção militar, outras por alianças dinásticas, outras pela
influência cultural, outras pela lisonja da classe política e pela exploração
simultânea de divisões internas, e outras ainda pela penetração económica.
Segunda Tese: –
nas grandes crises nacionais defrontam-se sempre duas estratégias: a do
envolvimento de Portugal em conflitos europeus situados fora dos seus
interesses naturais, não retirando o País desse envolvimento qualquer proveito;
e a que procura reforçar ou modular a neutralidade de Portugal nesses mesmos
conflitos, de forma a dela retirar o maior número possível de vantagens.
Franco Nogueira faz desfilar a tal
respeito os desastres portugueses derivados do que considera serem devaneios
desnecessários de intervenção nacional em crises continentais europeias. A
saber:
– D. Fernando nas guerras dinásticas
de Castela, «das quais desistiu sem luta»;
– D. Afonso V e os seus sonhos e
intrigas peninsulares, que terminaram com o semi-desastre de Toro;
– D. Pedro II e a sua intervenção na
guerra de sucessão de Espanha, sepultado em 1708 em Almanza, onde o País,
abandonado pelos seus aliados, não lucrou no Congresso de Utreque «coisa nenhuma»;
– o insucesso da campanha do Rossilhão
contra a França revolucionária, terminada em 1795, da qual, para além das
perdas em vida e em dinheiro, o País não obteve qualquer compensação;
– a experiência dolorosa da
Primeira Guerra Mundial, finda a qual Portugal, pese as perdas humanas sofridas
nos campos da Flandres, foi tratado de sub-aliado, esquecido à mesa dos vencedores e
ignorado na apoteose feita pelo Parlamento francês – como bem reconheceu em
1918, com amargura, João Chagas, um dos principais partidários do envolvimento
português.
Diversamente, quando o Estado luta por
manter neutralidade nos conflitos que lhe não dizem respeito, por consagrar os
recursos à defesa exclusiva de interesses estratégicos específicos, quando
consegue deter meios militares e financeiros bastantes para garantir essa mesma
defesa, logra escapar incólume e de cabeça erguida às grandes comoções
europeias.
Assim sucedeu, mais ou menos conseguidamente, com D. João I (durante a Guerra dos Cem Anos); com D. João II (em relação aos conflitos que opuseram a França à Borgonha, à Inglaterra e ao mundo germânico); com D. João V (em relação ao conflito entre a Quádrupla Aliança e a Espanha); com D. José e Pombal (Frente ao Pacto de Família contra a Inglaterra); e com Salazar (durante a Segunda Guerra Mundial).
Terceira Tese: – nesses grandes momentos críticos, enquanto o escol, composto pela aristocracia, intelectualidade e notabilidades públicas, é subservientemente seduzido pelas ideias alheias e pressões de terceiros, tomando sistematicamente posições contrárias ao interesse nacional, já o povo, quando guiado por alguns homens de valor, logra ser intuitivamente o último garante da defesa desse mesmo interesse, assumindo com generosidade os correspondentes custos e sacrifícios.
Para o autor, o escol português trai ou cede,
sistematicamente, durante as grandes crises.
A sua narração retrata-nos os
fidalgos de Lisboa de 1383, a percorrerem a cidade em cavalgada, alçando o
pendão por D. Beatriz, mulher do rei de Castela.
Relata, adiante, como as grandes casas
senhoriais, bem como alguns dos grandes heróis da Índia – a exemplo de D. João
de Mascarenhas – se colocaram depois de Alcácer Kibir ao serviço de Filipe II.
Descreve de seguida cruamente como a
alta aristocracia (com o Duque de Bragança à cabeça), o Alto Clero e os
dignitários palatinos, aclamaram fervorosamente Filipe II Rei de Portugal, nas
Cortes de Tomar.
Anota ainda como, volvida a primeira
invasão francesa, o marquês de Alorna partiu em campanha para Rússia a comandar
a Legião Portuguesa ao serviço de Napoleão e uma deputação do alto clero e de
grandes casas senhoriais se deslocou a Baiona para prestar vassalagem a
Bonaparte (que a recebeu e depois a mandou internar).
Menciona igualmente como a própria rainha D. Maria II deu audiência a Passos Manuel rodeada de aristocratas portugueses e dos embaixadores belga e inglês e lançou pela boca destes últimos, ao ministro, um ultimatum que supunha a devassa de Lisboa por tropas britânicas.
Demonstra, finalmente, que os grandes
vultos da História e da Literatura do século XIX, a exemplo de Oliveira
Martins, Eça, Antero de Quental e Fialho de Almeida, foram assomados por
erupções iberistas, mais ou menos consequentes, mais ou menos transitórias, em
tempos de um constitucionalismo liberal sorvado, onde as armadas estrangeiras
exibiam a sua força no Tejo e os ministros iam despachar na embaixada
britânica.
Tal como Fernão Lopes, Franco Nogueira
converte o povo em garante da resolução das crises onde se joga a independência
ou o poder de soberania do País. Povo esse que, seguindo Fernão Vasques ou Álvaro Pais,
enfrenta os partidários de Castela e põe termo às hesitações do Mestre de Avis.
Povo que, em 1640, se subleva em Lisboa contra Filipe IV, sob a condução de um
punhado de conjurados da aristocracia portuguesa. Povo que se revolta contra a
ocupação francesa e acorre às fileiras para combater os exércitos napoleónicos.
Povo que, frente à capitulação do governo perante o «ultimato inglês», cobriu com crepes negros a estátua de
Camões e lançou uma subscrição pública para a compra de armas. Povo que, no
entender do autor, «sem escrúpulos morais nem correntes intelectuais», sem
«mitos destinados a salvar o homem universal», nos «seus entusiasmos fugazes,
com arrebatamentos atrabiliários, na credulidade ingénua, no misticismo tosco e
indefinido», logra ser «frio, objectivo, pragmático (...) e possuidor de uma
boa memória colectiva, onde acumula experiência», conseguindo ser «heróico,
tenaz, sofredor, desde que se lhe aponte uma missão a cumprir».
Quarta Tese: – a
linha de permanência dos interesses nacionais encontra-se fora da Europa Continental,
no espaço atlântico.
Considerava o Embaixador Franco
Nogueira em 1971 que, desligados do Ultramar e «passando o nosso lugar a ser
preenchido por outros», dificilmente seria possível dizer que poderíamos ser
uma Nação viável, já que, sem objectivos próprios, correríamos o risco de ser
absorvidos, ante a indiferença geral, pelo nosso único vizinho.
E, fundamentalmente, neste ponto
termina.
III. E agora, quase três décadas
transcorridas após a feitura deste livro, como se situam factualmente as
condições estruturais da subsistência nacional em face das premissas de Franco
Nogueira?
Começando pelo fim, ou seja, pela quarta tese, constata-se que o País perdeu o seu «instinto ultramarino», abandonando entre 1974 e 1975 os seus territórios fora da Europa e, tal como Franco Nogueira previra, o discurso da autodeterminação pouco mais foi do que a «cobertura doutrinal dos novos imperialismos» que procuraram novas formas de partilha do continente africano.
Na verdade, todo o mundo lusófono se encontra material e moralmente em escombros e a influência de Portugal nos novos países, inversamente ao que sucede com a França ou a Inglaterra, é, tal como Franco Nogueira antecipara já em 1976, [1] expressivamente débil como «centro de atracção», evoluindo com raras excepções numa linha timorata, errática e subsidiária face aos poderes reais.
Quando à CPLP, esta tem sido pouco mais do que uma organização de papel.
No que concerne à evolução das linhas
de política exterior do País, estas, sem prejuízo da inevitabilidade da
integração comunitária de Portugal, e exceptuados os casos de Angola e Timor,
passaram a deslocar-se privilegiadamente para toda a espécie de conflitos,
políticos e militares, emergentes no Continente Europeu, tanto no quadro da
União Europeia como no da NATO, limitando-se Portugal a seguir e a executar a política externa e de defesa das potências que efectivamente lideram as referidas organizações.
Assim, enquanto Portugal no plano militar
interna os seus exércitos em conflitos longínquos como os da Bósnia ou do
Kosovo, onde inexiste qualquer interesse nacional, e sem obter qualquer
compensação aparente (para além de alguns cargos transitórios e emblemáticos em
instâncias internacionais), já no plano político decide envolver-se na política
interna austríaca, aceitando o mero papel de porta-voz das nações que procuram
isolar, por motivos ideológicos, o governo daquele País.
Quanto às elites, estas – tal como
escreveu o autor em jeito de amargo balanço no seu derradeiro livro [2]
– «por já não sentirem Portugal» não suscitam mecanismos de defesa da sua
identidade, ou têm a criação dos mesmos «por inútil ou ridícula, quando não se
lhe opõem», e ante as advertências que a esse propósito lhes são feitas, emitem
«um sorriso compassivo, próprio do desdém intelectual que é inerente às
mentalidades muito altas e muito superiores».
E com efeito, a elite política, cultural e mesmo académica exulta perante a formação larvar, anestésica e impalpável de uma Federação Europeia (que seria seguramente, no futuro, gerida por um directório de cinco grandes, um dos quais a Espanha), aprova a introdução de uma moeda única, aplaude uma Constituição europeia e tece encómios à formação de uma política e de um exército europeu.
.jpg) |
| Ver aqui |
 |
| Ver aqui, aqui e aqui |
Quanto à Espanha, único e poderoso vizinho de Portugal, esta, com cumplicidades públicas e privadas, apodera-se gradualmente do sector financeiro, produtivo e distribuidor português; estimula as «vantagens» constitutivas de macro-regiões supranacionais; invade o País com quadros técnicos e empresariais; adula o Estado e a elite da cultura; aduba nos grandes investidores internacionais a mítica vantagem de um único espaço no cenário económico ibérico dentro do actual contexto da globalização de capitais; e leva a que, milagrosamente, se pretenda passar a ensinar a língua castelhana nas escolas das capitais de distrito fronteiriças.
E o povo – esse mesmo povo que o autor
erigiu a herói das grandes crises nacionais?
O povo, no entendimento que expressa em
Juízo Final, encontra-se sacudido por uma «grave crise moral», a qual se exprime
pela indiferença perante valores nacionais, pela aceitação das vias mais
fáceis, pela crença na irreversibilidade de certas opções integracionistas,
pela submissão passiva ou até «alegre e eufórica» aos interesses de terceiros,
pela crença numa vida fácil e rica «seja qual for a subordinação criada».
E agora, Alberto Franco Nogueira?
Se todos os eixos próprios de uma política externa nacional que teve o ensejo de definir foram invertidos, e se muitos dos receios expostos sobre as consequências dessa inversão para a soberania nacional acabaram em grande parte por cumprir-se – valerá a pena que os portugueses se continuem a interessar por Portugal?
Admito que, se estivesse ainda entre nós,
Franco Nogueira responderia a esta interrogação tal como D. Pedro V o fez num
momento de crise em amarga carta dirigida a Sá da Bandeira, e que o autor
transcreve na obra As Crises e os Homens: - «Porque me interesso eu pela
dignidade nacional? A resposta é simplicíssima: interesso-me porque me
interesso; (...) porque creio que não é vergonha ser fraco, mas que o é não
querer ser forte».
(In Prefácio ao livro de Franco Nogueira, As Crises e os Homens,
Civilização Editora, 2.ª edição, 2000).
 |
| Ver aqui |
 |
| Ver aqui |
 |
| Ver aqui, aqui, aqui e aqui |












.jpg)























Nenhum comentário:
Postar um comentário