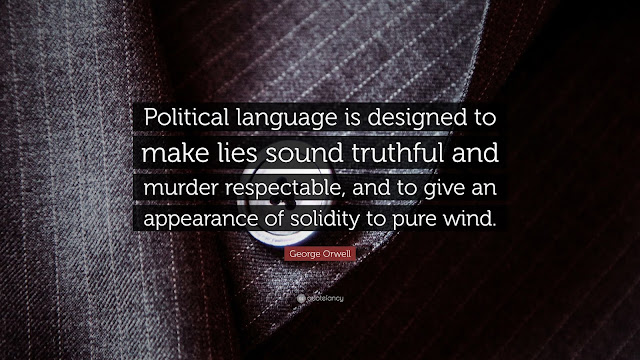Escrito por Miguel Bruno Duarte
«Éramos três irmãos. Eu era o mais novo com uma diferença para eles de quatro e cinco anos. O Orlando era o mais velho; o seu horóscopo era, por sinal, dominado pelo planeta Marte que é, aliás, o planeta que tem no Escorpião o seu lugar essencial.»
António Telmo
(«Luís de Camões e o Segredo D’Os
Lusíadas seguido de Páginas Autobiográficas»).
«A designação de “filosofia portuguesa” é a que foi dada, a partir de 1943 (data em que Álvaro Ribeiro publicou o livro “O Problema da Filosofia Portuguesa”) à sistematização das teses dos grandes pensadores deste século [XX], Sampaio Bruno, Leonardo Coimbra, José Marinho, Santana Dionísio e o mesmo Álvaro Ribeiro, bem como as dos poetas que pensam e lhes são afins: Pascoaes, Pessoa e Régio. Com esta sistematização, tornou-se evidente que a “filosofia portuguesa” constitui o movimento intelectual mais importante da cultura portuguesa e logo se verificou que as suas teses se opõem às diversas expressões da cultura oficial, isto é, da cultura que, formada por psitacismo e ignorante da realidade portuguesa, seus princípios, seus valores e seus fins, é transmitida através da organização do ensino, do controlo da comunicação social, das forças políticas dominantes, das instituições do Estado e dos ambientes literários e artísticos subsidiários desses meios de transmissão.
Tornou-se, então, um caso de sobrevivência para a cultura oficial a hostilidade à filosofia e, com ela, à cultura portuguesa. Tal hostilidade é, naturalmente, o prolongamento daquela que se exerceu, antes de 1943 e desde o início do século, às obras e personalidades de Bruno, Leonardo, Pascoaes e Pessoa.»
Orlando Vitorino («O processo das PRESIDENCIAIS 86»).
A Obsessão da Portugalidade é mais um daqueles títulos de prosaica erudição livresca assinado por um velho e obcecado detractor da filosofia portuguesa, e quem diz da filosofia portuguesa diz igualmente de Álvaro Ribeiro, o criador do movimento espiritual subjacente a tão vilipendiada, bárbara[1] e ignota filosofia. Ora, de Onésimo Teotónio Almeida já o filósofo Orlando Vitorino tivera o indispensável e varonil ensejo de traçar o respectivo perfil nos seguintes termos:
«Há dias, apareceu numa revista da Universidade de Lisboa (“Cultura”, vol. IV, 1985) mais um artigo contra a “filosofia portuguesa” de mais um candidato à docência universitária, um tal Onésimo Teotónio Almeida. Este senhor, embora mostrando ter do que fala pouco saber, até daquele parasitário saber erudito e monografista que é próprio dos doutores, lá vai escrevendo a sua prova de hostilidade à “filosofia portuguesa” que constitui uma boa recomendação curricular. O daimon da “filosofia portuguesa” pregou-lhe, porém, a partida soprando-lhe uma verdade que ele evidentemente não entendeu, essa mesma de a filosofia portuguesa se encontrar difusa em todos os Portugueses, e fazendo-o escrever que “a filosofia portuguesa é uma movimentação muito complexa de gente que entra e sai em grupos, forma revistas que desaparecem e se volta a reagrupar e a surgir em outras iniciativas e movimentos”».[2]
Ocorre, pois, paralelamente frisar que o senhor Onésimo pouca ou nenhuma inteligência tem conseguido revelar no singular domínio do pensamento português, posto que invariavelmente propende a reunir os escritos de uma vida em que já só repetidamente prova «ter do que fala pouco saber», como, aliás, parece ser corrente apanágio dos catedráticos em que o próprio confrangedora e necessariamente se inclui. Já de si obstinado na questão da «identidade nacional» no pós-25 de Abril de 1974, Onésimo começa então por esboçar um suposto balanço bibliográfico a que se segue a não menos suposta identificação da respectiva problemática já entrementes delimitada por aquele seu desafortunado título. E no lance eis que, não obstante enjeitar toda e qualquer generalização redutora[3], o universitário açoriano dá largas a uma daquelas caricatas e pitorescas classificações em que três grupos[4] se destacam na ordem do que o próprio identifica como sendo o já antigo debate sobre a «identidade nacional», a saber: «o primeiro é o dos tradicionalistas, descendentes directos e indirectos de movimentos como o Saudosismo, a Renascença Portuguesa e a Filosofia Portuguesa»; o «segundo grupo é o dos cientistas sociais, sobretudo antropólogos e sociólogos, mas também historiadores»; e finalmente temos o terceiro grupo, «que é aquele em que se enquadra Eduardo Lourenço, de longe o mais lido e citado, mas composto igualmente pelos inúmeros leitores cultos que se identificam com as suas posições»[5].
Nisto, tratemos então de deslindar este
imbróglio, a fim de “pôr os pontos nos is”, aproveitando ademais certos e determinados
tópicos essenciais para o devido efeito.
O bloco marxista e o bloco da Unesco sob a bandeira da equidade uniformizante e humanitária
Radicando nos antípodas os dois primeiros grupos, Onésimo caracteriza o segundo como acalentando «uma superioridade metodológica, conceptual e crítica dos seus postulados» alegadamente “científicos”, porquanto, repudiando o adjectivo nacional, o grupo dos preconizados cientistas sociais comporta todos aqueles que «preferem decididamente embrenhar-se no diálogo internacional académico e veem [sic] nos desafios colocados às nações pelo fenómeno da globalização um golpe benéfico no provincianismo retrógrado do pensamento aldeão-nacionalista.»[6] Dir-se-ia, pois, que os “tradicionalistas”, falsamente retratados em suas “posições essencialistas” ou mesmo “fundamentalistas”[7], jamais se deram por vencidos perante a imposição impante de uma cientificidade avessa a «expressões como carácter nacional, cultura nacional, alma nacional»[8].
Ora, em primeiro lugar, não foram decerto os tais cientistas sociais, sobretudo antropólogos, sociólogos e historiadores, que procuraram demarcar-se dos chamados “tradicionalistas”[9], posto, na verdade, terem antes sido alguns desses "tradicionalistas", caso nos seja permitido o uso generalizado da expressão, que se demarcaram daqueles não por razões retrógradas nem sequer estreita e puramente nacionalistas, mas desde logo por razões supernas que só o pensamento em acto logra demonstrar por contrapartida à mecanização progressiva e à submissão técnico-científica já precursoras do que Álvaro Ribeiro, a propósito das «particularidades e das singularidades que se manifestam nos povos e nos homens», pontualmente denominou como a «uniformização sociológica da humanidade»[10].
Em segundo lugar, o provincianismo propriamente dito, tal qual o perfilhado pelo senhor Onésimo e outros universitários afins, consiste em jamais haver compreendido que a obsessão intempestiva pelo chamado “progresso científico” é um daqueles mitos artificiais que apenas se traduz num declinado apreço e admiração pelo que é por sua natureza puramente adventício, nomeadamente os falsos ídolos do globalismo invasor, venham eles sob a forma da já estafada, disfuncional e corrupta democracia, venham ainda sob a insidiosa forma da “justiça social” e do tão propalado “desenvolvimento sustentável”. Aliás, não foi certamente por acaso que já Orlando Vitorino delineara em vigorosos traços o que mais importa saber no âmbito do falso e abstracto universalismo triunfante:
«Em nossos dias, com as sociedades
indefesas à penetração até daqueles que se destinam a destruí-las, vimos
formarem-se dois blocos de forças culturais que, com fácil domínio sobre os
poderes dos Estados, sobre as instituições académicas, e argentárias e sobre as
redes da informação pública, se vão introduzindo em todos os povos e aí esmagam
os valores do espírito que só as singulares culturas
reais são capazes de exprimir, representar e actualizar. Uma vez
instaladas, são como as patas do cavalo de Átila e depressa constituem a cultura oficial que, satisfazendo todas
as carências de civilizadismo intelectual dos governos absorvidos na
planificação da economia e na recolha dos impostos, irá ser transmitida às
inteligências pelo ensino e divulgada na opinião pelos meios de comunicação
pública.
Os dois blocos que, desde 1945, entre si
disputam dominar e esmagar, sob a bandeira da equidade uniformizante e
humanitária, a infinita variedade do mundo do espírito, são o bloco marxista e
o bloco da Unesco. As diferenças que há entre eles não são irredutíveis e um
denominador comum os torna solidários até à morte: a destruição das culturas reais que, exprimindo cada uma
delas, em sua singularidade, uma manifestação do espírito, são a razão de ser
das pátrias. A resistência que fatalmente têm de encontrar em cada povo,
leva-os a ambos, num primeiro estádio da penetração, a dizerem respeitar e
reconhecerem a existência de cada cultura
real. Antes de reduzirem cada uma delas a uma variedade folclórica para exibir
em festivos congressos internacionais, chegam a atribuir-lhe uma função: a que
consistirá em adaptar as singulares e vividas expressões do espírito às formas
abstractas e vazias do internacionalismo humanitário. Encontram sempre em cada
povo agentes ou sicários para exercerem essa função. Quando a adaptação estiver
completada, também se evanesceu completamente a existência desse povo.
A introdução em Portugal da Unesco foi
mais tardia do que a do modelo cultural marxista. Iniciou-se ao mesmo tempo,
nos finais da 2.ª Guerra Mundial, a expansão organizada, e talvez acordada, de
ambos. Mas as circunstâncias locais do salazarismo fizeram hostilizar o
projecto da Unesco e, discreta ou secretamente, abrir as portas aos marxistas.
Parece ter acontecido o equivalente na guerra de África onde, para
"contrariar" a acção "ocidental", se facilitou a insinuação
das forças comunistas. Entretanto, o bloco marxista já fizera, nos anos trinta,
uma primeira investida.
Só em 1969, com a destituição de Salazar, se desfez a resistência oferecida à Unesco que logo afirmou decididamente a sua presença na reforma do ensino. Já, nessa data, o bloco marxista havia corroído sectores fulcrais da cultura real: os ambientes universitários já estavam marxizados, a imagem marxista da história de Portugal já havia sido composta por António Sérgio e seus epígonos, os mais libertos da literatura, do jornalismo e da arte estavam já minados.
O "25 de Abril" produto de vários factores, foi sobretudo um resultado desta cultura oficial em que se misturavam os dois blocos rivais. A partir de então, veio ela abandonando o bloco marxista para se entregar completamente nas mãos do bloco da Unesco que, sem dificuldades nem contradições, imediatamente absorve e integra a obra do seu rival. O sector onde esta situação se mostra mais patente e tem mais fundas consequências é o do ensino. Em alguns outros sectores, porém, a penetração do bloco marxista já era de tal modo profunda que o despertar político antimarxista da sociedade portuguesa não o consegue demover nem sequer atingir. É o caso da comunicação pública onde os próprios orgãos ao serviço dos partidos políticos anticomunistas continuam a valorizar e, até, a só conhecer os produtos culturais marxistas, sejam eles os mais insignificantes.
Os dois blocos vêem-se pois impedidos de, até sectorialmente, se afastarem do que lhes é comum, de separarem um do outro a respectiva actividade. Estão indissoluvelmente solidários na grande deturpação.»[11]
 |
| Ver aqui, aqui, aqui e aqui |
 |
| Ver aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui e aqui |
 |
| Ver aqui |
 |
| Ver aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui e aqui |
«A II Guerra Mundial, tentativa
sangrenta de resolver o problema da Europa e do Mediterrâneo, terminou na
condenação dos nacionalismos políticos, culturais e filosóficos. Mais uma vez
observou Portugal a alta maré do internacionalismo, ou do universalismo, que
persevera na ambição ideal de reger a História. A Organização das Nações Unidas
mandava impor ao Mundo, por meios pacíficos e suasórios, uma cultura unificada,
para o que foi em 1945 assinada em Londres a carta orgânica da UNESCO, e em
1946 distribuído o opúsculo de Julião Huxley sobre A UNESCO, Suas Finalidades e Sua Filosofia.[14]
Em tempos tão adversos ao princípio das
nacionalidades, proclamava quase toda a imprensa o próximo advento de um
universalismo redentor configurado na gradual federação de Estados, unidos em
torno de um governo comum. A Europa era convidada a federar as suas nações.
Tentavam os publicistas demonstrar que tal política, sem fronteiras
sócio-culturais, seria indispensável para a felicidade económica dos povos e
para estabelecimento da paz mundial.
Protestando
contra essas tendências ideológicas, explicaram os nossos escritores humanistas
que o nacionalismo só poderia subordinar-se a um universalismo de ordem
transumana, como é o da Igreja Católica, já que qualquer doutrina com origem
determinada no mundo, isto é, em certo instante do tempo e em certo ponto do
espaço, não ostenta validade tal que aconselhe alguém a propô-la ou a impô-la a
todos os indivíduos e a todos os povos. Nenhuma nação simples, nem nenhuma
nação composta, como a união dos organismos nacionais, pode arrogar-se o
imperativo categórico na ordem do dever, ou elaborar um direito público
internacional contra o qual protestem as consciências esclarecidas. Cumpre ao
escol nacional ver e fazer ver como é que o imperialismo se disfarça ao propor
por prestígios económicos e financeiros a tese de que é conveniente uniformizar
e comunicar as técnicas instrumentais e os processos mecânicos, entre os quais
a contagem automática das votações majoritárias que decidem a seu talante, sem
que as minorias vencidas possam alegar restrições das suas liberdades e das
suas independências.
Esta sofismação é de há muito conhecida pelos povos europeus que formaram a sua cultura filosófica ao abrigo da Escolástica, e que desinteressadamente meditaram sobre os resultados do exame feito ao problema dos universais. A eliminação de entidades intermediárias, transitórias e transitivas, cujo conceptualismo e cujo realismo ficam suspensos da crítica, permite simplificar todos os problemas jurídicos pela formação de dialéctica entre o indivíduo e a sociedade. Entre o indivíduo, ou um corpo humano, e a última ficção jurídica que será a Humanidade, a Sociedade, o Estado, com qualquer designação conferida pela última doutrina da moda, não se intercalam realidades objectivas ou categorias mentais que mereçam ser consideradas na formulação dos fins do direito, e assim um dado de concreção mental e material como a Pátria estará sempre excluído do enunciado internacional dos eternos princípios.
Pensadores habituados pelo ensino aristotélico ao exercício lógico das categorias e sequentes garantias objectivas nunca poderiam admitir que no mundo condicionado pelo espaço e pelo tempo deixem alguma vez de existir as entidades sociais que ainda denominamos nações. A pluralidade indefinida jamais será unificada pela força de um Império. Não está demonstrado que por unificar, ou unicar, os meios de comunicação a Humanidade anule a diversificação militante ou incessante.
Tópico habitual do jornalismo português era então a luta entre o Oriente asiático e o Ocidente americano, esquecida a mediação singular da própria Europa. Deveria Portugal considerar-se um país pequeno, de solo e de gente humilde, para contentar-se com ser então um mero seguidor e adaptador que navega sobre os sulcos que lhe iam sendo deixados pelos Estados pioneiros da Civilização Unificada. No cumprimento das boas relações diplomáticas com os Estados Unidos da América do Norte, a ONU e a UNESCO, os jornalistas pareciam ignorar que a chamada América do Sul, ou América Latina, é a viva projecção cultural da Península Ibérica, para a qual ainda olham com esperança quantos leram a Decadência do Ocidente de Oswaldo Spengler.»[15]
O ofuscado detractor da filosofia portuguesa julga ainda, em termos basicamente estruturais, poder aproximar, não obstante os respectivos «postulados radicalmente diferentes», as teses nominalmente “absolutas”, “essencialistas” e, nessa medida, “fundamentalistas” do primeiro grupo, geralmente considerado, com «a ideia de destino, tão querida da visão fundamentalista e messiânica» igualmente própria «da conceção [sic] determinista da História defendida pelos marxistas, ou marxizantes (se preferirem).»[16] Porém, uma vez visto que a pressuposta «estrutura nuclear» não representa nesta correlação perfunctoriamente abstracta e funcional de ideias uma compenetração mútua de princípios gnósicos, sóficos e písticos inter-relacionados, e, portanto, de conexão significativa no plano da verdade, condição e destino do pensamento português, a associação primária pese embora depreciativa entre «tradicionalistas» e marxistas só poderá finalmente explicar-se no âmbito enganoso e evanescente de uma subjectividade diminuída. Pudesse antes ter sido oportunamente dito que o messianismo eslavo influiu poderosamente em destacados pensadores portugueses, entre os quais Sampaio Bruno (Notas do Exílio), Leonardo Coimbra (A Rússia de Hoje e o Homem de Sempre) e Álvaro Ribeiro (prefácio à obra de Vladimir Soloviev, A Verdade do Amor), pois então, sim, já algo de espiritualmente assinalável teria tido lugar, quanto mais não fosse pela crucial distinção entre o messianismo marxista e o messianismo eslavo, conforme já também pudera assinalar o autor de O Problema da Filosofia Portuguesa:
«A extensa obra
literária, filosófica e religiosa de Vladimiro Sergueivitch Soloviev não é
inteiramente desconhecida em Portugal. Muitas pessoas de mediana cultura leram
já em traduções, principalmente francesas, alguns dos principais ensaios do
notabilíssimo pensador russo, e ao longo da literatura portuguesa não seria
difícil descobrir várias influências do pensamento esperançoso, profético e
messiânico do grande adversário de Marx, Tolstoi e Nietzsche. Imediatamente
ocorre o nome de Sampaio Bruno ao leitor atento e advertido de que em Paris
fora publicada em 1888 a primeira edição de La
Russie et L’Église Universelle. Muitas páginas de reflexão sobre as obras
de escritores eslavos se encontram nos livros do filósofo português. A
divulgação dos contos, dos romances e das novelas de Turguenef, Tolstoi e
Dostoiewsky foi entre nós acompanhada de correspondente divulgação dos ensaios
de Chestov, Rozanov e Beardiaef, conforme se pode verificar por consulta aos
livros dos críticos literários e comentadores de filosofia. A presença de
Soloviev no pensamento português não foi ainda objecto de demonstração em
trabalho erudito, mas não oferece dúvida a quem haja seguido com atenção os
movimentos culturais que já caracterizam o nosso século XX. A ideia de Sofia, e
a doutrina do sofianismo, que Sérgio Bulgakov elaborou magistralmente nos
quadros teológicos da Igreja Ortodoxa, logo que começou a aparecer claro em
obras de autores católicos, mais ou menos próximos do francês Paul Claudel e da
alemã Edith Stein, teve viva repercussão em escritores portugueses que desejam
a actualização da apologética religiosa.»[17]
«Contra a Estupidez até os Deuses lutam em vão»
Coube-nos o ensejo de, em livro
intitulado Noemas de Filosofia Portuguesa. Um estudo revelador de como a Universidade é o maior inimigo da cultura lusíada, dar conta do que academicamente considerámos ser as três
principais formas distorcidas de abordar a filosofia portuguesa: a duplamente abstracta e histórica, a patética e a satírico-racionalista. E nisto coube-nos ainda estabelecer certa
correspondência entre tais formas institucionalmente arreigadas e três figuras
comummente incensadas da cultura portuguesa, a saber: Manuel Antunes, Eduardo
Lourenço e António Sérgio. Contudo, tratemos agora de relembrar algo do que já
então demos a conhecer em relação à segunda dessas figuras, até porque, segundo
Onésimo Teotónio Almeida, ela enquadra-se no terceiro dos grupos mencionados
pelo próprio, grupo esse, aliás, também sobejamente caracterizado «pelos
inúmeros leitores cultos que se identificam» com as posições de Eduardo
Lourenço, e assim presumivelmente representam «um ponto de vista complexo,
informado e servido por uma intuição que no caso de Lourenço toca o genial»[18].
Pois bem: corria o ano de 1946 quando
Eduardo Lourenço, perante a «pergunta-consulta» de um leitor da revista Vértice sobre se havia ou não uma Filosofia
Portuguesa, abre o «inquérito» com o vil propósito de pôr a ridículo o
pensamento de Álvaro Ribeiro, já na altura previamente exposto aos portugueses
através de um opúsculo intitulado O
Problema da Filosofia Portuguesa. Deste modo, afirma E. Lourenço que a
concepção de Álvaro Ribeiro, tal como delineada naquele opúsculo, «é
simplesmente absurda», pois supostamente preconiza «a filosofia como qualquer
coisa que se aprende ou transmite tal e qual como a técnica de fazer o melhor
parafuso», e, portanto, quando o autor pensa «em “adoptar um sistema
filosófico”», fá-lo ainda «como quem diz usar uma certa marca de camisas ou
água de colónia»[19].
No mais, o seu detractor rasgara as vestes perante o facto de Álvaro Ribeiro
ter simplesmente afirmado que entre os portugueses se discutia «qual o sistema
filosófico, entre os que na Europa mais benéfica influência exercem no
pensamento contemporâneo», podia ser «importado, adoptado e difundido no
ambiente cultural português». E tão manifestamente estúpida, provinciana mesmo, fora decerto a sua má-fé,
que só oportunamente circunscrita poderá realmente mostrar o portentoso calibre
do artista: «Quem é que discute? Onde? Não se teria equivocado Álvaro Ribeiro
ouvindo falar de importação de batatas da Dinamarca e automóveis de Detroit?».
Eis,
pois, um incontestável exemplo de como se procede ao estulto vilipendiar do
pensamento alvarino para mais facilmente o dar como pertencendo ao domínio do
abstruso, o que, de resto, constitui um expediente normalmente praticado entre
os detractores do pensamento português mais genuíno e criador por excelência.
Depois, também não é por acaso que o senhor Onésimo representa, grosso modo, mais um daqueles exemplos
típicos da cultura intelectualmente inócua e abstracta fomentadora de ardilosos
equívocos e ambiguidades, nomeadamente quando, na sua confrangedora desonestidade
intelectual, atribui aos chamados “tradicionalistas” a «ausência de
fundamentação rigorosa, pois assentam em fragilíssimas conceções [sic] filosóficas,
em mal informadas teses sobre a linguagem e o seu papel na formação das
mundividências, bem como numa deficiente conceção [sic] da articulação entre o
pensamento e a acção.»[20] Enfim,
de modo nenhum subsiste em todo este desarrazoado, conforme aliás demonstraremos ao
longo deste escrito, nada que vá directamente ao encontro da verdade subjacente ao superior pensamento de
autores portugueses aqui especialmente visados.
Sobre a teoria da linguagem, modalmente explícita na filosofia portuguesa, vejamos, a título de exemplo, o caso sublime de Álvaro Ribeiro mediante o vero testemunho de Orlando Vitorino:
«Na generalidade dos homens, a biografia
íntima é composta de sentimentos. No pensador, ave rara, ave metafísica, como
disse Sant’Anna Dionísio de Pascoaes, a biografia íntima é composta de
pensamentos. Pensamentos, assim no plural, é palavra imprecisa, apesar de
Pascal a ter consagrado, é uma construção gramatical. Em rigor filosófico, em
boa verdade filológica, a palavra pensamento não tem plural. Um mesmo
pensamento habita cada um de nós e decorre, sem alteração substancial, em
sucessivas teses. Tal como cada um de nós é o mesmo em todo o percurso das
posições por que vamos passando desde o nascer ao morrer.
As teses da biografia íntima do pensador sublinham as posições da sua biografia exterior. Se conseguirmos estabelecer esta relação sublimante, conseguiremos apreciar a verdade concreta, a firmeza real das teses e do pensamento. Um exemplo: Álvaro Ribeiro teve uma infância difícil que lhe tornou tormentosa a transição à fala e para sempre lhe perturbou as capacidades de expressão oral. Todavia, enunciou a tese oposta a esta posição e empenhou-se permanentemente em afirmar e demonstrar que a fala é o mais elevado valor da natureza humana e a expressão a garantia da realidade, ou da verdade, do pensamento. Escreve, sobre esta tese, as melhores páginas que jamais se escreveram sobre a caracterização da língua portuguesa, da língua francesa e da língua alemã, como línguas da filosofia e, identificando a tradição com a pátria, enunciou a tese de que “a tradição é a língua”, isto é, de que na língua se guardam os significados, os conceitos e as ideias que, em suas sucessivas e múltiplas variantes, constituem a riqueza de pensamento de um povo, constituem a própria pátria, porque a pátria é uma entidade espiritual.»[21]
Teoria da linguagem, constitui, aliás, um dos capítulos alvarinos do Liceu Aristotélico, livro ademais publicado por justa deferência ao «ensino tradicional daquele que por antonomásia tem sido designado por o Filósofo, sem émulo nem par.» Sobre aquela teoria, discorre então o filósofo aristotélico nos termos de uma tradição espiritual que parece hoje praticamente ignorada ou assaz desconhecida no âmbito da cultura nacional-humana:
«O estudo das humanidades começa pelo
estudo da linguagem. Dificilmente se explica que, em algumas escolas
predominantemente votadas aos estudos teóricos,
escolas nas quais figuram as disciplinas de teoria da literatura, teoria da
história, teoria do direito, teoria da lógica, teoria do conhecimento, etc.,
não sejam os estudos humanistas precedidos de uma disciplina de teoria da linguagem, comum a todos os
cursos. Sabido que só através da linguagem, e mediante a escrita, pode o homem
estudar a literatura, a história, o direito e a lógica, causa espanto notar que
os estudos clássicos não principiem pela disciplina de filologia.
O estudante de letras que pretender
familiarizar-se com estes estudos de propedêutica filosófica, ou de iniciação à
filosofia, poderá ler com proveito a Breve
História da Linguística, escrita por José Pedro Machado, onde se encontram
enunciados com clareza os problemas essenciais, e indicados os elementos mais
úteis da bibliografia[22].
Através deste livro poderá o estudante de letras obter uma fiel e nítida noção
do que Guilherme de Humboldt, Hermann Paul e Karl Bühler estabeleceram quanto à
teoria da linguagem, e bem assim as principais doutrinas de Fernando Saussure e
de Charles Bally que renovaram o estudo da filologia românica.
A linguística é, pois, a base
fundamental dos estudos humanísticos e consequentemente a propedêutica da
filosofia. Dizemos linguística, na acepção mais pura, para afastar o que só
metaforicamente pode ser tomado como linguagem, isto é, os gestos, os acenos e os
símbolos, embora consideremos que na transmissão dos pensamentos sejam de uso
tais processos e outros mais. É à linguagem oral
que particularmente nos referimos, deixando para a gramática o que vulgarmente
se chama linguagem escrita.
Longe de admitirmos, com Fernando
Saussure, que a linguística seja apenas uma parte de uma ciência mais geral que
poderia ter o nome de semiologia,
acreditamos que todos os outros sinais ou símbolos que representam a palavra no
mundo visível, por natureza ou arte, estão sujeitos à caducidade e à não
verdade, pelo que carecem da interpretação inteligente que lhe pode ser dada
pela palavra, pelo logos e pela lógica[23].
Esta transferência dos dados da sensitividade para os dados do intelecto, e dos dados do intelecto para os dados da razão, tem a sua projecção na transcendência, mas é a doutrina da razão que ilumina o homem, a tradicional doutrina da razão animada.»[24]
Sem embargo, portanto, das aleivosias
provindas de adversários e inimigos da filosofia portuguesa, invoquemos ainda,
por inequívoca confluência de ideias com o seu mestre Álvaro Ribeiro, o
contributo pneumático de António Telmo no que especialmente respeita aos
fenómenos linguísticos, bem como ao que mais directamente concerne à
desagregação progressiva da língua portuguesa e, por conseguinte, ao processo
quase diríamos irreversível da degenerescência mental dos portugueses. E, assim,
bem a propósito relembremos como a
perversão na linguagem leva à demência na sociedade, cuja expressão
apropriada perfaz, inclusive, um capítulo assaz significativo de Filosofia e Kabbalah, no qual o próprio Telmo,
ao bom modo clássico, introduz uma epígrafe não menos significativa atribuída a
Quinto Horácio Flaco: Quos Juppiter vult
perdere prius dementat (Júpiter enlouquece primeiro aqueles que quer perder). Porém,
já mais afoito e ironicamente incisivo, pudera o seu irmão primogénito OrlandoVitorino dar a conhecer o que certamente convém reter no presente ciclo de desagregação socialista, mais
particularmente em Sesimbra mediante a sita projecção bem visível e ostensiva
da frase assinada por Frederico Schiller: Contra
a Estupidez até os Deuses lutam em vão.
Autognose
Desvirtuada, entretanto, a autognose enquanto presumível «esfera do autoconhecimento que um grupo tem ou procura ter de si próprio», e, portanto, como um alegado «exercício de inteligência ou de entendimento do real»[25], eis, pois, que ora se nos dá a conhecer que o termo em questão porventura partira do mexicano José Gaos, e que já em Portugal Vitorino Nemésio, o intelectual açoriano que em tempos considerara Orlando Vitorino o primeiro contestatário da Universidade em Portugal, chegara a dispor desse termo em 1961[26]. Ora, aqui convém ver que já o próprio Álvaro Ribeiro - corria então o ano de 1957 - dispusera com toda a propriedade desse mesmo termo para fundamentalmente ilustrar o capítulo inicial da primeira parte do seu livro A Razão Animada, intitulada de O Pensamento. Daí, ipso facto, a referente explanação do insigne autor sobre o que mais filosoficamente importa saber:
«Gnôthi séauton, nosce te ipsum, conhece-te a ti mesmo. Este
preceito helénico, insculpido no frontão do templo de Apolo, em Delfos, foi
referido por Sócrates aos seus discípulos atenienses como princípio da arte de
filosofar. Tal é, pelo menos, a versão que nos foi transmitida por Cícero no
livro intitulado Tusculanas, com
origem segura em antiga tradição.
Gnoscere
não é o mesmo que cognoscere, e a
libertação individualista da gnosia,
se contradiz a tese de que todos os
homens são iguais, pressupõe efectivamente resolvido o problema da
individuação. Quando o humanismo abstracto, sem obrigações de espaço ou de
tempo, afirma que todos os homens são iguais, para negar a distinção entre
bárbaros e helenos, logo as doutrinas de inspiração socrática ressurgem e
lembram pelo menos as diferenças de idade, sexo e temperamento. A reflexão
filosófica exerce-se sobre cada personalidade, é uma experiência individual,
inconfundível e intransmissível, mas possui também valor universal, porque quem
primeiro não se conhecer a si próprio (gnosia),
jamais chegará a conhecer a humanidade.
(...) Conhecer-se a si próprio é,
efectivamente, conhecer-se como espírito. A energia primordial que assim é dada
à consciência não deve, porém, ser confundida com o pensamento, segundo o erro
de Descartes, nem com os princípios da lógica escolar, segundo o erro de Hegel.
Ao conhecer-se a si próprio, gnosicamente, o homem adquire a certeza de que
pensa e raciocina para se relacionar com o espírito universal, e esta certeza
habilita-o a adquirir por consistência aquela virtude que denominamos fé.
Garantido está também pela doutrina
socrática o preceito tradicional de que a palavra foi dada ao homem, ou foi
ensinada ao homem, para denominar conceitos e não para designar sentidos. Todo
o socratismo vale de prévia refutação do positivismo ou cousismo. A doutrina
humanista, quer dizer, a distinção filosófica entre a animalidade e a
humanidade, pressupõe a distinção entre o sentido e o concebido ou, melhor,
entre o sentir e o conceber.
A palavra filosófica abandona o sentido para servir o conceito. A palavra é educadora do homem na medida em que o inicia no reino do espírito. Referir a palavra aos sentidos, ou às coisas, será retroceder para um reino sem valor, será regressar ao passado.»[27]
Em suma: Magister dixit.
Três factores espirituais indissociáveis: tradição, língua e pensamento
Em A Razão Animada, Álvaro Ribeiro, congregando as disciplinas de linguística, estilística e literatura no âmbito da filologia, releva sobremodo o seguinte:
«(...) cada povo possui
o seu perfil fonético, desenhado segundo os métodos da cartografia linguística,
mas, perante a variedade biotipológica dos homens que constituem a sociedade
política, a explicação glotológica tem de ser substituída pela explicação
semântica. O nosso povo acusa preferência por certo número de fonemas, por
alguns agrupamentos melódicos, por sucessões de sílabas que a escrita separa, e
conviria respeitar quanto possível a tendência popular na representação gráfica
pelos vinte e tantos sinais da convenção alfabética. Dir-se-ia que o povo
escolhe, ou elege, entre os milhares de sons que os orgãos da fala poderiam
emitir, aqueles que considera mais belos, mais expressivos e mais afirmativos.
A língua portuguesa é, assim, adversa a pronunciar sons como os significados pelo j castelhano, pelo u francês e pelo th inglês, e a naturalizar foneticamente os estrangeirismos que lhe são propostos pelo comércio internacional. Infelizmente, a nossa ortofonia nem sempre aparece reflectida na ortografia, e o ensino escolar, submetido ao sistema positivista, exerce inibições sobre a espontaneidade popular da fala e da escrita, dificultando, com dezenas de regras arbitrárias e de excepções contraditórias, a aprendizagem e o exercício da escrita normal. A subordinação da ortografia à ortofonia, especialmente para inequívoco registo dos sons vogais, da acentuação e da entoação, tem por fim respeitar as tendências melódicas dos povos, e não os critérios fictícios das convenções internacionais.»[28]
Enfim, no que essencialmente se reporta à defesa inteligente embora não menos intransigente da nacionalidade perante a invasão da utopia internacionalista, ainda mais e melhor averba o insigne filósofo português:
«Admitindo
consequentemente que os artistas da palavra são aqueles que mais perfeitamente
representam o génio de um povo, quer porque sejam fiéis às tendências étnicas
do idioma, quer porque antevejam o ideal cultural da nacionalidade, os estudos
estilísticos sobre as obras dos escritores são contribuições para determinar a
psicologia nacional. Há uma estilização colectiva nas horas de exaltação
patriótica. A filologia, nos seus três aspectos da linguística, estilística e
literatura, esclarece a liberdade do povo e, consequentemente, o destino dessa
liberdade no culto, na cultura e na civilização.
A hipótese de que houve ou haverá um
idioma universal, configurada no indo-germânico dos passadistas ou no esperanto
dos futuristas, é um artifício cómodo para que a linguística aspire a passar do
método empírico para o método analítico. A linguística procede por comparação
de diferenças e semelhanças para a formação dos seus conceitos, mas está longe
de atingir a analogia. À medida que se especifica, passando de linguística
geral para linguística indo-europeia, de linguística indo-europeia para
linguística românica, de linguística românica para linguística portuguesa – à medida
que se especifica, vai demonstrando que o logos
significa a transcendência da razão.
Em vez da sociologia abstracta, que tem
por fim descrever o oposto da liberdade, a etnografia concreta, nas suas
expressões foclóricas, afirma e confirma a fenomenologia do espírito. As
tendências espontâneas de cada povo, manifestadas nas alterações do idioma que
o linguista vai registando, coleccionando e classificando, representam e
significam uma estilização nacional de elementos que os comparativistas, em seu
método positivo, dizem não ser autóctones mas de origem estrangeira. Se há
oposição directa entre a necessidade e a liberdade, não esqueçamos que entre os
dois termos existe, ou pode existir, a mediação humana que se chama educação.
A lenta formação de uma língua própria,
por autonomia cultural em oposição às leis que os gramáticos prescrevem,
representa sem dúvida o mais perfeito modo de personalidade jurídica. Nenhum
povo beneficiado com língua própria obedeceria a leis redigidas em língua estrangeira,
nem a leis literalmente traduzidas, porque a tradução é neste caso o contrário
da tradição. A consciência nacional está sempre vigilante no momento da
legislação, defende-se dos estrangeirismos que contribuem para a corrupção do
idioma, e vigilando opõe-se a quanto contrarie a nacionalidade pela lenta,
astuciosa e subtil desarticulação das categorias étnicas de pensamento e
movimento.
Há, sem dúvida, quem acalente a fantasia
de que a internacionalização da cultura está preparando o desaparecimento das
nações. Muitas conjecturas são possíveis em sociologia abstracta. A linguística
demonstra-nos, porém, que é imprudente qualquer prematuro trânsito para a
utopia universal.
A todos os patriotas desagrada que sejam
admitidas palavras estrangeiras nos textos legislativos, nos documentos
oficiais e nos livros escolares. Todos se coligam para repudiar uma negligência
que significa, afinal, falta de culto pela verdade, insinceridade na expressão,
imbecilidade no pensamento. Uma língua viva será sempre dotada de flexibilidade
suficiente para criar neologismos, sem derrogação das leis tradicionais que os
gramáticos observam, ensinam e defendem.
Lamenta-se, por isso, que seja
intermitente nos políticos – quer dizer, nos homens que pretendem ser legisladores,
ou que pretendem intervir directamente na legislação – a ciência de que um
idioma, além das funções intelectuais, próprias da cultura do espírito, exprime
fenómenos volitivos e emotivos, os quais denunciam as vicissitudes das nações. A
nobre formação humanista, que era dada aos juristas de outrora, beneficiava de
justificação perfeita aos olhos de quem sabia o que verdadeiramente significam
a gramática, a retórica e a dialéctica.
A ascensão à política positivista de homens que não receberam a indispensável
preparação trivial teve por consequência a aceitação sem crítica de expressões
internacionalizadas e divulgadas por jornalistas, na ilusão primária de que
elas facultam ou facilitam o bom entendimento entre os povos e que preparam até
o advento da língua universal.
Decretaram os positivistas um sistema de
ortografia que tem por fim estabilizar a ortofonia, sabido que a vida da
linguagem está mais na palavra falada do que na palavra escrita. Esse sistema
não tem sido, porém, aplicado às palavras estrangeiras que se infiltram no
nosso idioma, senão por força maior do instinto popular que, rompendo contra o
pedantismo dos falsos poliglotas, obriga lealmente a escrever futebol. Exemplo admirável nos dá a
Espanha, conservando e aplicando as suas leis ortográficas sem excepções
motivadas pelos respeitos humanos.
Primária ignorância a de quem não sabe
que a língua é um factor de cultura. Se a língua fosse apenas um facto, e não
um factor, desculpar-se-ia talvez o preconceito corrente de não atribuir
importância às questões de linguagem; mas cada palavra escolhida para designar
objectos de interesse público atrai, solda e consolida certos modos de pensar
que depois se exprimem nas frases feitas. Quando tais expressões contrariam a
índole espontânea do idioma, e, portanto, a tradição cultural de que o idioma é
portador, dá-se o inevitável desvio do pensamento que deveria orientar a
nacionalidade.
Em países tais como a Bélgica, a Suíça ou a Áustria pode admitir-se a dissociação entre o pensamento e a linguagem, porque certas razões de Estado justificam que em alguns casos valha a pena realizar separação entre o idioma oficial e a cultura nacional. Não deve acontecer o mesmo nos povos beneficiados pelo paralelismo entre a história linguística e a história política, e tal não ocorre naqueles que assumem a consciência e a responsabilidade de estilizar nacionalmente os melhores elementos do culto, da cultura e da civilização. Resistindo à fictícia uniformização internacionalista, que aliás propagam fora das suas fronteiras, os povos superiores sabem que o sopro vital dos linguistas equivale muito bem ao que outrora se designou por tradição.»[29]
Na senda de Álvaro Ribeiro, aventemos, pois, que os estudos de linguística, estilística e literatura confluem necessariamente para a filologia, e, portanto, para a curial demonstração de que há, ao fim ao cabo, paralelismo ou funda implicação[30] entre o pensamento e a expressão. Por outras palavras, a garantia da expressão, muito mais do que na comunicação de emoções, sentimentos e volições, radica sobretudo no pensamento implícito sem o qual jamais diríamos ser a língua o domínio do pensamento enquanto actividade invisível e imprevisível. Ou seja: sobre o elemento expressivo há-de predominar o elemento significativo, como quem diz valer a palavra não tanto pelo som acidentalmente considerado, mas pelo espírito que a assiste e envolve, consoante, aliás, se subentende em Aristóteles nos termos significativos que se seguem:
«A letra é um som indivisível, não porém qualquer som, mas apenas qual possa gerar um som composto; porque também os animais emitem sons indivisíveis e, contudo, a esses não os denomino letras.»[31]
No fundo, o maior Filósofo da Antiguidade refere-se aqui essencialmente ao fenómeno da audição[32], tal como, já a seu modo, António Telmo, ciente da conspiração dos linguistas, lograra realizar em termos que são gnosicamente afins aos de seu mestre Álvaro Ribeiro na transcendente e subtilíssima arte de filosofar:
«A linguística nasceu na Alemanha no início do século XIX. Foi imaginada com o fim de fabricar um instrumento suficientemente poderoso para destruir o prestígio da língua hebraica e a glória do seu alfabeto. Esse instrumento recebeu o nome de Fonética.
Porquê a Fonética? Porque só pela Fonética a linguística pôde estabelecer-se como ciência exacta e, portanto, irrefutável. A língua, pois que é o domínio do pensamento ou, nas palavras que fazem ver, o domínio de uma actividade invisível e imprevisível, só pelo seu aspecto material parece poder tornar-se acessível a uma manipulação de tipo científico, entendendo por científico aquilo que Kant definiu com a sua distinção dos nómenos e dos fenómenos. A teoria do conhecimento kantista reflecte-se na esfera da linguística na oposição dos nomes e dos fonemas. A semelhança fonética entre nome e nómeno e entre fonema e fenómeno não é apenas ocasional. Se, no domínio da natureza, só há uma ciência possível que é a que tem por objecto os fenómenos, no domínio que é a da linguística só há uma ciência possível, a dos fonemas. Os nomes aparecem-nos como fonemas do mesmo modo que os nómenos nos aparecem como fenómenos, permanecendo ali, onde são, a coisa em si incognoscíveis. Os fonemas, dado que constituem a materialidade da língua, podem ser contados, pesados e medidos. São determinações quantitativas. Além disso, são produções do corpo humano, ali onde ele funciona mecanicamente como aparelho físico emissor de sons. Pela Fonética, a separação da língua e do pensamento foi facilmente feita. A partir daqui, só houve que encontrar as leis que presidem às relações e às transformações dos fonemas.
Ao constituir-se, a Fonética atirou para
o passado, isto é, fez passar à história, a concepção da língua que estava
implícita na existência dos alfabetos semitas. Estes alfabetos não registam as
vogais. As consoantes são concebidas como destituídas de som; só soam com uma vogal e, por isso,
receberam dos antigos gramáticos o nome de consoantes. Por aqui se vê que o que
imediatamente distingue a linguística da Kabbalah é a diferença entre a língua
entendida como fonação e a língua entendida como audição. Os macacos não falam
nem podem falar, não é porque não possuem orgãos capazes de proferirem sons,
mas porque não têm ouvidos para fonemas. É o facto de o homem possuir o ouvido que falta ao macaco que lhe
permitiu adaptar e utilizar para a emissão e formação de palavras, orgãos que a
natureza não produziu para falar, mas para comer, beber e respirar.
O fonema não é, pois, apenas um som; é
um sentido. A Fonética apreende dele só a sonoridade, aquilo que nele é
susceptível de conta, peso e medida.
Para evitar confusões, deveríamos dar
aos fonemas o nome de elementos, como o faz Platão, para quem só as vogais são
vozes (tá phonéênta). Os elementos, no sistema de interpretação da língua, que
é o alfabeto hebraico (e todos os alfabetos semitas), são visíveis pelas letras
e tornam-se sonoros pelas vogais. Antes da fala, está a escrita. Dada a fala, é
a escrita que a interpreta. Daqui a importância, na Cabala dos gregos ou dos
hebreus, dos textos sagrados ou poéticos.
Compreende-se assim que a Fonética, tal como foi concebida e formulada pelos alemães, combata metodicamente todas as classificações antigas dos fonemas, que procediam da letra para o som, e, em consequência, institua como seu único objecto a fala comum, a fala de toda a gente. Com efeito, só aqui a materialidade da língua se oferece plenamente. Compreende-se também que o registo das vogais no alfabeto feito, a primeira vez na história, pelos gregos, seja por eles aplaudido como algo de profundamente decisivo para o progresso da cultura humana. Como se sabe, ou como se diz, os gregos receberam dos fenícios o seu alfabeto, mas introduziram nele as vogais.»[33]
Enfim, nos antípodas do falso evolucionismo fundamentalmente constituído por uma conjectura negacionista do sopro ou murmúrio do espírito, é, nada mais, o ilustre autor d’A Arte de Filosofar quem, por seu turno, logrou operar, ou melhor, transferir a sua indagação nos domínios da linguística e da filologia para fora da ciência, nomeadamente quanto à origem da significação da palavra:
«Consideram os
linguistas a fala como expressão, e nesta imagem de que algo de íntimo ou de
anímico se externa por emissão de voz, também os evolucionistas afirmam um
preconceito que é uma crença. A imagem da máscara sustenta a ideia de
personalidade. O que soa e ressoa nas cavidades bocais e nasais, o que se
vocaliza e consonantiza, assume o primado nesta doutrina evolucionista que,
coerentemente, vê na glotologia, na fonética e na fonologia, os primeiros capítulos
da ciência da linguagem.
As doutrinas evolucionistas, que os
linguistas de longe ou de perto seguem, foram muitas vezes censuradas, mas
ressurgem pela necessidade de se instaurar um princípio coerente no sistema
filosófico que, desligado do culto, tende a dominar a cultura e a civilização.
As semelhanças que empiricamente podem ser observadas entre o homem e os
mamíferos superiores não são indícios de uma evolução cujas provas hajam de
colher-se na paleontologia, e na anatomia e embriologia comparadas, porque
contra aquelas semelhanças se apresentam diferenças, racionalmente induzidas e
deduzidas, as quais não carecem de esperar ulteriores confirmações de ciências
empíricas. Admitindo, porém, que a generalidade dos homens instruídos prefira a
tese evolucionista à tese criacionista, e que o transformismo venha a
instalar-se como doutrina indiscutível, faltará ainda vencer a objecção de que
o homem não é dotado de orgãos da fala, ou seja, de que a língua não é fisiologicamente expressão.
“Acabo de me referir a ‘orgãos da fala’, e poderia à primeira vista parecer que isso equivale a admitir que a palavra é em si mesma uma acção instintiva e biologicamente determinada por antecedência. Não nos deixemos enganar por esta fórmula simples. Não há, a bem dizer, orgãos da fala; há somente orgãos que são incidentalmente úteis à produção dos sons da linguagem. Os pulmões, a laringe, o palato, o nariz, a língua, os dentes e os lábios são utilizados para tal fim; não devem, porém, ser considerados orgãos primários da fala, tal como não devem os dedos ser considerados essencialmente orgãos para tocar piano nem os joelhos orgãos da prece religiosa. Falar não é uma actividade simples que seja produzida por orgãos biologicamente adaptados a esta função. É uma rede muito complicada e constantemente alterável para adaptações várias: do cérebro, do sistema nervoso, dos orgãos de audição e de articulação, tudo segue tendendo para um só fim: a comunicação das ideias.”[34]
Vemos, pois, que os orgãos da fala são
assim chamados porque se adaptaram a reproduzir os sons recebidos de outiva e
não porque a língua fosse originariamente dotada da função de produzir
palavras. Esta transferência da boca para o ouvido,
na situação do problema da origem da palavra, parece-nos digna de profunda
meditação. Justifica-se assim que os melhores tratadistas da ciência da
linguagem, como Louis H. Gray, autor de Foundations
of Language, atribuam maior importância à descrição anatómica dos orgãos da
audição do que à dos orgãos da fonação[35].
Glotólogos, foneticistas e fonologistas trabalham muito mais no campo da antropologia, da etnologia e da sociologia do que no da filologia, da estilística e da linguística. Descrever as características do aparelho fonador na humanidade em geral, reconhecer as respectivas diferenças na criança, na mulher e no homem, anotar as variações acidentais conforme a idade, o sexo e a raça, é efectivamente um trabalho científico que está longe do problema filológico. Não queremos com isto afirmar que não haja merecimento em observar como é que em cada comunidade linguística, determinada especialmente por países, províncias e regiões, o povo reproduz as palavras que vai conhecendo por ouvir dizer.»[36]
Não por acaso decidimos aqui proceder a esta exaustiva sucessão de oportunas transcrições para consequentemente mostrar o que acima de tudo mais importa relevar no problema filológico em questão: a impossibilidade de, por mais que se operem os meios de colecção, classificação e catalogação dos fenómenos linguísticos, reduzir a pluralidade à unidade, uma vez que os motivos por que as palavras mudam de nome, de forma e de significado pertencem mais directa ou indirectamente ao génio invisível e imprevisível da língua que assim se situa num plano superior ao do paradigma cultural momentaneamente vigente, e isto não obstante poder a mesma vir a constituir-se como orgão cultural mediante o registo documental, gravado ou escrito. Daí que só a decadência da filologia especulativa permita objectivamente explicar a consequente formação de uma linguística positiva entretanto incluída numa falsa ciência de abstracção artificial e de construção nominalista, nomeadamente a sociologia positivista curiosamente influente nas obras de Ferdinand de Saussure[37]. E daí outrossim que, no linguista genebrino, se destaque sobremaneira o carácter convencional da língua, ou do que no seio da mesma se denominam os signos enquanto criações sobejamente arbirárias – os signos são, pois, para Saussure a combinação do significante com o significado, o primeiro linguisticamente arbitrário, o segundo subjectivamente dependente do contexto cultural em causa.
De resto, eis ainda segundo as palavras do Kabbalista de Estremoz:
«Contra a tese da origem interjeicional e onomatopaica, Saussure vem afirmar que o significado e o significante estão de costas voltadas um para o outro. A fonética, na medida em que ignora o significante ou se mostra incapaz de lá chegar, deve ser expulsa dos estudos linguísticos para ser integrada no domínio das ciências acústicas. Saussure propõe que, em seu lugar, seja estudada outra ciência, a Fonologia, em que os sons da voz humana possam ser classificados pela sua capacidade de distinção de significados. Em vez de fonema, começa a falar-se de traço distintivo. Os fonemas não significam, mas compõem entre si estruturas em que funcionam como distintivos de significações. Classificados por este modo os sons da voz (o humana estava a mais), verifica-se que são muito poucos. Observa Saussure que os alfabetos são óptimas classificações dos traços distintivos.»[38]
Há, por conseguinte, subjacente a tudo isto um fundamental e abissal contraste no que entre tradição, língua e pensamento deparamos no domínio psiconoético da filosofia portuguesa propriamente dita, e aquilo que o senhor Onésimo julga ter podido discernir quanto aos alegados equívocos dessa filosofia, até porque sua pretensa apreensão dos mesmos decorre de um inadequado prisma oriundo da chamada filosofia analítica anglo-saxónica, o que já de si permite explicar o porquê da inevitável incompreensão de quem para mais se mostra, com toda a evidência, uma vasilha oca para justamente saber lidar e estar à altura de uma doutrina do espírito como a que naturalmente se propõe nos círculos iniciáticos da filosofia portuguesa. Ora, esse mesmo contraste mais se acentua quando sabemos que o autor de A Obsessão da Portugalidade tanto nos remete para inverosímeis quão exorbitantes interpretações que se poderão rapidamente sintetizar nos seguintes moldes:
– Não há propriamente interdependência entre língua e mundividência, posto que, nos limites possíveis do plano empírico, é sempre a experiência cultural em sua diversidade e multiplicidade do real que impulsiona e determina o aparecimento de novos termos, e, portanto, desse modo constitui a origem das várias imagens visuais, auditivas e outras mais que predominantemente explicam no universo da língua as múltiplas emoções, simpatias e repulsas mais espontânea ou vivencialmente acumuladas.[39] Por isso, dirá ainda o arvorado analítico que, na «maior parte dos casos, a língua reflecte a cultura que a cria.»[40]. Logo, dar-se-á o caso mais comum de ser a experiência a «preceder o conceito e não o contrário.»[41]
– Não existe «um sistema coerente e consistente» que fundamente com espírito lógico, profundidade analítica e rigor terminológico as teses da filosofia portuguesa[42], o que já não acontece com «os sistemas de Hegel ou Heidegger», uma vez que, não obstante serem «apenas construções linguísticas imensas, castelos impressionantes sem fundamentação última absoluta (como parece provar hoje a filosofia analítica)», «mantêm-se intactos na sua estrutura e coerência internas.»[43] E daí, com base infundada nestas falsas premissas, a conclusão errónea de que os «homens da Filosofia Portuguesa» condenaram o pensamento português a um isolamento explicável pela ausência «do diálogo internacional sobre questões universais».[44]
 |
| Serra do Marão |
 |
| Leonardo Coimbra e Teixeira de Pascoaes |
– O saudosismo é como que a condição sine qua non para mais claramente se
estabelecer «as linhas mestras demarcadoras do paradigma da filosofia
portuguesa»[45],
quando, na realidade, o testemunho fidedigno de Álvaro Ribeiro nos permite
chegar a um raciocínio não tão linear, mormente em Apologia e Filosofia, no capítulo intitulado «A filosofia
portuguesa»:
«A influência do
mistério da Santíssima Trindade na filosofia portuguesa foi admiravelmente
surpreendida pelo iluminado e inspirado pensador Sampaio Bruno que, no livro O Encoberto, particularmente define as
relações do messianismo com o paracletismo e com o sebastianismo. A Sampaio
Bruno, que foi um subtil explicador da poesia portuguesa, devem o futurismo de
Fernando Pessoa e o saudosismo de Teixeira de Pascoaes ser ideologicamente
relacionados, para que se compreenda a especulação filosófica dos respectivos
movimentos literários. O saudosismo está, porém, mais relacionado do que o
futurismo com a doutrina católica sobre o mistério da queda e o problema do mal[46].
Leonardo Coimbra assumiu sempre uma posição de discussão e de crítica perante o saudosismo e o futurismo. Quando, pela exaustiva análise dos livros do filósofo reconhecermos como temática central a humilhação e a exaltação do homem na antropologia cristã, e procurarmos qual o poeta contemporâneo que mais altamente exprimiu a relação do Homem com Deus, ser-nos-á lícito aproximar do nome de Leonardo Coimbra o nome de José Régio. Não é um caso de filiação literária, nem de influência cultural, mas de involuntária concordância entre dois peregrinos que no mesmo mistério encontram e haurem a autenticidade e a originalidade.»[47]
– A «“Filosofia Portuguesa” não é mais do que ciências sociais (por vezes pobres, ignorando dados adquiridos das ciências sociais coevas, feitas à margem de uma metodologia rigorosa», o que só por si já basta para se ver até que ponto execrável vai a ignorância do senhor Onésimo perante quem, no apropriado âmbito da filosofia nacional, se deu inclusivamente ao cuidado de sublinhar que a «sociologia, de inspiração alemã, é uma tecnologia da densificação dos impedimentos às relações humanas, explicável pela inteligência do mal.»[48] Ou de que «Filosofar é desenvolver a aptidão humana para o conhecimento supranormal.»[49] E, last but not least, o de que a haver um prisma social propriamente dito, ele antes magistralmente se rege pelo que ora se segue:
«O indivíduo poderá ver, e a sua intuição mais alta garante o valor do sistema de conhecimento; mas não basta ver: importa, além disso, saber mostrar, efectuar ciência, e por isso o problema da filosofia portuguesa adquire um aspecto social ou, seja, escolar.»[50]
Enfim, decerto sabemos que muito do que até aqui temos visto se há-de afigurar ao detractor contumaz da filosofia portuguesa como algo de per si inconsequente, quando não mesmo atreito a «exageros megalómanos» e a «afirmações perentórias (sic) que não poderão tomar-se como metáforas ou força exigida pelo tom de manifesto de alguns desses escritos ou pela prosa poética de outros.»[51] Não obstante, convém, pois, na esteira de Álvaro Ribeiro, ter espiritualmente presente como a superioridade da filosofia portuguesa poderá efectivamente ser surpreendida e oportunamente revelada na tradição veiculada pela língua multissecular de um povo etnicamente singular:
«Os documentos gravados ou escritos,
obras de letrados, poderão representar o paradigma cultural oferecido à língua,
visto que a língua é um orgão de cultura, mas não representam a língua tal qual
se fala na respectiva época. Há, pois, que estudar a história étnica e a
história política antes da história linguística. A dificuldade que ainda hoje
existe em determinar os povos que habitaram o território que de há séculos se chama
Portugal, e consequentemente a dificuldade de determinar os seus hábitos
fonéticos, deixam insolutos muitos problemas da adaptação dos povos analfabetos
à progressiva latinização do nosso vocabulário, da nossa sintaxe e da nossa
lógica.
Considerando que esta faixa ocidental da
Península Ibérica foi colonizada e povoada por gente de línguas semíticas com
as suas características de pronúncia e de flexão, não podemos deixar de estudar
os vestígios que essa tradição deixou
em todas as fases históricas da língua portuguesa. Deve-se a Teixeira de
Pascoaes a doutrina admirável acerca do equilíbrio entre o elemento semita e o
elemento árico na formação da mentalidade portuguesa. Há que estudar, primeiro,
as línguas dos povos que estiveram nesta faixa da Península Ibérica se
quisermos constituir a sério a filologia portuguesa, e devemos deixar para
segunda fase a comparação com o latim e com as línguas românicas, segundo a
metodologia de Além-Pirenéus e de Além-Reno.»[52]
Plandemia 2020: o afunilamento da língua, a nova engenharia antissocial e a manipulação genética
No que especialmente respeita à simplificação da língua com vista a alterar, corromper e suprimir os aspectos espirituais do pensamento, coube a António Telmo chamar a atenção para o que, na flagelante escuridão do nosso tempo, mais importa saber:
«Benjamin Lee Worf ensina também que “cada língua tem as suas estruturas próprias que constituem o seu aspecto formal, a sua gramática”[53] pelo que pensa-se diferentemente conforme se muda de língua. As estruturas profundas de Noam Chomsky[54] a esta luz, aparecem como uma redução até aos esquemas mais simples das línguas indo-europeias que coincidiriam com as ideias inatas postuladas por Descartes. Atingir os mesmos resultados com análogo procedimento nas línguas semitas ou nas línguas ameríndias é impossível, pelo que se frustra a tentativa de Chomsky de determinar um pensamento universal. O movimento que hoje se verifica a favor do ensino nas escolas da “gramática generativa” (se dão licença, da gramática gerativa) faz suspeitar de qualquer “manobra” (mais uma palavra eficaz derivada de mão) contra a singularidade das línguas, aproveitando a voga do estruturalismo que, convém não esquecer, reúne várias tendências, algumas até opostas.»[55]
Por outro lado, também Orlando Vitorino, ademais atento à destruição civilizacional levada a cabo pelo socialismo invasor, deixara entrever até que ponto poderá ir a programada degenerescência da língua pátria, a saber:
«A abolição das diferenciações naturais que a unificação do ensino implica, estende-se também às diferenciações espirituais. É o que acontece, para só darmos um exemplo, com o que se está passando neste momento quanto à orientação dos professores no sentido de adoptarem as concepções do linguista americano Chomsky. Fundamentalmente, trata-se, aí, de negar as características e o poder cognitivo das línguas nacionais, reduzindo as suas singularidades ao que entre todas elas há de comum: uma abstracta estrutura universal que, por sua vez, se reduzirá ou se evanescerá numa estrutura lógica da mente humana que Chomsky – interpretando levianamente Descartes conforme E. Gilson lhe mostrou com paternal bonomia – confundiu com as “ideias inatas”. Esta linguística de Chomsky teve, como o ensino unificado, a sua época efémera, os filólogos procuram hoje, segundo as mais remotas concepções, a relação das categorias gramaticais com as categorias lógicas, segundo uma linha que ascende de Lee Worf a Sapir. Tem, por isso, uma dramática ironia assistirmos aos esforços que o Ministério da Educação, com os seus pomposos e sapientes universitários, está realizando para impor um linguista, tão rapidamente ultrapassado já, aos professores que, nas escolas secundárias, têm a seu cargo o ensino da língua pátria.»[56]
E, nisto, eis então que o senhor Onésimo mais uma vez quase nos surpreende com sua recorrente prosápia semi-sapiencial:
«Não foi só em Portugal que a hipótese de Sapir-Whorf circulou com foros de tese. Os regimes totalitários atribuem às palavras essa capacidade de serem responsáveis pelo pensamento. George Orwell, no seu 1984, demonstrou à saciedade o ridículo de tais pretensões.»[57]
Ora aqui novamente se equivoca o excelentíssimo catedrático, na medida em que George Orwell, mediante apêndice à sua famigerada obra, nos diz precisamente o contrário no que relativamente concerne aos ditames do socialismo no domínio determinante da palavra sobre o pensamento:
«A novilíngua era a língua oficial da
Oceânia e fora concebida para satisfazer as necessidades ideológicas do Socing,
ou Socialismo Inglês.
(...) O propósito da novilíngua pretendeu não apenas proporcionar um meio de expressão para a visão do mundo e os hábitos mentais específicos dos adeptos do Socing, mas também tornar impossíveis todas as formas de pensamento. Pretendia-se que, quando a novilíngua fosse definitivamente adoptada e a velhilíngua caísse no esquecimento, todo o pensamento herético – isto é, qualquer pensamento divergente dos princípios do Socing – se tornasse literalmente impensável, pelo menos na medida em que o pensamento depende da palavra.»[58]
Por
outras palavras, a induzida ininteligibilidade da linguagem e sua concomitante degenerescência,
não corresponde de todo à abusiva formulação de que as coisas mudam de nome, mas o nome não muda as coisas.[59]
Não percamos, pois, tempo imprescindível com exemplos fúteis e ocasionalmente redutores
que possam vir de terceiros, para então irmos directamente à questão subjacente
que inevitavelmente perpassa numa obra de ficção cujo maior proveito consiste,
nas palavras de Álvaro Ribeiro, «em obter a demonstração de que seria absurdo
e, porque absurdo, cruel, um mundo regulado e regulamentado por homens
destituídos de virtudes teologais»[60].
Ora, o antecipado mundo orwelliano
encontra-se já hoje perfeitamente patente no globalismo anti-humano agenciado e
propalado pela Organização das Nações Unidas, por acção da qual vem sendo finalmente
concertada a novilíngua para melhor garantir a consolidação de uma nova arquitectura
mundial baseada em organizações multinacionais centradas em sistemas globais de
controlo e identificação digital. Contudo, a novilíngua emergente não se traduz
simplesmente no “politicamente correcto”, expressão estereotipada e assaz simplista
que nada explica quanto ao objectivo último da degenerescência no plano da ciência
linguística, uma vez que tal objectivo se traduz essencialmente por obter a
anulação da vida humana instintiva, afectiva e racional. Aliás, a expressão
hodierna que melhor espelha essa anulação pode ser formulada nos seguintes
termos da revolução mundialista: a liberdade de expressão é “discurso de ódio”
e o “discurso de ódio” é liberdade de expressão.
O que mais imediatamente ocorre salientar sobre o sentido e o porquê da presente novilíngua, é o de que ela só será justamente compreendida mediante a actual sobreposição de esquemas interligados de integração multilateral, consoante assim o preconizam os arquitectos da unificação global.
Nessa medida, o multilateralismo consiste
sobretudo em somente se poderem tomar decisões
globais que impliquem fundamentalmente a coordenação ou, que o mesmo é
dizer a comparticipação coerciva dos vários governos no sentido de não
mais poderem vir a decidir unilateralmente seja o que for enquanto estados soberanos e independentes. Por conseguinte, a “governança global” significa o “governo mundial”, o “desenvolvimento sustentável”
significa o “controlo da população mundial”, os “países em vias de desenvolvimento”
significam os “regimes autocráticos do terceiro mundo”, os “direitos humanos”
significam a “propagação do aborto, da eutanásia, da ‘ideologia de género’ e a
consequente transsexualização das crianças, bem como a já previsível
legalização da pedofilia”[61], ao passo que as “alterações climáticas” significam o “domínio tecnocrático à escala planetária,
acrescido do eco-geo-genocídio” e tudo o mais em nome da salvação do planeta e da instauração de uma “teologia verde” controlada e financiada
pelo complexo industrial climático.
Verificado um tal facto incontornável, é caso para frisarmos que, numa primeira fase, não só as coisas mudam de nome como o nome, operando ao nível das consciências, ou das mentalidades, como preferem os sociólogos, muda ou transforma efectivamente as coisas para sobre elas mais directa ou indirectamente influir. Depois, numa segunda fase, dá-se um inesperado fenómeno operado em todo o século XX no âmbito da linguagem económica, social e política, nomeadamente aquele que se traduz no desmedido aparecimento das expressões abreviadas, como por exemplo: ONU, UNESCO, FAO, UNICEF, OMS, OCDE, CECA, CEE, EAEC, GATT, NATO, BIRD, FMI, BCE, UE[62], etc. Ora um tal fenómeno consiste essencialmente no seguinte: por um lado, no uso e abuso de abreviaturas que nessa medida reduzem consideravelmente qualquer forma de pensamento sobre o amplo e profundo significado das organizações euro-globalistas em causa, por outro no surgimento de uma pronúncia fácil, geralmente acessível a uma maioria raciocinante que por via escolar e universitária susceptível se mostra para adoptar, com sua áspera sonoridade, um esboço de linguagem sacudida e monótona devida a um tipo de elocução rápida em que a fealdade se insinua tanto quanto possível independente da consciência. Por fim, numa terceira fase, instaura-se um processo irreversível de cabal limitação da linguagem que vai precisamente no sentido da supressão de todas as palavras que por si só encerrem a mínima ressonância possível no espírito do falante, e, por consequência, na emissão localizada da linguagem ao nível da laringe, tal qual um automatismo canalizado à margem dos centros nervosos superiores, consoante, por seu turno, já o assinalara George Orwell.[63]
Entretanto, tem-se dolorosamente debatido o ano de 2020 com uma “pandemia” atribuída ao coronavírus da síndrome respiratória aguda grave, ou SARS-CoV-2. Todavia, tudo parece indicar que a chamada pandemia encontra-se bem mais no plano da política mundialista do que no plano propriamente dito da prevenção e segurança sanitárias, até porque ainda não foi dito até à data qual tenha sido a origem precisa, cientificamente validada, do já consagrado “Vírus Chinês”[64], ou “Kung Flu”[65], segundo Donald J. Trump. Certo é, porém, que a China comunista conseguiu de algum modo, em colaboração com os poderes e organizações mundialistas, exportar para grande parte do mundo um amplo e delineado conjunto de medidas draconianas[66] supostamente destinadas à contenção de uma doença infecciosa que ainda está longe de estar cientificamente explicada e rigorosamente definida[67].
De resto, um tal esquema não seria
decerto possível se os orgãos noticiosos de pura desinformação deixassem de, hora a hora, em dias consecutivos, semanas e meses a fio,
reiteradamente incutir e produzir o pânico e a histeria colectiva mediante o
emprego sistemático de uma linguagem insidiosa especialmente centrada no
controlo psicológico total das populações ora ignaras e submissas, ora levianas
e inermes. E quem diz controlo psicológico total diz igualmente infindável e
completo controlo de cada aspecto da vida
dessas mesmas populações[68]
em termos nunca antes vistos na história da humanidade. Nisto, não há, pois,
que duvidar dos tenebrosos intentos que subjazem ao unimundialismo invasor: testar[69], localizar, separar, isolar, vigiar,
monitorizar, regular, fiscalizar, policiar e incriminar em nome da cabal protecção
e da máxima segurança ao cidadão do mundo.
As novas “regras” visam, portanto, um
conjunto programado e longamente premeditado de consecutivos passos, que se
diriam antes transições quase imperceptíveis para a multidão dos enganados
enganosos, e, desse modo, algo que no porvir remete para algo de proporções
inauditas, senão mesmo de contornos absolutamente cruéis e inconcebíveis para a
natureza humana mais comum e ingénua. Referimo-nos, pois, ao surgimento já
iminente do que poderemos chamar o homem-máquina,
de que a chamada digitalização da existência humana é apenas, com o crescimento
exponencial da robotização, o sombrio prenúncio de algo que doravante implicará
a premente necessidade de destruir para sempre todos os possíveis laços de
pensamento e sentimento, todas as relações sociais e familiares, amorosas
inclusive. E daí se explique que é no domínio da chamada educação, como no
domínio da não menos chamada assistência à velhice que o processo terá
sobretudo e primeiramente lugar. Em suma: separar as velhas gerações das gerações
novas (avós, pais e filhos), para então mais facilmente se poder implementar a
nova engenharia antissocial que estará na sequente origem, por assim dizer, da
engenharia genética[70] destinada
à produção de organismos cibernéticos – os ciborgues – em tudo impessoais,
estranhos e desde logo futuristicamente incompatíveis com o Homem de Sempre[71].
Já prevendo ou antecipando esta dolorosa catástrofe para o destino espiritual da humanidade, refira-se o pertinente testemunho do próprio Aldous Huxley:
«Entretanto, forças impessoais sobre as quais não temos controlo parecem estar a empurrar-nos a todos na direcção do pesadelo do tipo do "Admirável Mundo Novo"; e este impulso impessoal está sendo conscienciosamente acelerado por representantes de organizações comerciais e políticas que desenvolveram um número considerável de novas técnicas de manipulação, em proveito de interesses de uma minoria, dos pensamentos e sentimentos das massas. As técnicas da manipulação serão discutidas em capítulos seguintes. De momento, confinemos a nossa atenção àquelas forças impessoais que estão presentemente fazendo o mundo tão extremamente inseguro para a democracia, tão inóspito para a liberdade individual. Que forças são estas? E por que fez tão velozmente um avanço em nossa direcção o pesadelo que eu havia projectado no século VII d. F[ord].? A resposta a estas interrogações pode começar onde a vida de todas as sociedades, até das mais altamente civilizadas, teve os seus começos - no plano da biologia.»[72]
Não há, pois, nenhuma dúvida de que a
sustentada destruição económica[73], financeira,
mental e emocional em curso está a ser maquiavelicamente orquestrada em nome do
alardeado combate ao chamado “Vírus Chinês”. Isso torna-se, aliás,
particularmente claro em muitas das cidades norte-americanas subjugadas à
caótica liderança dos democratas, cidades essas que foram ou vêm sendo sujeitas
a um sucessivo plano de confinamentos nunca antes vistos em toda a história dos
EUA, e que já consequentemente levaram à destruição de inúmeros negócios e toda
a sorte de actividades socioeconómicas indispensáveis e jamais “não-essenciais”
para o bem-estar e até para a sobrevivência de pessoas, famílias e comunidades inteiras.
E não é que, no rescaldo do isolamento draconiano obrigatório, os governadores,
presidentes de câmara e demais oficiais locais e estaduais apelaram,
incentivaram e justificaram, após a morte de George Floyd pela polícia em
Minneapolis, toda uma onda de protestos[74] a
pretexto da luta contra o “racismo sistémico” e a “supremacia branca”[75], que
já ora se traduziu numa série indescritível de continuada violência, desordem e
premeditado assassínio, ora numa avalanche de saques, depredações e planeada destruição
da propriedade pública numa altura em que supostamente o combate ao novo coronavírus
constituía a prioridade única e exclusiva. No mais, a onda destruidora de vidas
e haveres encontra-se toda ela impregnada de revolucionários estrategicamente
treinados em já velhas tácticas de subversão comunista destinadas à destruição
dos Estados Unidos da América[76],
e adrede financiadas por bilionários[77]
ligados ao Deep State e seus aliados
profusamente espalhados pela grande indústria mediática e pelas várias agências
governamentais da comunidade de inteligência nacional.
Ora, a esses mesmos revolucionários subjazem os mais variados movimentos
terroristas, entre os quais se destacam o de índole marxista, Black Lives Matter (BLM), e o de pendor anarco-comunista
aparentemente antifascista, Antifa. O
primeiro desses grupos, alardeando defender a comunidade negra, não só se tem
mostrado cabalmente indiferente quanto ao assassínio de polícias negros, como
ainda faz orelhas moucas quanto ao número de vidas negras ceifadas pela poderosa
indústria do aborto, bem como aos milhares de negros assassinados às mãos de
negros, mais particularmente na cidade democrata de Chicago onde o crime
campeia a olhos vistos. Nisto, a chamada Comunicação Social em Portugal, uma
das mais impunes e prostituídas do mundo, tem feito valer o seu silêncio
sepulcral perante a onda de violência revolucionária nos Estados Unidos,
encarando-a, no geral, como “protestos pacíficos” levados a cabo contra o
racismo, os direitos humanos e a xenofobia, pese embora por vezes timidamente
foque os efeitos mais nefastos da nova revolução comunista no outro lado do
Atlântico para com a maior cara-de-pau a atribuir aos reais, supostos e
imaginários desmandos verbais do Presidente Donald Trump, como, aliás, assim
procedem os incendiários do Partido Democrata norte-americano para de si
próprios desviarem a sua actividade criminosa mais directa ou indirectamente
perpetrada contra o povo americano.
Neste ponto, à lenta, sistemática e possível transposição da realidade revolucionária dita americana para o resto do planeta, corresponde certamente o principal desiderato do establishment político e financeiro mundialmente dominante a fim de completamente destruir as estruturas já residuais da chamada civilização ocidental, bem como a de suprimir de uma vez por todas qualquer indício de liberdade individual venha ela donde vier. Por outras palavras, a subversão revolucionária nos Estados Unidos, servindo de paradigma progressista a todo o mundo, consiste num movimento de base fundamentalmente dirigido à permanente revolta, desordem e desunião dos americanos para assim ser oportunamente conjugado com um movimento de topo representado pela mais impante burocracia globalista instalada nos círculos geralmente imperceptíveis do chamado Deep State. Assim, entre a guerra de todos contra todos e o lockdown draconianamente imposto a quase todo o planeta, tudo, pois, concorre para a inegável implementação do novo supergoverno mundial, e se necessário à custa do genocídio à escala não menos planetária.
Se o homem aspira à liberdade do
espírito que lhe é intrinsecamente próprio, a educação não pode nem deve jamais
quedar refém da frenesia que particularmente define o cálculo linear e
utilitário dos homens práticos. Por isso ademais se compreende que a escola tenha
no geral constituído até aqui uma máquina de incessante condicionamento
ideológico das consciências juvenis, quanto mais não seja por o processo
educativo se encontrar subordinado, na sua quase totalidade, aos interesses
mais imediatos, mais urgentes e até mais nocivos da sociedade colectivista
hodierna. Ora, como se isso já não bastasse até ao limite da insanidade institucionalizada, eis
que o inflacionado “Vírus Chinês” ameaça agora, justamente por intermédio dos
agentes políticos criminosamente irresponsáveis, assim como pelos técnicos,
peritos e burocratas da saúde sem rosto e demais árbitros oficiais da verdade
científica, exercer sobre as crianças e os jovens estudantes um impiedoso quão horrível
constrangimento ao nível do relacionamento afectivo, social e dialogante no
movimento que vai de espírito a espírito.
Assiste-se, pois, perante a indolência
geral, acrescida pelo temor alarmista dos pais induzido pelos orgãos de intoxicação e infecção sociais[78],
a uma transformação acelerada dos recintos escolares em termos de uma total reorganização
do espaço envolvente, além de uma recorrente mobilização de novos recursos humanos
e tecnológicos, e, como tal, da forma de ensinar[79] a
que se tem dado a sinistra designação de “o novo normal”. No
que objectivamente consiste este “novo normal” e para onde verdadeiramente nos
conduz pouca gente o sabe na realidade, muito embora estejamos todos assistindo
ao planeado surgimento de um ambiente que de dia para dia, semana a semana, mês
a mês, se torna cada vez mais irrespirável, asfixiante mesmo devido ao uso
obrigatório de máscaras cirúrgicas e outras variantes espúrias afins, ao dito
“distanciamento social”, à proibição de “ajuntamentos”, à organização desfasada
dos horários, dos intervalos e dos períodos de refeições nas escolas, à
mobilidade totalmente condicionada mediante assinalados trajectos de
circulação, pontos de espera e lugares a ocupar nas salas de aula, nos
refeitórios[80],
balneários, papelarias, bibliotecas, locais de convívio e em todos os espaços
públicos em geral; depois assistimos ainda ao condicionamento da actividade física basicamente reduzida
a exercícios individuais, à criação generalizada de “áreas de isolamento” e a
medidas de “isolamento de contactos” que à partida estiveram próximos de casos
suspeitos, ao levantamento de barreiras físicas de material acrílico, ou até
mesmo à instalação de um sistema de vigilância com câmaras de vídeo, enfim, um
mundo completamente insano em que a liberdade individual e a vida colectiva
desapareceram de todo. Recorrente justificação: a necessidade imperiosa de
aplanar, achatar ou controlar a curva pandémica. Respectivo slogan das autoridades ditas sanitárias:
“Todos somos agentes de saúde pública”. Tradução: “Todos somos eventuais responsáveis e denunciantes da suspeita liberdade individual, assim como do mínimo
vestígio de reunião, associação e convivência social”.
Ora, este pesadelo totalitário encontra-se,
de facto, sob o comando de um movimento globalista fundamentalmente apostado,
na presente era ultra-tecnológica, em varrer de uma vez por todas da superfície
do planeta todos os direitos, liberdades e garantias individuais em prol de um
colectivismo oligárquico mundialista. No fundo, a instauração de um superestado
panóptico à escala planetária só terá realmente lugar mediante o apagar da
personalidade humana, e, quem diz da personalidade humana, diz do princípio de individuação
particularmente latente no composto humano. O uso indiscriminado, obrigatório e
compulsivo da máscara tem, por um lado, um simbolismo muito especial no âmbito
da realidade vivida, na medida em que representa a desumanização operada ao
nível do rosto, não por acaso a imagem
distintiva da singularidade propriamente dita[81].
Por outro, o uso generalizado da máscara comporta em si mesmo um sentido
eventualmente traduzível na coisificação da natureza humana, já que reduz o ser
humano a qualquer coisa de incaracterístico, disfuncional, “não-essencial”,
descartável, portanto.
Curiosamente, a anuência das massas
quanto ao uso da máscara tem largamente correspondido ao ignóbil chamamento
contínuo por parte dos governos e da indústria mediática tanto ou mais doentia como extremadamente perigosa para o propalado bem comum, pelo que assim nos é dado concluir que, fora algumas
excepções violentamente reprimidas, o uso da máscara tem sido geral e servilmente
acatado sem que tenha sido necessária a intervenção das autoridades
policiais com vista ao cumprimento de uma tal medida já de si manifestamente
inconstitucional. Aliás, tal não seria jamais possível sem a premente pseudo-cultura do medo, da intimidação e do pânico que leva
necessariamente à inquestionável e incondicional obediência para com as
autoridades governamentais autocráticas, e, no lance, à progressiva delação de
toda e qualquer dissidência por mais aparente ou real que seja. Tudo concorre,
alfim, para um permanente estado de
emergência[82],
mormente justificável com base numa alegada crise monumental sistematicamente
explorada e periodicamente agravada.
Há, no entanto, quem ingenuamente pense
que a onda crescente de medidas restritivas terá apenas um carácter provisório
no combate à “pandemia”, ignorando assim que as forças políticas e sanitárias
do porvir jamais largarão tais medidas no mentiroso intuito de prevenir futuras
pandemias alegadamente ligadas à agenda globalista do alarmo-ambientalismo, a
que também não será inclusivamente estranha a componente da chamada “justiça
social e racial” a que doravante acrescem os fluxos migratórios dinamizados à
sombra do Pacto Global das Migrações ditas ordenadas, seguras e regulares pela
Organização das Nações Unidas[83].
Em Portugal, à imagem do que se tem geralmente passado no resto da Europa em
queda vertical, tem sido, de facto, paulatinamente destruído mediante decisões claramente políticas o frágil
tecido socioeconómico com a agravante de paralelamente se descurarem os
cuidados preventivos e os tratamentos médicos de um número cada vez maior de
portugueses que, logo inibidos de se deslocarem às clínicas e hospitais, vêem
os seus problemas cardiovasculares, oncológicos e outros mais estranhamente
relegados para as trevas do inexistente. E, nisto, não há nem podem haver
dúvidas quanto à inadiável responsabilidade anti-humana e sobejamente criminosa
das instâncias políticas e da máquina mediática num processo que tem sobretudo
contribuído para a sistemática destruição da vida material[84] e
espiritual colectiva, configurada aliás na eventual impossibilidade da realização
condigna de funerais dos entes queridos, assim como na separação compulsiva,
voluntária ou involuntária, entre membros da mesma família não somente
dispersos por lares de idosos transformados em lugares de isolamento cruel e
desumano, como também indefinidamente encerrados em espaços próprios sem
nenhuma esperança à vista.
A nova sociedade globalista que já aí está diante de tudo e de todos com suas implacáveis formas de servidão política, socioeconómica e psicológica, não é por definição inclusiva. Muito pelo contrário: é toda ela impelida a excluir tudo, mesmo tudo o que não se lhe submeta. E é precisamente nesta encruzilhada que se antevê a possível solução com vista à neutralização de tão horrenda, cruel e desumana sociedade. Aquele perfil exclusivo, marcadamente divisionista, é, nada mais nada menos, o seu calcanhar de Aquiles. Por outras palavras, a neutralização de semelhante perfil depende essencialmente da inabalável presença de espírito numa altura, infelizmente, em que tudo o mais propende a ruir à nossa volta, nunca assim desistindo e soçobrando para que não percamos de todo a verdadeira consciência do inimigo com que por ora nos deparamos e teremos concerteza que enfrentar directa e corajosamente: a tecnocracia global.
A Grande Deturpação
No capítulo intitulado «Valores e ideologia do salazarismo – ou o imaginário de duas gerações», o senhor Onésimo como que se julga fadado a desconstruir umas das piores mistificações do século XX português[85]. Ora, o seu ponto de partida é este:
«Uma análise comparativa do conteúdo dos manuais escolares de Leitura e Estudos Sociais de qualquer época revelam a que ponto eles refletem [sic] as ideologias dominantes do tempo que serviram. É fácil detetar [sic], na maioria das páginas desses compêndios, intenções sub-reptícias (seja a nível do consciente, seja do inconsciente) para modelar a estrutura mental do estudante e prepará-lo para aceitar os valores e as ideologias de um determinado grupo ou classe, ou pelo menos dos poderes que supervisionam os ditos currículos. É o que se chama “doutrinar”.»[86]
Pois bem: findo um tal discorrer de
intenções não menos sub-reptícias, eis que o autor passa então,
conscientemente, diga-se de passagem, a empreender «um olhar de relance sobre
um livro de leitura das décadas de 50, 60 e 70 do século passado», à guisa de
lhe permitir, à distância, como quem diz objectivamente, «estabelecer mais
facilmente um confronto com os valores hoje dominantes em Portugal.» E mais
acrescenta: «Escolhi precisamente O Livro
da Terceira Classe[87].
Era o Livro Único, aprovado oficialmente, usado em todo o Portugal,
nas Ilhas e nas Colónias ultramarinas, naquele grau de ensino primário
elementar.»[88]
Depois, esmiuçando uma ilustração a cores que na página de abertura se reproduz com destaque central para o escudo português simbolizando a Pátria, Onésimo assinala finalmente a ideologia reaccionária implícita para no lance, recorrendo à ilustração de poemas «da autoria de um ideólogo artístico do regime salazarista, António Correia d’Oliveira (1878-1960)», denunciar, minorar e ridicularizar a “pobreza honrada”[89] e a vida campestre bucólica e profundamente idílica enquanto traços ideológicos tipicamente característicos da terrível ditadura salazarista. Cita, para o efeito, vários textos do livro oficial, dentre os quais vale a pena transcrever aquele que o próprio sinistramente qualifica nos termos dum «forte manifesto anti-Malthus», a saber:
«Orgulho de mãe
A Maria da Várzea chegava da horta.
Trazia à cabeça uma cesta com feijão-verde, cenouras, pimentos, couves e nabos,
e, ao colo, um filhinho ainda de leite. Na sua frente corria, já em direcção a
casa, o Manuel, de cinco anos.
Ao vê-la chegar cheia de cansaço e logo
rodeada pelos outros quatro filhos, que tinham ficado em casa sob a direcção da
mais velha, a senhora D. Arminda, de Lisboa, que estava a passar as férias na
aldeia, não pôde conter-se que não dissesse:
- Que pena me faz, senhora Maria da Várzea! Ainda tão nova e já com tantos filhos e tantas fadigas! Eu tenho um, e já me dá que fazer.
Resposta pronta:
- Pois eu, com tanto trabalho e tantos filhos, sinto-me muito feliz, minha senhora. É a vida das mulheres casadas cá da nossa aldeia. Os filhos e as canseiras que eles nos dão é que são a nossa riqueza. É por eles que nós somos felizes.»[90]
Assim expostos tais «instrumentos de eficaz doutrinação», eis senão quando o senhor Onésimo, na frescura do seu progressismo avant la lettre, cita ainda uma «estudiosa da Educação» para ficarmos a saber, naquele tom e sanha semi-expressiva dos revolucionários de «Abril», no que consiste o sistema educativo salazarista:
«[...] o familialismo untuoso, o bucolismo decrépito, a terna colaboração de classes, o irracionalismo patrioteiro, o culto da ordem e asseio, a vocação asséptica que evita a catástrofe sempre iminente, o academismo pedante, a sufocação pedagógica.»[91]
Segue-se, ademais, o antifascismo obsidiante do intelectual açoriano, nomeadamente ao equacionar, no domínio educativo, fascismo e salazarismo[92]. Aqui, de um imperdoável erro de palmatória se trata, até porque o autor limita-se a pressupor, como já atrás vimos, «valores hoje dominantes em Portugal» sem que no seu escrito nos diga absolutamente nada sobre a que valores mais concretamente se refere[93]. Mas nós entretanto podemos ensinar-lhe que de valores não se tratam desde há muito tempo para cá, de modo que a sua afirmação de que as escolas «promovem sempre alguns valores», se porventura alguma verdade encerra até aos idos da revolução comunista de 1974, certo é que depois disso nada mais foi realmente o mesmo no que profundamente respeita a uma linha mais ou menos ininterrupta de valores pátrios comuns.
Ou seja: com o saneamento e as «destruições pelo fogo de um número incalculável de livros existentes em bibliotecas de estabelecimentos de Ensino»[94], logo perpetradas na sequência da chamada "revolução dos cravos", uma marca indelével, simbólica mesmo, doravante manchou a cultura portuguesa ao ponto de amiúde deturpar a fisionomia histórico-espiritual da Pátria etnograficamente difundida pelo mundo inteiro. Um tal lúgubre simbolismo igualmente transparece em Franco Nogueira, quando em dada entrevista mais particularmente disserta acerca do combate cultural entre os sectores mais jovens:
«Recordo-me de que um jornal, cujo nome não cito, publicou em Maio de 1974 um artigo condenando as touradas, por alienantes, que terminava assim: “o primeiro fascista português foi Afonso Henriques”[95]. Recordo-me de uma emissora dizer que Camões fora um poeta menor ao serviço dos imperialistas[96].»[97]
Nisto, a pertinente ressonância destas
palavras perpassa sobretudo no facto de a cultura portuguesa estar, tanto ontem
como hoje, sob o ataque cerrado de partidos, movimentos e facções
político-culturais de extrema-esquerda que sobremaneira tentam e, de facto, logram deturpar e vilipendiar uma tal cultura quer no que relativamente respeita à
colonização portuguesa na África, Ásia e Novo Mundo, quer no que paralelamente concerne à
insidiosa militância revolucionária apostada na divisão racial dos portugueses
com vista, por um lado, à obtenção de dividendos materiais e de património
histórico em nome de compulsivas compensações por alegadas injustiças cometidas
por Portugal no passado, por outro à conquista do poder absoluto estritamente
baseado em intimidatórias movimentações de rua de que o mais recente
incitamento ao derrube de estátuas constitui certamente um exemplo indesmentível.
Ora, aliando a isto a loucura globalista sistematicamente inoculada
por esse mundo fora, não será então muito difícil adivinhar a razão por que os valores
quinto-imperialistas de um povo, de uma cultura e de uma Pátria tão singular
como a portuguesa se encontram nos dias de hoje praticamente subjugados a um
internacionalismo tão fictício como perigosa e cabalmente ruinoso.
Já num passado relativamente distante, terá ainda curiosamente dito o professor catedrático fitando em agonia o fantasma do salazarismo:
«Os valores impregnam tudo o que fazemos, porque ditam as nossas opções, das mais profundas às mais epidérmicas. Ignorar esta realidade básica é tão grave como supor que a ideologia veiculada por um livro escolar vai, inevitável e irremediavelmente, formatar o cérebro e o coração de uma criança.»[98]
Enfim, caso ele próprio tivesse sabido prever por meio de aturado estudo o euro-mundialismo enquanto sistema enquadrado por sucessivos governos, escolas, universidades e quejandas instituições permeáveis à estranja, então a conversa já seria outra. E, caso assim realmente fosse, não mais deixaria de valorar a língua como uma entidade espiritual única para, no lance, ver ainda como a filosofia portuguesa constitui, de facto, o movimento espiritual mais importante da cultura portuguesa, e, já nessa especial acepção, o movimento geracional – e jamais o grupo – que saberá efectivamente prosseguir num caminho ascendente capaz de superar os capciosos agentes da Grande Deturpação em curso. Que o diga, em suma, Orlando Vitorino, em jeito de profiláctica introdução em domínio que já a poucos será dado inteligir, mormente no que aos pressurosos gabirus da direita e da esquerda dirá particularmente respeito:
«A contribuição marxista para a
deturpação da cultura portuguesa foi feita através de uma organização de
escritores, jornalistas, professores e editores que recebeu a designação,
primeiro, de "novo humanismo" (cujas manifestações foram coligidas
num livro que se deixou esquecer, Por um
Novo Humanismo, da autoria de Rodrigo Soares, pseudónimo de um professor da
Universidade de Coimbra) e, depois, de "neo-realismo".
Augusto da Costa Dias, recentemente
falecido, descreve-nos, num livro editado em 1975 com o título de Literatura e Luta de Classes, a história
deste neo-realismo. Logo em 1930, "à nascença - diz-nos Costa Dias - o
neo-realismo é contemporâneo dos primeiros esforços para a reorganização do
partido comunista e destina-se a ser a sua expressão na batalha cultural e
ideológica" (p. 65). É neste sentido que actua e se desenvolve. Faz da
"sua imprensa uma via de difusão das consignas políticas" (p. 73),
"combateu as ideologias e filosofias burguesas (que se situavam) à margem
do fascismo, sem compromissos mas também sem conflitos com ele" (p. 66);
"difundiu as ideias marxistas na universidade de Coimbra numa data que
podemos calcular entre fins da década de 30 e os dois primeiros anos da
seguinte" (p. 79); "desenvolveu um imenso labor de animação
cultural-política em múltiplos planos: imprensa regional, organização de
bibliotecas, trabalhos em clubes, palestras, cursos, exposições";
"controlava e dirigia colaboração para variadíssimos jornais da
província" e "em comissões, discutia, planeava os temas dos artigos a
enviar, notícias sobre os livros recentes do neo-realismo [...], debatia o tipo
de linguagem mais adequado e acessível [...] recrutava, entre jovens,
divulgadores, escritores que balbuciavam os primeiros passos, para um trabalho
de anonimato, escondido em pseudónimos" (p. 80/81); combateu, entre as
"ideologias e filosofias burguesas", os escritores e artistas
"sem qualquer identidade com a luta de classes" (p. 66), escritores e
artistas que Costa Dias não nomeia mas que são, ou porque são, os que compõem a
teoria da nossa autêntica cultura: os modernistas do Orfeu, como Pessoa, Sá-Carneiro e Almada, os epígonos da Renascença
Portuguesa e os próprios Leonardo Coimbra e Pascoaes[99],
os poetas e romancistas da Presença,
então em pleno vigor especulativo, como Branquinho da Fonseca, Gaspar Simões e,
sobretudo, José Régio, finalmente os pensadores da "filosofia
portuguesa" tendo à frente José Marinho e Álvaro Ribeiro. Sobre os três
primeiros grupos, a sanha da organização obedecia a uma consigna, durante todos
esses anos extensiva a qualquer escritor ou obra independente, que Costa Dias
exprime nestes termos grosseiros: "As suas interrogações (as desses
escritores e artistas) dirigiam-se às cisternas da vida íntima (individual, em
todas as suas fermentações e decomposições onde explodiam e bufavam apenas
angústias, impotências, rebeldias privadas sem qualquer identidade com o
pesadelo da luta de classes" (p. 66). Sobre o último daqueles grupos, a
vesânia junta-se à sanha e Costa Dias orgulha-se de ter sido o bloco marxista
do neo-realismo que impediu os pensadores da "filosofia portuguesa"
de exercerem o magistério, ou apenas a influência, que, a avaliar pelas obras
de Álvaro Ribeiro e José Marinho, o leitor verificará como teria sido
libertador. Deles diz Costa Dias: "Aos homens do neo-realismo se deve o não passarão às filosofias fascistas.
Nunca excederam as fronteiras das suas ilhotas. A sua última tentativa -
"a filosofia portuguesa" de Álvaro Ribeiro, António Quadros, Orlando
Vitorino e consortes [sic] - não chegou a escapulir-se da sua lura de
traficantes de mercado negro ideológico" (p. 85).
Pois bem: todo este trabalho de deturpação era realizado, desde 1930, em pleno domínio "fascista", com censuras, polícias, perseguições de que Costa Dias faz mais uma vez, e muitas vezes, o aparatoso rol e que deveriam, naturalmente, impedir que as suas vítimas, os neo-realistas, tivessem qualquer possibilidade de acção. Ora não foi isto o que aconteceu. O trabalho fez-se durante 44 anos, ininterruptamente, espectacularmente, como Costa Dias descreve e nós sabemos que foi. Durante 44 anos o bloco marxista pesou, omnipotente e esmagador, sobre a cultura portuguesa, e Eduardo Lourenço não podia deixar de ter razão e razões para denunciar, como também Costa Dias nos informa, que "os neo-realistas eram terroristas" (p. 84). Não passará de uma suspeita justificada ou será uma conclusão necessária que um acordo, talvez tácito, mas comprovadamente eficaz se estabeleceu entre os governantes ou o establishment fascista e a organização marxista para a deturpação da cultura? Como, de outro modo, será possível explicar tudo o que Costa Dias orgulhosamente descreve e o mais esconde ou cala e nós ainda não esquecemos? Como sem esse acordo, explicar, por exemplo, que as "filosofias fascistas", como C. Dias diz, pudessem, em tempo de fascismo, serem fechadas "na sua lura" pelos marxistas enquanto estes se exprimiam, expandiam e dominavam com a amplitude que também C. Dias nos descreve? Não era a "filosofia portuguesa" e a liberdade de pensamento da literatura e da arte o temeroso inimigo comum a marxistas e salazaristas? Aliás, o próprio Costa Dias confirma, de algum modo, a existência desse acordo quando se indigna com o facto de "prolongando-se o neo-realismo em manifestações ricas" [sic] desde 1930, os governantes fascistas tenham, nos anos 60, "facilitado a liberdade de imprensa [...] para se declarar [como Eduardo Lourenço fez] que os neo-realistas eram terroristas" (p. 84), o que claramente significa que sem a liberdade de imprensa que os governantes "fascistas" controlavam não seria possível declarar o que o neo-realismo era.»[100]
[1] ...uma filosofia bárbara, talvez uma filosofia portuguesa, marítima e
de todos os continentes, na expressão alvarina.
[2] Cf. O processo das PRESIDENCIAIS 86, Organizado e Publicado pelos
Serviços da Candidatura de ORLANDO VITORINO.
[3] Cf. Onésimo Teotónio Almeida, A Obsessão da Portugalidade, Quetzal
Editores, 2017, p. 54.
[4] A inquinada obsessão
classificativa por grupos logo revela, por um lado, o bem-pensantismo
impensante de quem é absolutamente incapaz de apreender o pensamento
característico das personalidades singulares,
e, por outro lado, a consequente ignorância de que a fecunda vitalidade da
filosofia portuguesa, consoante esclarece Orlando Vitorino, reside «no
desenvolvimento da tese inicial: de problema,
que se tratava de resolver, passou a designação e constituição de uma escola de
filosofia. Do que ainda não há, porém, adequada percepção é a de que esta
“escola” se tornou muito mais de que a afirmação de uma exigência patriótica. A
filosofia portuguesa passou a ser, já
hoje é, a consciência da perpetuidade da filosofia clássica.» (Orlando Vitorino, Um filósofo singular: Álvaro Ribeiro,
Letras & Letras, 5 de Maio de 1993, p. 10).
[5] Idem, ibidem, pp. 51-52.
[6] Idem, ibidem, p. 53. Tendo em conta a alegada superioridade metodológica, conceptual e crítica de postulados duvidosamente científicos, não deixa de ser igualmente sintomática a desfaçatez com que o senhor Onésimo olimpicamente se posiciona perante qualquer filosofema cuja denodada compreensão extravase os seus pressupostos teóricos escassamente fundamentados. Ou seja: se Álvaro Ribeiro, por exemplo, chegou na verdade ao ponto de averbar que a interpretação portuguesa da filosofia de Aristóteles é superior à interpretação alemã, então supostamente estaremos perante um perigoso absurdo sem qualquer respaldo ou fundamentação científica. (Cf. Álvaro Ribeiro, A Literatura de José Régio, Sociedade de Expansão Cultural, p. 99. Ver ainda, neste peculiar contexto, dois trechos de Álvaro Ribeiro citados em A Obsessão da Portugalidade, pp. 153-154). Porém, a coisa já parece ser outra se, uma vez torcendo e retorcendo o repisado tema dos estrangeirados, o senhor Onésimo, não obstante sua argumentação tão habitualmente dissimulada quão assaz sinuosa, se dá ao luxo de sugerir uma certa “inferioridade” da cultura portuguesa tradicional relativamente ao «ideário cultural dominante no Centro e Norte da Europa», nomeadamente quando, abordando o ensaio de Jorge Borges de Macedo, Estrangeirados: Um Conceito a Rever (1979), procede a vários comentários em face dos quais vale pois a pena transcrever o primeiro dentre eles: «”Não existem culturas superiores ou inferiores”, concedamos, mas é sempre possível comparar áreas específicas. Não será difícil dizer que, na área da ciência, da tecnologia, das liberdades civis e da democratização da educação, tudo áreas fulcrais do conceito de modernidade, o Portugal dos séculos XVII, XVIII e XIX não conseguiu acompanhar os países que lideraram o iluminismo.» (op. cit., pp. 276-277). Pois bem: para o nosso modernista não existem nem culturas nem filosofias superiores ou inferiores, mas já entretanto existem certas comparações de ordem aparentemente científica ou até mesmo academicamente legítimas tais as que permitem inferir que a mundividência medieval dos portugueses lá acabou, de alguma forma, por atravancar a mundividência pró-iluminista, e, por conseguinte, suscitar o atraso, o isolamento e o fechamento cultural de Portugal perante o espírito “superior” de desenvolvimento material e científico dos países nórdicos. Fora, aliás, por estas e por outras ambiguidades afins que Orlando Vitorino em boa hora distinguira entre filosofia derrotada e filosofia triunfante, ou, se quisermos, entre a filosofia clássica e a filosofia oriunda das instituições universitárias da Europa Central e do Norte.
[7] Idem, ibidem, p. 52. Fazendo gala do seu antiessencialismo, numa posição aliás comum a autores sapiencialmente menores como Eduardo Lourenço, Boaventura Sousa Santos e Miguel Real, o senhor Onésimo entende por “essencialistas” todos os poetas ou pensadores que tecem afirmações mais ou menos generalizantes, quando não mesmo passíveis de conotação metafísica sobre o carácter ou o comportamento de um povo, ou por demais procedem à generalização de uma só característica como seja a saudade enquanto elemento constituinte da essência ôntica ou quiçá genética desse povo em termos de imutabilidade, inalterabilidade ou puro determinismo supra-histórico (ver op. cit., pp. 75-76, 89 e 170-172). É naturalmente óbvio que tudo isto não tem o menor fundamento, uma vez sabido que a autêntica descrição fenomenológica da saudade tende a situar-se no âmbito do existencialismo enquanto vivência espiritual e meditação amplificante cuja dimensão de reminiscência também pode eventualmente revelar fundas afinidades com a mitologia órfica e a filosofia platónica. Mesmo no que à logica mais propriamente respeita, sobretudo em autores incomparavelmente maiores como Álvaro Ribeiro, a alegada «falácia “é – deve ser”», já entretanto insinuada pelo senhor Onésimo (op. cit., pp. 89 e 175) nos termos de mais um equívoco subjacente à filosofia portuguesa quanto à caracterização genérica ou unidimensional de um povo, representa já de si uma confusão mental por ora susceptível de ser oportuna e facilmente corrigida com base substancial no superior pensamento do filósofo portuense: «A muitos professores se afigura (...) que o pensamento não atinge o grau filosófico enquanto propõe, enquanto não impõe, os seus filosofemas segundo uma metodologia que, além de normativa, seja imperativa, coercitiva, dominadora. A proposição expressa no modo indicativo há-de ser seguida de outra proposição que lhe sirva de prova, para que na sucessão dos teoremas se constitua a teoria. Esses pensadores que receiam o convívio livre e inteligente com as obras dos escritores, preferem ser forçados a ajoelhar perante o despotismo de uma razão necessária e universal.
Tal idolatria será o contrário da lógica. A lógica deixará de ser o estudo do logos, do discurso e da palavra, tal como ela se apresenta na variedade dos esquemas estilísticos e das expressões linguísticas, para ser o estudo de como o pensamento deverá ser, ou deverá apresentar-se, se quiser ser admitido como válido por todos os espíritos da mesma comunidade intelectual. A lógica irá sendo assim contaminada de precisão e de rigor, colhendo os seus modelos na tecnologia e na epistemologia, e depurando-se de todos os elementos emocionais que a linguagem regista na sua expressão espontânea e quotidiana. A lógica será a ciência de rigor que servirá de modelo e de norma a toda a filosofia, sem qualquer relação com o jogo ou com a arte.» (Álvaro Ribeiro, Liceu Aristotélico, Sociedade de Expansão Cultural, 1962, pp. 107-108).
[9] No que ao tradicionalista propriamente concerne, vejamos a sua acepção
superlativa nas admiráveis palavras de Álvaro Ribeiro: «Tradicionalista, como
sou e sempre fui – por muito que pese a quem imagine o contrário, - acredito no
Volkgeist e no folclore, como acredito também no Espírito Santo. Onde e quando se
reúnam homens de boa-fé há-de pairar um espírito subtil, invisível, comum, que
nos anime para a realização de prodígios. Tal é, aliás, o princípio da
assembleia dos fiéis ou, seja, o princípio da Igreja. Eis porque me repugna
aplicar o método individualista da análise luterana ou cartesiana, o livre
exame, no estudo das tradições tão vivas, tão boas condutoras de calor humano e
de calor divino, como é a tradição que agora celebramos. Diz-se que nos Evangelhos poucas palavras garantem
positivamente a narrativa que nos é dada pela literatura popular e,
consequentemente, a beleza etnográfica, para não dizer litúrgica, do culto dos
Reis Magos. Pouco importa que letrados e legistas empalideçam ao fazer a recensão
gramatical das palavras e das letras do texto sagrado. Todos sabemos que para
interpretação das Escrituras Sagradas,
e, particularmente, para a da Bíblia,
temos de adoptar o paralelismo e a simetria dos símbolos, temos de refutar
(quer dizer, de repelir) o esquema técnico da relação exacta entre o
antecedente e o consequente. Deve-se à interpretação histórica, sociológica,
positivista do documento sagrado a oposição moderna entre ciência e religião,
oposição terrível quando se formula no campo da política, e todos bem sabemos
que os maus políticos são filhos dos maus historiadores. Quanto afirmo, em
despretensiosas palavras, está poética, eloquente e admiravelmente demonstrado
numa obra-prima de Novalis cuja leitura recomendo a todos vós: Die Christenheit oder Europa.» (cf. «Os Reis Magos e a Tradição Portuguesa», in As
Portas do Conhecimento – Dispersos Escolhidos, IAC, 1987, p. 133).
[10] Álvaro Ribeiro, Apologia e Filosofia, Guimarães
Editores, 1953, p. 90.
[11] Orlando Vitorino, Manual de Teoria Política Aplicada,
Verbo, 2010, pp. 146-148.
[12] Esta ignorância encontra-se
particularmente plasmada nas indolentes palavras do intelectual açoriano:
«(...) o discurso português não pode simultaneamente exaltar a epopeia dos
Descobrimentos, glorificando o papel de Portugal no estabelecimento da primeira
economia à escala global e reclamando o nosso pioneirismo na globalização do
século XVI e, simultaneamente, insurgir-se contra ela hoje, como se a nossa
tivesse sido boa e a actual demoníaca.»
(op. cit., pp. 244-245).
[13] Onésimo Teotónio Almeida, op. cit., p. 52.
[14] A. J. B. – A única filosofia
admitida pela Unesco. Ensaio publicado in:
Boletim do Ministério da Justiça, n.º 6 –
Lisboa, Maio de 1948.
[15] Álvaro Ribeiro, «Espelho do Pensamento», in As Portas do Conhecimento
– Dispersos Escolhidos, pp. 313-314.
[16] Onésimo Teotónio Almeida, op. cit., p. 52.
[17] Álvaro Ribeiro, «Soloviev»,
Apresentação da tradução portuguesa de A
Verdade do Amor, de V. Soloviev. Lisboa, Guimarães Editores, 1958.
Curiosamente, também Manuel Ferreira Patrício, nosso conterrâneo montargilense,
se equivocou ao estranhamente encerrar o «núcleo dos marxistas portugueses,
muito mais messiânicos do que habitualmente se pensa», no âmbito dos «Filósofos
Portugueses mais significativos, com relevo para os contemporâneos», visto que
nessa mesma duvidosa qualidade também se constituem, a seu ver, como os
principais anunciadores do cenário escatológico e messiânico português. Enfim,
tudo aí conspira na letra e no espírito para a ilusão que tem infelizmente
levado o professor Manuel Patrício a projectar uma imagem essencialmente
obscura e genérica da filosofia
portuguesa. (Ver Manuel Ferreira Patrício, «O Pensamento Português
Contemporâneo no Horizonte do 3.º Milénio», in Arauto de Montargil, 24 de Março de 2000, p. 11).
[18] Onésimo Teotónio Almeida, op. cit., p. 52.
[19] Eduardo Lourenço, in Vértice, Vol. II, f. 7, 1946, p. 157.
[20] Onésimo Teotónio Almeida, op. cit., p. 52.
[21] Orlando Vitorino, «As Teses da Filosofia de Álvaro Ribeiro», in Álvaro
Ribeiro e a Filosofia Portuguesa, Fundação Lusíada, 1995, p. 186.
[22] José Pedro Machado – Breve História da Linguística – Lisboa,
1942.
[23]
Ferdinand Saussure – Cours de
Linguistique Générale. Publié par Charles Bally et Albert Sechehaye.
Troisième Édition – Paris, 1955, p. 33.
[24] Álvaro Ribeiro, Liceu Aristotélico, pp. 91-93.
[25] Onésimo Teotónio Almeida, op. cit., p. 58. O itálico não se encontra no original.
[26] Op. cit., p. 68.
[27] Álvaro Ribeiro, A Razão Animada, Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, 2009, pp. 35-36.
[28] Idem, ibidem, pp. 91-92. Findo este trecho, o autor cita
Vasco Botelho, Bases da Ortografia
Luso-Brasileira, Lisboa, 1946.
[29] Idem, ibidem, pp. 95-98.
[30] «Um puro espírito pensaria sem
palavras, ou frases, de uma língua determinada, sem discursividade, sem razão.
O homem, que sofre, não realiza a descontinuidade entre o acto de pensar e o
acto de exprimir, não pensa primeiro para exprimir depois, conforme diz uma
psicologia demasiadamente espiritualista. Todos os fenómenos observáveis em
psiquiatria nos demonstram que entre o pensamento e a linguagem não há uma
simples relação de paralelismo, mas complexas relações de convergência e de
divergência, com significado diferente para cada caso analisado.» (Álvaro Ribeiro, A Razão Animada, pp. 54-55).
[31] Aristóteles, Poética, Tradução, Prefácio, Introdução,
Comentário e Apêndices de EUDORO DE SOUSA, 3.ª edição, Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, 1992, p. 131.
[32] Para uma melhor compreensão
entre tradição e imagem auditiva, segreda-nos Álvaro Ribeiro: «No estudo dos
fenómenos fonéticos há que ter presente que a imagem auditiva, transmitida por
tradição, tem primado sobre as condições orgânicas de quem fala e, finalmente,
sobre o resultado gráfico dos registos mecânicos, mais ou menos aperfeiçoados
dos laboratórios.» (in A Razão Animada,
p. 64).
[33] António Telmo, «O Bateleur», in Contos Secretos, 1.ª edição, Tartaruga,
pp. 248-250.
[34]
Edward Sapir, Language, New York,
1921, p. 7.
[35]
Louis H. Gray, Foundations of Language
, New York, 1939.
[36] Álvaro Ribeiro, A Arte de Filosofar, Portugália Editora,
1955, pp. 38-40.
[37] «Entre os romanistas de língua
francesa domina a sociologia positivista de Emílio Durkheim, e não será difícil
descobrir nas obras de Saussure, Meillet e Bally o eco de muitas frases
escritas nas Règles de la Méthode
Sociologique.» (in Álvaro Ribeiro, A
Arte de Filosofar, p. 46).
[38] António Telmo, «O Bateleur», in Contos Secretos, pp. 254-255.
[40] Idem, ibidem, p. 141. A este propósito, o autor também chega a
preconizar «que a evolução semântica de alguns vocábulos da língua portuguesa,
bem como a importação de terminologias e expressões idiomáticas
anglo-americanas, indiciam alterações do paradigma da Contra-Reforma
prevalecente em Portugal até ao salazarismo, se não mesmo a sua substituição
pelo paradigma weberiano do protestantismo cultural» (ibidem, p. 232). Para o efeito enumera alguns termos e expressões
com vista ao que diz ser o seu objectivo, tais como self-made-man, workshop, expert e assim fastidiosamente por
diante (ibidem, p. 234). Porém, se o
seu objectivo passa por, mediante a exposição de outras variantes semânticas de
uso corrente, advogar que as alterações idiomáticas se devem fundamentalmente à
existência de alterações culturais, peca no entanto por ignorar a unilateralidade que, no âmbito do
intercâmbio cultural, se acentua por via da importação de estrangeirismos que
assim contribuem para a corrupção da língua portuguesa. Ora, é precisamente por
via desta importação que a nossa idiossincrasia nacional se revela
profundamente afectada, se não mesmo obnubilada, quanto mais não seja através
das mediocridades doutoradas que habitualmente singram nas instituições
oficiais ou oficiosas. De resto, não é por acaso que toda a portentosa obra de
Álvaro Ribeiro vai no preciso sentido de chamar constantemente a atenção para o
facto de a lenta, astuciosa e subtil desarticulação das categorias étnicas de
pensamento e de movimento se deverem essencialmente à desnacionalização
idiomática tão imprudente quão objectivamente contraproducente.
[41] Idem, ibidem, p. 137.
[42] Idem, ibidem, pp. 166 e 172. Já agora, segundo Pinharanda Gomes:
«Sabíamos, havia muito, que Orlando se propusera levar a efeito um exercício
sobre as principais teses da Filosofia Portuguesa. No decurso dos anos (já em
1969 ele redigira pelo menos uma página a propósito de uma entrevista de
Heidegger) carregou com esse projecto, que nos legou decerto inconcluso ou,
pelo menos, com todas as linhas já identificadas, além de uma definida sequência.
No entanto, as principais teses foram enunciadas e construídas, conforme o que
nos é dado a ler neste livro, do qual não é necessário fazer uma sinopse que
até seria contraproducente, uma vez que, lendo o texto, cada um de nós terá o
ensejo de apreciar um estilo apurado para um discurso nítido, demonstrativo de
uma rigorosa especulação dentro de
temas cujo cerne se não atinge, porque as teses tratam de princípios, ou de
categorias de essência, fora dos quais se não entendem, nem o ser, nem a
verdade, ideias propostas segundo o juízo saudável, ou a esclarecida
demonstração, isenta do vício opinativo. Segundo Orlando Vitorino, só pela
razão se transita da opinião para a ciência ou do incipiente saber para a
garantida sabedoria.» (Posfácio in Orlando Vitorino, As Teses da Filosofia Portuguesa, Guimarães, 2015, pp. 272-273).
[43] Idem, ibidem, p. 178. No que directamente se atém ao problema da
filosofia portuguesa, aventa Álvaro Ribeiro: «A sofia é insusceptível de
divulgação; a filosofia é gradual e ascendente. A obra de um pensador que se
afastou da via normal não pode ser reduzida a linhas esquemáticas, já que lhe
faltam as coordenadas do sistema; exige um estudo perseverante e uma demorada
convivência, antes de se oferecer na plenitude da sua verdade. Adoptar um
sistema filosófico, apreciá-lo quer nas sucessivas expressões históricas quer no
perene sentido de actualidade – e só por assimilação hodierna de um sistema
escolhido pode o estudante ser iniciado na filosofia -, não é trabalho que
requeira apenas o encontro casual de um intelecto sadio com certo número de
bons livros, não é labor para autodidactas; é aprendizato dedicado que carece
também de demorada prevenção erudita ou, seja, da intervenção oportuna do
professor.» E mais adianta: «Não será, todavia, da iniciativa do tradutor nem
da perseverança do editor que o problema receberá solução bastante, porque não
é de filosofia em Portugal mas de filosofia portuguesa que a nossa cultura
verdadeiramente carece; nem a exposição dos sistemas estrangeiros, nem a
historiografia do pensamento nacional podem fornecer o contributo mais valioso.
Tudo depende, não de aclimar, não de
continuar, mas de recomeçar uma tradição; tudo depende da eleição do ponto de
partida e da acção de um escol que venha revelar em actual expressão ontológica
o pensamento implícito nos documentos teológicos, políticos e literários que
assinalam os decisivos passos da vida do nosso povo e que venha a formular, em
sistema ou sistemas, a filosofia própria da fisionomia nacional.» (Álvaro
Ribeiro, O Problema da Filosofia
Portuguesa, Inquérito, pp. 10 e 22).
[44] Idem, ibidem, p. 190, nota 45. Ainda segundo Álvaro Ribeiro: «A
incompatibilidade do povo português com determinados tipos de pensamento,
especialmente com certas doutrinas de estrangeira cultura, não significa
inaptidão especulativa; modificado o ambiente espiritual, pela falência dos
extremismos das doutrinas incompletas, a filosofia portuguesa poderá surgir,
não como contribuinte duma cultura estranha, mas como reveladora duma expressão
autónoma, com dignidade idêntica à das outras filosofias nacionais.» (in O Problema da Filosofia Portuguesa, p.
63).
[45] Onésimo Teotónio Almeida, op. cit., p. 160.
[46] A gnoseologia da saudade e, consequentemente, a ética da lealdade, constituem a temática central
de uma nova escola de Filosofia Portuguesa. Em torno dela se desenha já a
espiral promissora de alta interpretação do nosso tradicionalismo,
indispensável para pertinente revisão da história cultural. O louvável impulso
deste empreendimento foi devido ao nobre entusiasmo dos escritores P. António
de Magalhães, S. J., e Afonso Botelho.
[47] Álvaro Ribeiro, Apologia e Filosofia, Guimarães, 1953, pp. 50-51. Sobre a saudade, o filósofo portuense subscreveria ainda em nova coordenada espácio-temporal o seguinte: «Como, porém, sobre a vivência da saudade, não incidiu ainda um verdadeiro estudo psicanalítico nem uma autêntica descrição fenomenológica, poucas probabilidades existem de que a respectiva temática seja propícia à fundação de uma nova escola filosófica.» (Cf. «Filosofia Portuguesa Actual. Excertos de um livro a publicar», in As Portas do Conhecimento – Dispersos Escolhidos, Instituto Amaro da Costa, 1987, p. 293).
[48] Álvaro Ribeiro, A Razão Animada, p. 17.
[49] Idem, ibidem, p. 21.
[50] Álvaro Ribeiro, O Problema da Filosofia Portuguesa, p.
72.
[51] Onésimo Teotónio Almeida, op. cit., p. 154.
[52] Álvaro Ribeiro, A Razão Animada, p. 65.
[53] Benjamin Lee Worf, Linguistique et Antropologie, Éditions
Denoël, Paris, 1966, p. 139.
[54] Làgaro Lanctor.
[55] António Telmo, Filosofia e Kabbalah, p. 73.
[56] Orlando Vitorino, Exaltação da Filosofia Derrotada, Guimarães
Editores, 1983, p. 192.
[57] Onésimo Teotónio Almeida, op. cit., pp. 101-102.
[58] George Orwell, 1984, Antígona, 2012, pp. 301-302.
[59] Onésimo Teotónio Almeida, op. cit., p. 102.
[60] Álvaro Ribeiro, «George Orwell: 1984 ou a Verdade ao Alcance das Mãos», in As
Portas do Conhecimento, p. 147.
[61] Poderá haver, curiosamente, uma
relação maligna entre o que poderíamos chamar a viciosa tendência pansexualista
em curso e o que já George Orwell designara por duas “palavras” em novilíngua: sexocrime e bom-sexo. Ou seja: um dos extremos parece assim constituir como
que o trânsito para o extremo culminante tal qual o já
caracterizado pelo romancista inglês: «(...) um membro do Partido estava ciente
do que constituía a conduta correcta e, em termos extremamente vagos e
genéricos, sabia que tipos de desvio eram possíveis relativamente a ela. A sua
vida sexual, por exemplo, encontrava-se inteiramente regulada por duas palavras
em novilínguia: sexocrime
(imoralidade sexual) e bom-sexo
(castidade). Sexocrime cobria todos e quaisquer delitos sexuais: a fornicação,
o adultério, a homossexualidade e as outras perversões; e além disto, englobava
igualmente a relação sexual normal praticada apenas por prazer. Era
desnecessário enumerar separadamente estes crimes, uma vez serem todos
condenáveis e, em princípio, puníveis com a morte. No vocabulário C, que se
compunha de termos científicos e técnicos, talvez fosse preciso atribuir nomes
especializados a certas aberrações sexuais, mas ao cidadão comum de nada
serviam. Este sabia somente o que significava bom-sexo – isto é, a relação normal entre marido e mulher, com a
procriação por única finalidade, sem prazer físico do lado da mulher: tudo o
mais era sexocrime. Em novilíngua
raramente se tornava viável seguir um pensamento herético para lá da
consciência de que era herético: para além desse ponto as palavras necessárias
não existiam.» (George Orwell, op. cit.,
p. 308). Contudo, é mais precisamente em Aldous Huxley que um tal extremo surge
convenientemente retratado, se para o efeito e, segundo o próprio, considerarmos
que a relação natural entre o homem e a mulher dará radicalmente lugar à
estandardização genética, já de si entendida como a geração das crianças em
provetas mediante o controlo centralizado da reprodução.
[62] Respectivamente: Organização das
Nações Unidas (ONU), Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e
a Cultura (UNESCO), Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a
Agricultura (FAO), Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), Organização
Mundial de Saúde (OMS), Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Económico (OCDE), Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA), Comunidade
Económica Europeia (CEE), Comunidade Europeia da Energia Atómica (EAEC ou
Euratom), Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT), Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
(IBRD ou BIRD), Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Central Europeu
(BCE) e União Europeia (UE).
[63] Referindo-se à linguagem emitida
pela laringe, anota Orwell: Patofalar
é o termo da novilíngua que significa grasnar
como um pato (idem, ibidem, p.
311).
[64] É já hoje sabido que o dinheiro
dos contribuintes do Canadá e EUA fora utilizado para financiar a pesquisa do
coronavírus em morcegos no Instituto de Virologia de Wuhan. É também aliás
sabido que o imunologista estado-unidense Anthony Fauci canalizou parte desse
dinheiro através do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas.
[65] A histeria internacional à volta
do SARS-Cov-2 houvera já sido despoletada no final de Janeiro de 2020 através
de uma série de vídeos no mínimo suspeitos, logo exibidos em vários sites em que se podia ver o colapso
súbito de pessoas nas ruas da China comunista, havendo, inclusive, um ou outro
caso em que tudo parecia mesmo ser fruto de uma encenação para inglês ver. Contudo,
pouco ou nada disso aconteceu de um modo idêntico no resto do mundo, o que
agrava ainda mais a nossa desconfiança quanto ao papel do Dragão Vermelho no
despoletar de uma crise internacional muito bem estudada e globalmente planeada com vista a uma nova arquitectura planetária
inteiramente perseguida desde o final da Segunda Guerra Mundial.
[66] Estas medidas essencialmente
dirigidas ao brutal confinamento de milhares de chineses, ganham hoje um novo
desenvolvimento mediante a projectada combinação do sistema de rastreamento de
infecções do SARS-CoV-2 e o já popularizado sistema de crédito social chinês. E
eis então que surge o novo “código civilizacional”, na base do qual será
rigidamente determinado, a nível planetário, em que categoria específica
cairá o novel cidadão do mundo em termos de castigo e recompensa em função do
comportamento social globalmente esperado. Como tal, aquilo que inicialmente
poderia apenas parecer ser um sistema de controlo comportamental exclusivamente
usado e operado pelo Partido Comunista Chinês, passa também, por sua vez, a ser
gradualmente implementado em países ditos
tradicionalmente liberais e democráticos, alguns dos quais já aliás vinham introduzindo um sistema de censura e remoção
sistémica de conteúdos ao nível das várias redes sociais, e, por conseguinte,
preparando a exclusão dos responsáveis de tais conteúdos no âmbito de certas
companhias públicas e sistemas bancários.
[68] O governo britânico tem
inclusivamente encorajado os cidadãos no sentido de se espiarem uns aos outros
e assim denunciarem às autoridades os eventuais dissidentes.
[69] É sabido existirem várias
estirpes de coronavírus tais como: HCoV-229E, HCoV OC43, HCoV-NL63, HCoV HKU1,
SARS-CoV, MERS-CoV, SARS-CoV-2. E é também sabido que o teste PCR detecta
qualquer um dos coronavírus supramencionados – e até mesmo os restos virais de
alguns deles – sem que para isso proceda a qualquer distinção entre eles. Por
conseguinte, quando a máquina mediática, semeando o terror e o pânico, alardeia
sistematicamente os números positivos do novo coronavírus acaba por implicitamente omitir aquela indistinção. Daí a quantidade infinda dos
falsos positivos com base nos quais se tem ludibriado o planeta com vista à
centralização do poder tecnocrático a uma escala humanamente inconcebível.
[70] Num primeiro estádio do
condicionamento genético, estarão as vacinas que serão brevemente tornadas obrigatórias
no objectivo de inocular dispositivos nanotecnológicos de identificação digital
universal (ID2020), já entretanto projectados por agências internacionais a par
de fundações globalistas como a Fundação Clinton, a Fundação Bill & Melinda
Gates e a Fundação Rockefeller, ou ainda a par de iniciativas mais remota ou
proximamente ligadas ao magnata Bill Gates, como a GAVI Alliance e a empresa
transnacional americana Microsoft. Ora, tais dispositivos ou esquemas de
identificação digital, a que não serão igualmente estranhos os testes de
alteração do genoma humano através do uso de vacinas sintéticas DNA criadas por
computador, visam, acima de tudo, conseguir um controlo e constrangimento
totais de toda a actividade humana, principalmente ao nível da saúde em que o
actual processo “pandémico” surge como a ideal pedra de toque para assim se
poder levar a cabo a utopia tecnocrática dos oligarcas unimundialistas. Nisto, enfim,
saliente-se também a obsessão de Bill Gates na criação de vacinas para a redução da população mundial em cerca de 10 ou 15%, expediente esse aliás
complementado pelos “serviços de saúde reprodutiva” no intuito de promover a
indústria genocida do aborto e da contracepção, já de resto outrora presidida
pelo pai do próprio Bill Gates no âmbito da Planned
Parenthood
[71] No ínterim, também o programa de
vacinas mRNA resume-se a uma série de possibilidades que ameaçam tornar-se num
pesadelo sem fim à vista. É, pois, mais um passo fundamental na consolidação do
transhumanismo enquanto processo apostado na fusão bio-tecnológica
particularmente operada no âmbito da natureza humana propriamente dita.
Representa, por assim dizer, um abrir de portas para a manipulação genética
realizada ao nível das doravante programadas quão monitorizadas respostas
biológicas mais elementares no domínio do organismo humano, designadamente quanto
aos níveis de glucose, lactose e oxigénio a mero título de exemplo. Profusa Inc é a companhia especialmente
criada para propiciar o acesso e a comercialização de um tal processo
bio-tecnológico, e ademais fundada com base em milhares de dólares provenientes
dos National Institutes of Health (NIH) e da Defense Advanced Research Projects
Agency (DARPA).
[72] Aldous Huxley, Regresso ao Admirável Mundo Novo, Edição
«Livros do Brasil», pp. 21-22. E, como pano de fundo, adverte ainda Huxley: «As
profecias feitas em 1931 estão a realizar-se muito mais depressa do que eu
pensava. O abençoado intervalo entre a excessiva falta de ordem e o pesadelo de
ordem em excesso não começou e não dá sinais de começar. É verdade que, no
Ocidente, homens e mulheres gozam ainda de uma larga medida de liberdade
individual. Mas, até naqueles países que têm uma tradição de governo
democrático, esta liberdade, e até o desejo desta liberdade, parece
encontrar-se em declínio. No resto do mundo a liberdade para os indivíduos já
desapareceu, ou está manifestamente em vias de desaparecer. O pesadelo da
organização total, que eu situara no século VII d. F., emergiu do futuro
remoto, e por isso tranquilizante, e encontra-se agora esperando por nós no
primeiro ângulo do caminho.» (idem, ibidem,
pp. 16-17).
[73] Entretanto, os chamados
“estímulos à economia” à escala europeia e mundial visam mais precisamente a cabal
centralização estatal de toda a actividade económica, de que o “salário mínimo
para todos” é apenas o primeiro estádio da implacável servidão que doravante se
abate sobre a humanidade dolorosa.
[74] Na América, os protestos
generalizados foram cínica e politicamente encorajados não obstante uma série
de restrições e até de proibições governamentais quanto à participação em
actividades religiosas dentro ou fora de igrejas, pelo que assim estas permaneceram
inibidas de consagrar missas e até de promover e cantar hinos a Deus em espaços
ao ar livre. Além disso, quando um crescente número de cristãos desafia a tirania
imposta logo os vemos, no todo ou em parte, prontamente algemados e presos por
terem simplesmente exercido os seus direitos fundamentais constitucionalmente
garantidos.
[75] A par destes protestos
aparentemente anti-racistas, o Departamento de Segurança Nacional tem vindo a
proclamar que a maior ameaça terrorista aos Estados Unidos reside no
“supremacismo branco”, doravante identificado por aquele departamento como um
movimento extremista apostado em atacar minorias raciais e religiosas, membros
da Comunidade LGBT e tudo o que se reporte à cartilha multiculturalista e ao
globalismo dominante. Em suma: todos os dissidentes da agenda globalista em
curso passam a ser imediatamente conotados com eventuais afiliados ou adeptos
do “supremacismo branco”, e, nessa medida, considerados terroristas domésticos
– relembre-se ainda a propósito a vil quão louca sugestão de Al Gore para se catalogarem todos os opositores às chamadas “alterações climáticas” sob o apodo
de “supremacistas brancos.”
[76]
Daí o slogan lapidar: The issue is never the issue, the issue is
always the revolution. Em
termos orwellianos, daria qualquer coisa como: «O poder não é um meio, é um
fim. Não se instaura uma ditadura para se salvaguardar uma revolução; faz-se a
revolução para se instaurar a ditadura. O objectivo da perseguição é a
perseguição; o da tortura é a tortura; o do poder, o poder.» (George Orwell, op. cit., p. 265).
[77] Entre estes biblionários
encontra-se, a título de exemplo, George Soros cuja acção de subversão dos
Estados Unidos através da sua Open
Society Foundations é um facto por demais provado e demonstrado nos mais
fidedignos círculos conservadores norte-americanos. Já depois de ter financiado
dúzias de organizações, entre as quais se incluem Occupy Wall Street e o Center
for Community Change, Soros tem ultimamente investido em numerosos grupos
de extrema-esquerda, muitos deles actuando no seio do movimento Black Lives Matter, maioritariamente
responsável pela onda de tumultos, motins e distúrbios em muitas das cidades
americanas sob jurisdição democrata. A par de George Soros, cuja firma fora
inicialmente fundada pela poderosa dinastia bancária dos Rothschilds,
encontra-se a família Rockefeller igualmente apostada no financiamento de
movimentos revolucionários destinados à transformação da América num novo
Estado socialista, nomeadamente o Sunrise
Movement. De resto, a família Rockefeller tem estado historicamente ligada
a programas particularmente racistas e de inspiração eugénica, como o relativo
ao do Partido Nazi, chegando mesmo a patrocinar o trabalho de Joseph Mengele
numa altura prévia ao da respectiva experimentação humana em Auschwitz.
[78] Segundo George Orwell, o duplopensar significa «a capacidade de albergar no espírito simultaneamente duas convicções contraditórias, aceitando-as a ambas», tal e qual quando se afirma que guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força. Continua Orwell: «O intelectual do Partido sabe em que sentido deve alterar as suas recordações, sabe, por conseguinte, que malabarismos faz com a realidade; mas, recorrendo ao duplopensar, convence-se ao mesmo tempo de que a realidade não está a ser violada. Este processo tem de ser consciente, ou não seria levado a cabo com suficiente precisão, mas também inconsciente, ou acarretaria um sentimento de falsidade e portanto de culpa. O duplopensar é a pedra de toque do Socing [Socialismo Inglês], uma vez que a atitude fundamental do Partido consiste em recorrer à fraude consciente, mantendo ao mesmo tempo a firmeza de propósitos que acompanha a honestidade absoluta. Dizer mentiras deliberadas, nelas acreditando com sinceridade, esquecer qualquer facto que se haja tornado incómodo, para depois, quando de novo necessário, o arrancar ao esquecimento enquanto for preciso e nunca por mais tempo; negar a existência da realidade objectiva continuando a levar em conta a realidade negada – tudo isto é absolutamente indispensável. Até mesmo para se usar a palavra duplopensar há que recorrer ao duplopensar. Pois quando se emprega essa palavra está-se a reconhecer implicitamente a falsificação da realidade; com novo acto de duplopensar, apaga-se esta consciência, e assim por diante, indefinidamente, com a mentira sempre um passo à frente da verdade. Em última análise, foi através do duplopensar que o Partido conseguiu – e tanto quanto sabemos, poderá continuar a conseguir por milhares de anos – deter o curso da História.» (op. cit., pp. 215-216). Nisto, dir-se-ia que o duplopensar se reflecte hoje dalguma forma no domínio perverso dos agentes mediáticos em geral, visto estarem eles indubitavelmente na origem do medo sistematicamente instilado na frágil quão vulnerável estrutura psicológica do cidadão comum facilmente influenciável. Isto é: por um lado, o alarmismo suicida levantado à volta do “Vírus Chinês” não teria sido possível sem a recorrente narrativa ad nauseam que já todos conhecemos de antemão, por outro a presente revelação por parte desses mesmos agentes mediáticos de que a chamada “pandemia” tem alegadamente provocado uma quebra significativa no indispensável tratamento de um número assustadoramente crescente de pessoas, para já não falar na destruição sistemática do tecido socioeconómico, é de um malabarismo impressionante que toca as raias do duplopensar. É que não se pode compreensivelmente albergar ambas as coisas ao mesmo tempo quando já perfeitamente sabemos que as consequências cada vez mais desastrosas a que estamos assistindo se devem única e exclusivamente a imputáveis e criminosas decisões de ordem política internacional de que os tais agentes mediáticos e habituais cúmplices a que se tem dado repetidamente voz constituem a ponta de lança sem a qual tudo seria praticamente impossível. Numa palavra: a premeditada ficção mediática encontra-se essencialmente na raiz do condicionamento psicológico das populações para, no lance, induzir simultaneamente na crença de que os números inflacionados de mortes e infectados é tão-só o resultado da “realidade” pandémica supostamente responsável pelo colapso societal em pleno e incontrolável curso. (Vejamos, bem a propósito, que em «relação a outros países, [a directora-geral da Saúde] Graça Freitas refere (...) que Portugal vai "mais longe" na forma como contabiliza as mortes pelo novo coronavírus. “Em relação à morte por Covid-19, em Portugal ainda vamos um bocadinho mais longe: muitas vezes, até estamos a medir a morte com Covid-19 mesmo que não seja o evento terminal. Não estamos a deixar escapar ninguém cujo médico tenha escrito a palavra covid na certidão de óbito ou que tenha um resultado analítico positivo.”» (cf. «Covid-19: DGS garante que "todas as mortes são contabilizadas" e 93% ocorreram em hospitais», in Renascença, 29 de Abril de 2020).
[79] Referimo-nos ao ensino
não-presencial, ou à distância, que de uma forma geral se tem saldado no
isolamento residencial dos estudantes, e, como tal, num insucesso generalizado
das aprendizagens mais elementares, como já aliás seria de esperar. A chamada Tele-escola
visa assim preparar um novo sistema dito educacional estritamente pautado por
uma rede digital de ensino em que a relação espírito a espírito será implacavelmente
anulada e substituída por uma plataforma multimédia interactiva destinada à
programada disseminação de conteúdos e valores da nova sociedade globalista.
Consequências contraproducentes daqui resultarão inevitavelmente, como seja a
total censura e concomitante destituição do pensamento, assim como o
generalizado rastreio e consequente controlo da mobilidade dos cidadãos numa
sociedade tecnocraticamente centralizada, cabalmente estratificada e
absolutamente vigiada.
[80] Nas universidades da
Grã-Bretanha, mais particularmente na Universidade de Edimburgo, os estudantes
têm sido praticamente tratados como presidiários, visto estarem obrigados a
comer isolados uns dos outros enquanto são zelosamente vigiados como se
estivessem em época de exames, e sem poder inclusive escolher o sítio onde se
sentam e sem hipótese alguma de ir buscar mais água e comida. Em caso de
desobediência, serão imediatamente expulsos dos ditos estabelecimentos de
ensino, o que é deveras de aproveitar enquanto os novos protocolos restritivos
da liberdade individual assim o permitirem. E tanto assim é que já existem
igualmente nessas universidades os chamados “agentes de segurança” que
patrulham as residências universitárias a fim de impedir qualquer tipo de
socialização e divertimento, encarando-se ademais a possibilidade de os
estudantes ficarem de todo impedidos de ir a casa passar o Natal.
[81] A máscara usada no sentido da efectiva prevenção virológica, ainda
que, nesse mesmo particular, desprovida de qualquer prova científica, acaba
assim por constituir uma medida que surpreendentemente se traduz no esconder e
ocultar, pese embora aqui numa acepção naturalmente distinta do uso da máscara
que os actores italianos da commedia
dell’arte faziam para cobrir o rosto. Porém, um outro sentido mais fundo
entre persona e máscara, ou entre o que se mostra através do nosso rosto e o que se
destina a cobri-lo para esconder o que somos, emerge como aquilo através do
qual soa isso que soa, nomeadamente a voz
pelo recurso à palavra que se diz e ouve. A persona está, portanto, essencialmente ligada à audição e não tanto à persona como imagem, ou como o que se vê e se nos mostra.
[82] É caso para relembrarmos, a este
propósito, as palavras de Aldous Huxley: «As crises permanentes justificam o
controlo permanente de toda a gente e de todas as coisas pelos agentes do
governo central.» (in Regresso ao
Admirável Mundo Novo, p. 35).
[83] Bergoglio, o Papa globalista,
também já veio apelar à ONU para que se proceda ao chamado “desarmamento global”,
além de também apelar aos líderes políticos do mundo para que procedam, sempre em
nome dos mais pobres e vulneráveis, à inoculação generalizada de biliões de vacinas
a serem futuramente disponibilizadas contra o “Vírus Chinês”. A ONU certamente
aplaudirá tais apelos, quanto mais não seja pelo facto de ser estritamente
necessário desarmar o mundo inteiro para que nenhum tipo de resistência possa
ser encetada quanto aos manifestos desígnios de domínio mundial provenientes de
tão insidiosa quão perigosa organização.
[84] Daí o inevitável aumento dos
bancos alimentares como uma das mais salientes características do socialismo na
propagação global da miséria extrema.
[85] «(...) De então para cá, vários
estudos têm sido publicados em Portugal sobre a ideologia do sistema
educacional salazarista, mas desconheço que algum tenha levado a cabo a análise
aqui feita.» (Op. cit., p. 265, nota
1).
[86] Op. cit., pp. 253-254.
[87] Ministério da Educação Nacional,
O Livro da Terceira Classe. Lisboa:
Livraria Sá da Costa, 4.ª ed., 1958.
[88] Op. cit., pp. 254-255.
[89] Antes e melhor se diria a riqueza possuída e usada em «harmonia
com os fins do homem, (...) para que o senhor nos veja pobres de espírito», na
própria expressão de Oliveira Salazar: «Tomar o trabalho próprio e alheio com
amor, desempenhá-lo com zelo, aceitá-lo com alegria; ter o orgulho da
profissão, pela consciência da sua utilidade e pela perfeição própria do
trabalho executado; sentir a nobre honra de contribuir com o esforço útil para
a colectividade e sentir o vexame duma ociosidade parasitária, – que revolução
prodigiosa! É o rendimento do trabalho humano mais elevado, é uma quota mais
elevada da riqueza distribuída a cada um, é uma mais equitativa repartição do
trabalho no mundo, é um avanço enorme no caminho moral da humanidade, mais
desembaraçada de preocupações materiais para a cultura do espírito.» (4 de
Julho de 1924, in Junta de Acção Social, O
Trabalho e as Corporações no Pensamento de Salazar, «Biblioteca Social e
Corporativa», Publicação N.º 11, Colecção II - «Formação Social», Série A – N.º
1, pp. 73-74).
[90] Op. cit., p. 262.
[91] Op. cit., p. 263.
[92] Op. cit., p. 263.
[93] Note-se que o escrito em questão
foi elaborado há mais de 30 anos (op.
cit., nota 13, p. 248).
[94] «Autos de Fé “Gonçalvistas” destruíram milhares de livros», do «Jornal Novo», de 13-1-77, in João M. Da
Costa Figueira, 25 de Abril: A Revolução
da Vergonha, Literal, 1977, pp. 263-268).
[95] Foi o jornal Diário de Lisboa. Cito de memória.
[96] O então Rádio Clube Português. Cito de memória.
[97] Cf. Franco Nogueira, Juízo Final, Livraria Civilização
Editora, 2000, p. 44.
[98] Onésimo Teotónio Almeida, op. cit., p. 265.
[99] A táctica utilizada pela
deturpação consiste em ocultar o que não é susceptível de ser deturpado.
Pascoaes, Pessoa, Régio e os "filósofos portugueses" são os alvos
mais significativos dessa táctica. A ocultação, por sua vez, recorre a vários processos
que vão desde a confusão interpretativa, como a que se tem lançado sobre as
obras publicadas de Pessoa, a divulgação de imagens caluniosas e aviltantes,
como se tem feito com as obras de Pascoaes, Régio e os "filósofos
portugueses", até aos obstáculos impeditivos da difusão e mesmo da edição
como se procede com os pensadores que são fechados na "sua lura", com
os inéditos de Pessoa e com as reedições de Pascoaes.