«Se, em 1488, el-rei D. João II visionava que a expansão do reino de Portugal além-fronteiras só poderia conseguir-se caso se obtivesse vantagem concorrencial por via de informações secretas recolhidas pelo seu espião Pero da Covilhã, já no decorrer da guerra colonial, entre 1961 e 1974, o Presidente do Conselho de Ministros, António de Oliveira Salazar, teve de atribuir à máquina das informações um papel central no apoio às operações políticas, diplomáticas e militares nos três teatros de guerra que ocorriam em simultâneo.
Pero da Covilhã, o preferido de D. João II para missões secretas devido às suas perícias excepcionais e talentos múltiplos (mormente o domínio da língua árabe), foi enviado, com Afonso de Paiva, para chegar por terra às almejadas especiarias da Índia, ao mesmo tempo que o navegador Bartolomeu Dias desbravava o caminho marítimo. O rei D. João II já enviara frei António de Lisboa e Pero de Montarroio numa missão similar, que esta acabou por se revelar um fracasso. Nenhum dos dois espiões, a soldo de Sua Majestade, conseguia proferir sequer uma palavra em árabe, pelo que a dificuldade em ganhar contactos entre as populações locais os obrigou a retornar a Portugal uma vez alcançada Jerusalém. A falta de perícias linguísticas já na altura constituía uma barreira para o estabelecimento de laços de confiança com as gentes de outros idiomas.
Portugal vivia uma época em que o secretismo era a condição essencial para rivalizar com a vizinha Espanha em busca de novos mundos, pelo que a espionagem se tornou basilar para garantir a vantagem sobre os mais directos competidores. Esta actividade secular traduz-se na procura incessante de repostas às interrogações, ambições e desafios que se colocam aos supremos interesses nacionais, sejam eles de cariz económico, securitário, político, cultural, etc. Para tal são utilizadas inúmeras artimanhas ardilosas, habilidades, mentiras, imaginação e jogos que permitem discernir as motivações e intenção dos oponentes. A actividade reveste-se de enorme complexidade, pois, para além das acções para desvendar segredos normalmente bem guardados, há que contar com os inerentes mistérios de difícil descodificação. A complexidade da mente humana, mormente o processo cognitivo subjacente, introduz um coeficiente de dificuldades adicional a todos aqueles que tentam decifrar as motivações e potenciais decisões futuras dos alvos de interesse.
(...) Pero da Covilhã tinha perícias linguísticas e intelectuais que lhe permitiam misturar-se e encarnar personagens e, assim, descobrir as intenções dos líderes mouros contra as praças portuguesas, detectar movimentos de mercenários e exércitos na preparação de campanhas militares, e registar todos os detalhes que pudessem corrigir as cartas traçadas pelos astrónomos de D. João II.
O desígnio de garantir a segurança e a preservação dos interesses nacionais face a uma ameaça iminente seria abordado na obra do padre Fernando Oliveira Arte da Guerra do Mar, publicada em 1555. Este sábio alertava para o facto de as ameaças irem sempre mais além, se não existisse uma resposta proporcional em defesa dos superiores interesses do País, pois "não somente [roubariam] o mar os corsários, mas se os deixam ir em frente sem oposição, atravessarão a terra e provocarão inquietação". Para tal era necessário quebrar o ímpeto dos corsários e demais inimigos, e, nisso, as informações exerciam vital importância, pois "de muito longe além horizonte onde não conseguimos avistar, [poderá surgir] na costa sobre os nossos portos" um conjunto de ameaças que, se não estivermos dotados de um conhecimento superior, podem causar danos incomensuráveis aos supremos interesses de um país. É, portanto, notório que durante este período da História houve a preocupação de adquirir um conhecimento robusto acerca das ameaças e dos competidores que conflituavam com os interesses de Portugal. Os serviços de informações transformaram-se, então, num pilar de toda a estratégia nacional».
Fernando Cavaleiro Ângelo («Os Flechas. A Tropa Secreta da PIDE/DGS na Guerra de Angola»).
«(...) estariam os Portugueses a mais em África? A resposta é um redondo "não!". Como é óbvio, à questão da licitude da sua presença, a única resposta possível é um "sim!". Há muitas razões para isto. A primeira tem que ver com os nossos direitos históricos. Tínhamos chegado a África fazia quase 600 anos, o que não era propriamente o mesmo que ter chegado há meia dúzia de dias. Fomos, primeiro por razões geoestratégicas, com o objectivo de conseguir apoios que nos defendessem de uma Castela unida a Aragão e, depois, para descobrir o desconhecido, para procurar "pimenta e cristãos". Estabelecemo-nos em muitos lugares e, salvo raras excepções, sempre iniciámos amigavelmente os contactos com os indígenas. Não usurpámos terras a nenhum Estado reconhecido como tal e, se atacámos Turcos e Mouros, foi porque eles estavam em guerra contra a cristandade. As acções portuguesas, não estiveram, naturalmente, isentas de erros e de críticas, porém, em comparação com outros povos em situações semelhantes, resta-nos a certeza de que a nossa actuação foi bem mais humana. Além do mais, os acontecimentos devem ser analisados à luz da época e não segundo os conceitos ético-morais e filosóficos de hoje.
 |
| Estátua de D. Afonso Henriques |
 |
| Castelo de Guimarães |
 |
| Estátua de D. Gualdim Pais e a Torre da Igreja de S. João Baptista. Ver aqui |
O argumento segundo o qual nós não podíamos ficar com os territórios porque neles já havia gente antes de nós aí termos chegado, ficou respondido, em parte, um pouco mais atrás. Todavia, se quisermos levar a argumentação ao absurdo, poder-se-ia dizer que nenhum país podia sê-lo hoje, pois antes dos actuais habitantes, quantos outros e de diferentes etnias já lá tinham estado? O Algarve, por exemplo, foi incorporado na coroa portuguesa cerca de 150 anos depois de Afonso Henriques ter individualizado o Condado; porque é que não se pede à ONU a descolonização do Algarve? E quanto aos territórios desabitados, como a Madeira, os Açores, S. Tomé e Cabo Verde? Por que razão têm de ser independentes? E porquê só Cabo Verde e S. Tomé? Será porque nestes a maioria da população é negra? Mas desde quando é que isso é razão? Será que os EUA irão conceder a independência a um Estado só porque nele a maioria da população é negra? Já para não falar nos índios, que foram dizimados (como bisontes) e vivem, hoje em dia (os que sobraram), em reservas.
A Portugal assistia ainda o direito de estar no ultramar pelo modo como colonizou esses territórios. A nossa presença nunca teve m carácter passageiro, mas sim permanente. Onde chegavam, os Portugueses consideravam que as terras e suas gentes passavam a estar integradas na coroa portuguesa. As populações autóctones não eram isoladas dos metropolitanos, antes se promovia a miscigenação (ao contrário do que faziam Ingleses, Holandeses e Franceses). As conversões ao cristianismo eram feitas muito mais pelo dom da palavra do que pela força (ao contrário do que acontecia com os Espanhóis). E cedo se desenvolveram formas de tolerância e adaptação que ainda hoje se podem constatar facilmente.
Sobre a integração de populações de outras etnias e a igualdades entre raças e credos, não temos lições a receber de ninguém. Os EUA, que se autoproclamam os defensores dos Direitos Humanos, quando declararam a independência não libertaram os escravos. Tiveram de passar pela experiência de uma guerra civil para finalmente abolirem a escravatura, isso numa época em que os Portugueses já há vários anos perseguiam o tráfego esclavagista como ilícito. O problema racial nos EUA só começou a ficar resolvido no fim da década de 60 do século XX, depois de uma vaga de violência racial. Nessa época, já Portugal contava com indivíduos de todas as raças no seu corpo de oficiais, na magistratura, na cátedra e, de uma forma geral, em todas as actividades. Nem consta que tivesse ocorrido, em qualquer altura, discriminação nas escolas, nos transportes, etc., ou que se verificassem, nas ruas, cenas de pancadaria entre indivíduos de pele distinta.
A vida criada pelos Portugueses não foi, certamente, um mar de rosas, mas também ninguém disse que a natureza humana é perfeita. O desenvolvimento dos territórios nem sempre foi realizado da melhor maneira, nem nos prazos mais apropriados, é verdade, porém, que o desenvolvimento está directamente relacionado com a capacidade da nação para o realizar e a Portugal, ao longo dos séculos, nem sempre foi possível acudir a todos os lados. [Ainda hoje isso acontece, mesmo reduzidos a 90 km2, o país está cheio de assimetrias]. Isso, no entanto, era um problema interno, que só a nós dizia respeito. No período aqui considerado, não nos parece que houvesse em África (excepção para a Rodésia e para a República da África do Sul) qualquer país que se pudesse comparar positivamente com Angola, Moçambique e Guiné, onde havia guerra, e com Cabo Verde e S. Tomé, onde sempre reinou a paz. O desenvolvimento alcançado durante os catorze anos que durou a luta suplantou o registado nos últimos quatro séculos, antevendo-se a criação de uma grande comunidade de raças. Este seria o ponto mais importante que qualquer observador imparcial registaria.
Não vemos assim qualquer razão imperativa que na altura levasse Portugal a abandonar a sua presença fora das fronteiras europeias, a não ser, e essa seria a justificação primeira, que as populações indígenas e/ou brancas quisessem tornar-se independentes. Pode dizer-se, sem receio de errar, que havia pessoas que defendiam a independência. Mas qual era a sua expressão? Ainda subsistem algumas dúvidas de que a agressão veio do exterior e que foi, na sua esmagadora maioria, apoiada, sustentada e inspirada pelo exterior? Alguém em consciência pode afirmar que havia bases permanentes da guerrilha em território nacional? Não houve um fluxo constante de refugiados que se expatriaram ameaçados pelos primeiros recontros? Não se verificou um aumento constante do recrutamento local para as Forças Armadas? E quantas povoações estavam organizadas em autodefesa? Para os mais cépticos, adianto que a "sentinela" da Messe Militar de Luanda era a D. Nazaré (e nem sempre estava) e que não há memória de ter havido um único rapto de um militar ou de um familiar seu durante o tempo em que durou a guerrilha. Teria isto sido possível caso a maioria da população, ou sequer uma parte significativa da mesma, odiasse assim tanto os portugueses e quisesse mudar de nacionalidade?
Pode ainda ser alegado que a subversão começou por causa da proibição da criação de partidos ou organizações que pudessem advogar uma separação. Mas qual o país, no mundo, por mais democrático que seja, que permite impunemente a existência de organizações que pratiquem a violência? Acaso a Espanha dá a independência ao País Basco? E a França permite a secessão da Córsega? E nós, será que vamos autodeterminar os Açores caso a FLA (Frente de Libertação dos Açores) passe a colocar bombas?
Houve também quem dissesse que se devia fazer um plebiscito em cada território. A ideia foi avançada para o caso de Goa, e logo recebeu uma resposta negativa da Índia. Se o tivéssemos feito em África, alguém acredita que os nossos inimigos iriam reconhecer algum resultado que não coincidisse com os seus interesses? E, mais uma vez, perguntamos: a soberania plebiscita-se? Aceitariam hoje em dia os espanhóis um plebiscito em Olivença?
Em súmula, a Portugal assistia o direito de estar politicamente presente fora da Europa, pela história, pelo sangue, pelas obras, pela razão, pelo esforço civilizador e evangelizador, pela alma criada e pela vontade maioritária das populações. E tinha o dever de o fazer, porque essa era uma das razões da sua existência, por espírito de sobrevivência, para proteger as vidas dos portugueses e salvaguardar o património material, moral e espiritual da nação. O projecto português não era um projecto de passado, mas sim de futuro. Futuro não só para os Portugueses, já que lhes garantia uma independência e um progresso que de outro modo jamais atingirão mas também para o mundo, porque a existência de uma sociedade multirracial e pluricontinental a viver em harmonia constituiria, no campo dos princípios e na prática, um dos mais elevados, senão o mais elevado ideal da humanidade. Seria a plenitude do "Quinto Império", mas isso é outra história.
Pelo que se sabe, quase todos os oficiais que formaram inicialmente o Movimento das Forças Armadas, bem como os próprios membros da Junta de Salvação Nacional, a começar pelo general Spínola, não eram adeptos nem defendiam a entrega do ultramar. [Ao general Costa Gomes, porém, já era mais difícil perceber o que lhe ia na alma...]. No entanto, logo após o golpe de Estado, cometeram-se tantos erros, uns atrás dos outros, e de forma tão inexplicável, que rapidamente se perdeu o controlo da situação (o que só foi retomado, e apenas parcialmente, a 25 de Novembro de 1975, já depois do grande desastre estar consumado). E assim se inviabilizou qualquer condução adequada da situação.
Seguiu-se o desvario e o oportunismo tão característicos quando assistimos à libertação dos sentimentos humanos sem qualquer freio e, de cedência em cedência, de traição em traição, "fugiu-se para a frente", não se respeitando nem princípios, nem interesses legítimos, nem a justiça, nem os objectivos nacionais permanentes, nem sequer o mais elementar bom-senso. O "poder" vindo da rua nunca é bom conselheiro... Assim se amputou a nação irremediavelmente. Se quisermos responder conscientemente à pergunta de quem ganhou com todo este processo, teremos de dizer que ninguém. Não ganhou o Ocidente, que se viu reduzido em apoios e em proveitos comerciais, já que os novos países entraram em declínio e afundaram-se em guerras sangrentas; não ganharam os marxistas, pois os benefícios que obtiveram no curto prazo já foram esbanjados, devido aos erros cometidos. Além disso, o comunismo entrou entretanto num processo inelutável de descrédito e está actualmente em decomposição por todo o mundo. Perderam os países do Terceiro Mundo, pois apenas viram juntar mais pobreza e desgraça àquela que já tinham. Perderam os Portugueses que restaram, pois a nação ficou reduzida e limitada. Portugal deixou de ser um protagonista com peso na cena internacional, a consciência nacional foi profundamente abalada, algo de que ainda não recuperámos, e o Estado Português passou a comportar-se como se não tivesse interesses próprios e ainda hoje hesita quanto a objectivos nacionais permanentes.
O fim da guerra não trouxe a tão almejada riqueza, que se criaria com os recursos afectos àquela. Pelo contrário, já se gastou parte das reservas em ouro e cada português passou, subitamente, a dever 500 contos ao estrangeiro. Em 1975, com o país quase à beira da guerra civil, cerca de 700 mil "retornados" (cerca de 9 por cento da população) caíram, de repente, no "jardim à beira-mar", com todo um cortejo de problemas que, graças a um "milagre" de solidariedade nacional, acabaram por se resolver sem crises de maior.
 |
| Ver aqui |
Perdemos a maior parte da nossa liberdade estratégica e ficámos enfraquecidos e divididos como comunidade. Fomos "empurrados", mais tarde, para a CEE (onde corremos o risco de ser "colonizados"), quando podíamos ser uma CEE sozinhos! Tínhamos recursos, população e mercado para isso. Faltava-nos tecnologia e financiamentos, mas nada disso era difícil e muito menos impossível de obter. É bom não esquecer que ao longo de oito séculos de história, a Europa nunca nos ajudou quanto tínhamos crises, bem pelo contrário, sempre nos utilizou como moeda de troca para dirimir questões que em nada nos diziam respeito.
Finalmente, perderam as populações ultramarinas, nomeadamente aquelas em cujos territórios houve luta armada, que acabou por durar mais tempo e causou um número incomensuravelmente maior de mortos e foi muito mais destrutiva do que os 13 anos em que Portugal se defendeu da guerrilha.
A situação foi catastrófica. Houve guerra, fome, doença, corrupção, paralisação quase total da vida produtiva, ditadura, desrespeito pelos direitos humanos, negação da liberdade individual, endividamento galopante, desperdício de recursos, exploração estrangeira (essa sim neocolonial), racismo, etc. Apenas Cabo Verde atravessou toda esta fase com relativo sucesso.
Hoje, felizmente, há paz, mas também lambem-se as feridas. Porém, não há nos territórios que outrora foram Portugal qualquer sentimento de ódio contra os portugueses. Mas há muita nostalgia. Foi este o resultado final de um processo que se iniciou em Lisboa e que não se soube ou não se conseguiu controlar, por muito que isso nos custe a admitir».
João José Brandão Ferreira («Em Nome da Pátria. Portugal, o Ultramar e a Guerra Justa»).
«Na madrugada de 25, o presidente do Conselho sai da sua casa na rua Duarte Lobo, no Bairro de Alvalade, e dirige-se, na companhia do seu adjunto militar, comandante Coutinho Lanhoso, para o Quartel do Carmo, sede do Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana. É uma decisão estranha, para quem conheça Lisboa. Na verdade, o Carmo aparece, por toda a I República e mesmo durante o Estado Novo, como o reduto obrigatório dos governos ameaçados por rebeliões ou intentonas. Dada a fidelidade e a força da GNR era lógico que assim fosse.
Entretanto, muita coisa mudou. Com o armamento actual, com a existência de meios aéreos, o Carmo deixara de ser reduto seguro para ser uma ratoeira. Quem para ali vai, de lá só poderá sair abrindo caminho através das ruas estreitas daquele ponto da Baixa, pouco propícias a movimentos de tropas. É o último lugar para o chefe de um governo que, a braços com um movimento militar revolucionário, pretenda coordenar a defesa, para o que terá, naturalmente, de ter liberdade de movimentos.
Além disto há um plano de recolha de altas entidades, que funcionou no 16 de Março e prevê que o presidente do Conselho se dirija para a sede da 1.ª Região Aérea, em Monsanto, onde os ministros se lhe reunirão, vindos do ministério do Exército.
Alterando, incompreensivelmente, este dispositivo, Marcelo vai para o Carmo. Pelo caminho encontra já barreiras de unidades revoltosas que o deixam passar. (Esclareça-se que não atribuímos a este pormenor segundas interpretações, pois apesar de insólito, pode muito bem enquadrar-se num clima de nervosismo e improvisação que vai dominar todos os acontecimentos).
No Carmo, o presidente do Conselho é recebido pelo General-Comandante da GNR, que fica muito surpreendido ao vê-lo ali e se mostra preocupado com a sua segurança, fazendo-lhe notar que não é o lugar mais próprio para o chefe do Governo.
No ministério do Exército, Silva Cunha, Andrade e Silva, Moreira Baptista, os irmãos Luz Cunha, Viana de Lemos esperam em vão a chegada de Marcelo Caetano que não só não vem, como não lhes comunica nenhumas directivas, nem sequer os esclarece onde se encontra.
O mais estranho é a telefonia. O Rádio Clube Português, nas mãos dos revoltosos, transmite ininterruptamente. Debalde as pessoas procuram nas outras emissoras escutar um porta-voz governamental. E, pensam alguns, se o poder não tem força para silenciar o emissor da Sampaio e Pina, é porque está em maus lençóis, se é que não perdeu já o controlo da situação.
Mas será que ninguém se lembrou desta medida elementar que é calar a transmissão do Rádio Clube? Logo no início dos acontecimentos, a DGS entrou em contacto com o presidente do Conselho. Que há um "comando" de 20 homens pronto para atacar as instalações do emissor. Contando com gente bem treinada neste tipo de golpes de mão, com larga experiência da guerra em África e ainda por cima com nada a perder, é de esperar que a iniciativa seja coroada de êxito. De qualquer modo é preciso fazer alguma coisa.
Marcelo proíbe a DGS de levar por diante qualquer acção desta natureza. Recusar-lhe-á autorização por todo o dia, mesmo quando, em desespero de causa, se pensa que o seu pessoal, sozinho, poderá acabar rapidamente com o golpe em Lisboa. Do mesmo modo proibirá a GNR e a PSP de actuarem, sob o pretexto de que não quer sangue. Também ao 2.º Comandante em exercício da Região Militar de Évora, que lhe comunica estar pronto a marchar para a capital com unidades fiéis ao Governo, o presidente do Conselho diz que aguarde as suas instruções. Que nunca vêm.
Sem qualquer coordenação ou orientação superior, as forças leais ensaiam manobras mais ou menos desencontradas para resistir ao "inimigo". Evitam-se os choques, que o chefe do Governo parece ser o principal interessado em evitar. Alguns indecisos resolvem aderir, como a Escola de Fuzileiros. Os decididos a atacar os revoltosos, como sucede entre oficiais da Força Aérea, esmorecem perante a inoperância dos seus superiores, paralisados também pela falta de comando governamental. A maioria assiste, espera. [Muitos hão-de estranhar que o núcleo de oficiais generais conservadores, mais atentos ao problema e pouco confiantes na fidelidade e competência da Administração, não tivessem preparado nada para uma hipótese do tipo 25 de Abril. Havia, ao que parece, um plano, que repousava na lealdade e eficiência, de então, das tropas pára-quedistas, que tinham várias companhias operacionais na metrópole: as instruções eram para que, estas forças, em caso de qualquer ocorrência subversiva militar entrassem em acção, ocupando, subsequentemente, os objectivos que fossem sendo tomados pelos revoltosos, forçando estes, pelo menos, a negociar. Na manhã de 25 de Abril, em cumprimento do estabelecido, o general Kaúlza de Arriaga accionou o sistema, através do general Troni, que pelas funções que ocupava na Força Aérea era a pessoa competente para dar as ordens. Passada cerca de meia hora, Troni comunicou a Kaúlza que pusera em execução o projecto mas que as unidades se recusavam a marchar, pelo que não havia nada a fazer. Meses depois do 25 de Abril, o general Kaúlza de Arriaga foi procurado por alguns oficiais pára-quedistas que se queixaram, amargamente, de nunca terem recebido ordens para actuar no momento da revolução, ao contrário do que ficara estabelecido. Surpreendido, Kaúlza informou-os de que as instruções as transmitira, a tempo e horas, pelo canal que ficara concertado. Dir-se-ia que o general Troni se absteve de fazer seguir o plano].
É a dêbâcle. Através de palavras de ordem, o Partido Comunista atirou para as ruas a sua gente, que se mistura e confraterniza com o militares. Ninguém sabe do chefe do Estado, afora um curto período de tempo em que, a partir do forte de Giribita, tenta convencer algumas unidades a intervirem. Alpoim Calvão corre Lisboa, sob instruções do Chefe do Estado-Maior da Armada, à procura de um morteiro de 81 para calar o Rádio Clube. Cerca das nove da manhã dirigira-se à sede da DGS, de que fora instrutor. Quando aí se encontra, chega uma força de fuzileiros navais que aparentemente se destina a atacar as instalações. O pessoal da Segurança mostra-se disposto a resistir. Receia-se a confrontação, que seria sangrenta.
Calvão consegue, entretanto, parlamentar com os atacantes, alguns dos quais comandou e convence-os a retirar sem mais problemas. Dali continua a sua busca sem êxito, de um modo de calar o Rádio Clube. Ainda vai a Lanceiros 2, onde se refugiaram os ministros militares, depois de se escaparem do Terreiro do Paço. Também ali acabam de sair, num helicóptero, para Monsanto.
Reina perfeita confusão. No Estado-Maior do Exército, as notícias são contraditórias. Alguns chefes de Repartição informam que a situação está praticamente controlada. De facto, a dada altura, a coluna da Escola Prática de Cavalaria, comandada pelo capitão Salgueiro Maia, que se encontra nas imediações do Carmo, cercando o aquartelamento, parece por sua vez estar cercada por forças de Cavalaria 7 e da GNR, isto é, apanhada entre dois fogos. Mas também, inexplicavelmente, nada acontece. As forças leais retiram-se, sem dar um tiro, deixando os blindados da EPC, à mistura com muitos civis, em frente do que simboliza, aparentemente, o poder constituído - o chefe do governo, Marcelo Caetano, que para ali foi de madrugada, como que à espera deste momento. Para além do ambiente de kermesse, dos pormenores ridículos que vão rodear o final do drama, há um elemento curioso. Os sitiados são em maior número que os sitiantes. Mas isto importa pouco, pois, mais que o início de uma tragédia, trata-se da última cena de uma comédia, estudada e preparada no melhor estilo do teatro de enganos - a transmissão de poderes, para que o poder não caia na rua.
O final é tão equívoco e surrealista como o entrecho. Na manhã de 25 o secretário de Estado da Informação e Turismo, Pedro Corte Real Pinto, entra na história do regime pela porta de saída. Diplomata de carreira, está no Governo desde a remodelação de Novembro, quando substituiu Moreira Baptista. Considera-se um "liberal" e fora dos meandros da política interna dos últimos anos. Conhece de fresca data o general Spínola, com quem teve encontros episódicos e cordiais. Acordado de madrugada por um alto funcionário da Emissora Nacional, Pedro Pinto dirige-se ao seu gabinete no Palácio Foz. Impressiona-o o espectáculo de Lisboa, nessa manhã. Receia uma hecatombe.
Dirige-se ao Grémio Literário, no coração da Baixa. Daí vai tentar, assegura que por sua iniciativa, uma "solução pacífica", que evite o que lhe parece poder ser uma jornada sangrenta. Redige então uma carta, dirigida ao general António de Spínola, a quem pede que utilize o seu prestígio para tomar o comando do Movimento e da Revolução. Nuno Távora, secretário de Pinto, recebe a incumbência de levar a missiva à residência do General. Este, que se encontra protegido por oficiais da sua confiança, recebe, com aparente relutância, a proposta. Que é tarde, que o tivessem ouvido antes. Távora liga para o Grémio Literário, dando conta desta recepção a Pedro Pinto; este pede então para falar pessoalmente com o antigo governador da Guiné. Muito instado, Spínola acede a tomar uma iniciativa, no sentido de intervir na situação, desde que sejam satisfeitas duas condições: uma, que um grupo de oficiais do Movimento, um dos quais, pelo menos, com a patente de Coronel, lho solicitem; a outra, que o chefe do Governo assine um documento pelo qual, formalmente, lhe entregue o poder.
Exigências estranhas ou uma preocupação de legalidade face à nova e à velha ordem? Neste último caso, a pessoa competente para transmitir o poder não seria Marcelo Caetano, mas o almirante Thomaz, chefe do Estado, que é, na ordem vigente, o detentor dos poderes constitucionais.
Equívoco ou cumprimento de um plano predeterminado, congeminado nestas semanas derradeiras? As dúvidas persistem e tentar adiantar explicações para estes factos um tanto estranhos e desconexos é ainda (e sê-lo-á por muito tempo) entrar em meras conjecturas. Que ficam para quem as quiser arriscar.
Prosseguindo nos seus bons ofícios, Pedro Pinto contacta o quartel do Carmo, cujo telefone responde normalmente. Pede que lhe liguem ao presidente do Conselho. Atende Rui Patrício, ministro dos Negócios Estrangeiros, a quem o secretário de Estado da Informação expõe as linhas gerais da sua ideia, pedindo de seguida que lhe passe Marcelo Caetano, que aceita também fazer a sua parte no esquema, assinando a tal declaração de transmissão de poderes.
Nesta sequência surrealista, em jornada onde o trágico estará sempre ao lado do grotesco, Távora e Pedro Feytor Pinto (alto funcionário da SEIT de conhecidas simpatias spinolistas que, entretanto, se reunira ao grupo), correm à Pontinha, onde se encontra o PC do Movimento, para recolher as assinaturas pedidas por Spínola. Que são conseguidas.
Daí vão ao Carmo, passando através do cordão sitiante (Távora conhecia o capitão Maia, que fora seu instrutor) para receber o documento onde Marcelo Caetano põe termo, sem sangue nem competência para o fazer, a quase meio século de regime.
"Em que estado me entrega este país, Sr. Presidente!" - as palavras de Spínola para Marcelo Caetano, quando chega ao gabinete onde o chefe do Governo vencido passou o dia, sem uma palavra para ninguém, nem mesmo para os que ainda tentavam organizar a defesa.
Lisboa está deserta neste fim de tarde cinzento, afora a multidão que se concentrou no largo do Carmo para assistir ao espectáculo. É um pátio dos milagres, com Francisco de Sousa Tavares a falar ao povo por um megafone.
Num fecho que os moralistas interpretarão a seu gosto, Marcelo sai no interior de uma Chaimite que a multidão acompanha com palmadas, pontapés e vaias, enquanto vitoria o general Spínola. Mas tudo é já simbólico, para a História. Grupos de esquerdistas aproveitam estes primeiros momentos de liberdade para apedrejar os Bancos no quadrilátero pombalino, onde se situam as sedes destes santuários da burguesia, enquanto a eterna bafejada das revoluções, a populaça, saqueia lojas na rua Nova do Almada.
Mas o poder não caiu na rua. Por enquanto... A PM começa a patrulhar a cidade e alguns populares clamam, contra os garotos que ameaçam estragar uma jornada brilhante.
Há uma mistura de euforia e nervosismo. Os bons conservadores, à falta de comunistas e assaltos ao domicílio, sossegam-se mutuamente, com os boatos sobre a composição da Junta. Há mesmo quem abra champanhe para celebrar. "Isto é um golpe das direitas", adianta um espírito mais sibilino, reforçando a tese com o comunicado do Programa do Movimento das Forças Armadas que fala em Portugal pluricontinental!
Nem toda a gente pensa assim. Um pessimista, ao ver passar no topo norte do Campo Grande, sob a chuva miudinha, empoleirados nas "Berliets" os galuchos vitoriosos, que dão gritos e vivas, saudando não se sabe quem, comenta com amargura - "Portugal acabou!"
 |
Ver aqui |
Na sala não dão muita atenção ao prognóstico. Alguém acaba de perguntar, distraidamente, como se não lhe interessasse muito saber - "Onde estará o Costa Gomes?"
Na altura não se faz ideia. Mais tarde virá a saber-se, como muitas coisas mais. O futuro presidente da República passou todo o dia fora de jogo. Como sempre, não se deu por achado. No Hospital Militar da Estrela, acompanhava sua mulher num check-up que, com a devida antecedência, marcara para 25 de Abril.
Vai de lá para a Junta.
Cai o pano».
Jaime Nogueira Pinto («Portugal - Os Anos do Fim. A Revolução Que Veio de Dentro»).
«Ao contrário das esperanças de alguns, não se começou vida nova, mas rasgou-se um véu que encobre uma realidade insuportável. Para começar, escreveu-se na nossa história uma página ignominiosa de cobardia e irresponsabilidade, página que, se não for resgatada, anula, por si só todo o heroísmo e altura moral que possa ter havido noutros momentos da nossa história e que nos classifica como um bando de rufias indignos do nome de nação. Está escrita e não pode ser arrancada do livro. É preciso lê-la com lágrimas de raiva e tirar dela as conclusões, por mais que nos custe. Começa por aí o nosso resgate. Portugal está hipotecado por esse débito moral, enquanto não demonstrar que não é aquilo que o 25 de Abril revelou. As nossas dificuldades presentes, que vão agravar-se no futuro próximo, merecemo-las, moralmente. Mas elas são uma prova e uma oportunidade. Se formos capazes do sacrifício necessário para as superar, então poderemos considerar-nos desipotecados e dignos do nome de povo livre e de nação independente».
António José Saraiva («O 25 de Abril e a História»).
«Em relação ao Ultramar, tudo o que se passou depois do 25 de Abril foi uma traição. Incluindo o acordo de Alvor. Uma traição praticada contra o próprio povo da Metrópole.
O 25 de Abril, com as suas consequências que os revoltosos não quiseram prever, resultou no desmoronamento dantesco de uma Nação com raízes seculares. Uma nítida traição, reconhecida num documento da Revolta Activa, o expoente máximo da intelectualidade que concebeu o MPLA, desviado e deformado do seu programa inicial pelos despautérios e pela autocracia de Agostinho Neto, claramente denunciados através, até, das emissões de Angola Livre e de Angola Combatente, a partir da Rádio Brazzaville.
Correndo, embora, o risco de me repetir, quero insistir na certeza do fim da guerra. Decrescera o número de operações e diminuíram, em igual proporção, os acidentes causados pela movimentação das tropas. As estatísticas militares o confirmaram, apesar de omitirem elementos vitais.
O documento da Revolta Activa, a que aludi, prova, à saciedade, em pontos essenciais, que o MPLA estava exausto; não tinha quadros; não tinha armamento; não tinha organização logística. O MPLA não tinha absolutamente nada. Chipenda, em 25 de Abril, comandava, no Leste, trinta homens armados. O grupo de Agostinho Neto tudo perdera.
Conhecido pela declaração dos dezanove intelectuais de Angola do MPLA, tal documento traduz, exuberantemente, alarme e pedido de socorro, apelo à união dos dissidentes; do grupo de Agostinho Neto, do grupo da Revolta Activa; e do grupo do Leste, dirigido por Chipenda.
Os dezanove intelectuais da Revolta Activa puseram por escrito o seu ansioso pensamento antes da reunião de Lusaka, em 1973, na qual Chipenda apresentou um relatório em que acusou, frontalmente, Agostinho Neto de hediondos crimes, como o de ter assassinado companheiros de luta, porque discordavam da orientação que ele impunha ao movimento. Agostinho Neto abandonou a sala da reunião e Chipenda foi eleito presidente do MPLA.
Talvez por interferência de Mobutu (desconheço os pormenores), Mário Pinto de Andrade, Chipenda e Agostinho Neto reuniram-se pela segunda vez. Inesperadamente, Chipenda abdicou da presidência, em favor de Agostinho Neto, mantendo-se na vice-presidência com Mário Pinto de Andrade. Mas, logo a seguir, Mário Pinto de Andrade e Chipenda falaram aos microfones da Rádio Brazzaville, para uma emissão destinada a Angola Combatente, que Agostinho Neto proibiu.
Reacendeu-se, abertamente e irredutível, a incompatibilidade dos três chefes. Agostinho Neto manteve-se no MPLA; Mário Pinto de Andrade, na Revolta Activa; e Chipenda, na Revolta Leste. Mais tarde, o terceiro uniu-se à FNLA».
Pompílio da Cruz («Angola: Os Vivos e os Mortos»).
«Nunca pensámos que a independência [de Angola] seria o país convertido numa imensa prisão e num cemitério».
Luís Fernandes do Nascimento
«É frequente ouvir-se dizer, nos círculos acomodatícios da capital, que em França ainda existem - hoje - campos para os retornados da Argélia. Porquê, assim, tanta celeuma e tanta desgraça com os "retornados" de Angola? Trata-se de uma atitude, como qualquer outra, para evitar o incómodo de pegar o toiro pelos cornos.
A França, na Argélia, perdeu a guerra. A guerrilha urbana era tão intensa, dramática e quotidiana, que tornava impossível qualquer administração. O facto de o exército francês ser obviamente superior não significava - na política e na psicologia dos cidadãos - praticamente nada. A guerra tinha chegado ao quarto de dormir de cada um. Ao terrorismo respondia-se com terrorismo, à bomba respondia-se com outra bomba... no café, no cinema, na rua, na casa de banho. As populações urbanas passaram a odiar-se de morte. E viviam aterradas. Não havia nada a fazer senão negociar e "retornar". Mas, mesmo assim, os portos argelinos não ficaram transformados em bases de guerra soviéticas em frente da França. Houve previsão e bom senso».
Paradela de Abreu (in Nota do Editor ao livro de Pompílio da Cruz, «Angola: Os Vivos e os Mortos»).
«Fala este livro de um drama. Do meu - talvez o mais pequeno de todos. Do de todos esses que conheceram o inferno prisional angolano nos anos que se seguiram à independência, no contexto de uma guerra que encarcerou o povo angolano em fronteiras de violência sem medida. A máquina de guerra sustentou o poder do MPLA, perpetuou uma luta fratricida e enredou na repressão o quotidiano de muitos, angolanos e estrangeiros, fazendo da jovem nação campo de refugiados, deslocados e orfãos. Falo de holocausto, não por desconsiderar aquele que a história contemporânea da Europa viveu - o holocausto por antonomásia -, mas porque a desumanidade tamanha desse não pode ocultar outros holocaustos que o curso dos anos somou à história de muitos povos. Dessa nação angolana falo eu aqui, nação a fazer-se cujas dores não eram de parto mas de luto por tantos filhos supliciados e exterminados com a ajuda de exércitos estrangeiros».
Américo Cardoso Botelho («Holocausto em Angola»).
«Dia-a-dia se cavava mais fundo o fosso que dividia os movimentos e a população. Aumentavam os roubos, os assaltos, os saques, a selvajaria, cujos autores nem sempre eram marginais, mas pessoas que, até ao 25 de Abril, se comportavam como cidadãos decentes e zelosos no cumprimento do dever e no respeito pelas relações entre as etnias.
Havia constantes incidentes que punham frente a frente o MPLA e a FNLA. Desordens quase sempre originadas pelo MPLA, que as tropas portuguesas aplaudiam quando não favoreciam em participação activa.
Era vulgar militantes do MPLA e militares portugueses saudarem-se amistosamente, com as mãos levantadas e os dedos em "V", acamaradando e insultando-nos com uma identidade ideológica, que, simultaneamente, nos ameaçava. As Forças Armadas Portuguesas ajudavam o MPLA a apossar-se de Luanda, mantendo-se passivas ante os ataques à etnia branca.
Ninguém se enganava sobre o que o destino lhe reservava, em meio ao confusionismo e à incoerência absoluta.
Chegou a fome. A anarquia reinou nas regiões que a FNLA ocupara, escorraçando não só as FAPLA, como também as populações aderentes ao MPLA. Forças daquele movimento desceram para o Ambriz, para Carmona, para a zona da etnia Quicongo. O MPLA garantia que, contra ventos e marés, prosseguiria a guerra até à "libertação" de Angola.
Saltava aos olhos, perante o fracasso do Governo de transição, que os movimentos nunca se reconciliariam num território quase independente. Usavam, qualquer deles, a mesma linguagem: ocupar, desmantelar, esmagar, vencer e - pior - vingarem-se.
Em Maio, numa reunião convocada pela OUA para Kampala, Idi Amin Dada e Mobutu concordaram que a solução do conflito seria internacionalizá-lo, com a participação da ONU e da própria OUA. Amin propôs que um exército de dez mil homens, armados pela OUA, interviesse.
Em Junho, na capital angolana, a ferocidade não conheceu limites. O MPLA, com a colaboração de militares portugueses, reduziu a escombros as delegações da FNLA. Móveis e documentos juncarem as ruas de destroços, aos quais foi largado fogo.
Seguiu-se uma campanha desenfreada para explorar o obscurantismo de brancos e negros. Dizia-se que a FNLA assava crianças, arrancava corações, bebia o sangue dos inimigos; que, na delegação da Avenida do Brasil e no quartel do Casenga tinham sido descobertas salas de tortura onde se escondiam, dentro de frigoríficos, frascos com sangue e corações humanos; que havia corpos de pessoas queimadas e mutiladas.
A médica encarregada do laboratório da Faculdade de Medicina desmentiu esse tipo de propaganda, divulgando que o sangue e os corações pertenciam ao Museu Anatómico. Foi presa, ante o pavor dos filhos. A ameaça de greve geral dos médicos salvou-a. Libertaram-na, expulsando-a para Lisboa.
Todavia, mesmo das mais absurdas afirmações, que os factos contradizem, alguma coisa fica. E, assim, a posição da FNLA tornou-se insustentável em Luanda. O MPLA, com forças portuguesas, iniciou uma perseguição tenaz. Presenciei, na Rua D. João II, à entrada da Rua coronel Artur de Paiva, "chaimites" dispararem sobre soldados da FNLA, que fugiam desarmados e cujo medo era tão grande, que, enquanto corriam, despiam a farda, para salvar-se. Pretendiam alcançar o Bairro do Saneamento onde viviam os ministros da FNLA e o largo do Palácio, na esperança de, ali, conseguirem protecção. Na Calçada de Santo António, defronte da Rádio Iglesia, repetiu-se igual caça ao homem. A tropa portuguesa sorria perante o espectáculo e as balas não paravam de chover. Os mortos - não sei quantos - lá ficaram, tombados nos passeios ou no pavimento das ruas. Os que viveram foram retirados pela UNITA e levados para as terras donde eram oriundos.
Restou, à FNLA, em Luanda, a Fortaleza de São Pedro da Barra cuja guarnição resistiu, durante muito tempo, aos assaltos do MPLA. Recebendo reabastecimento à custa de subterfúgios que ultrapassam as mentes mais imaginosas, os militares cercados não se rendiam. Uma ambulância foi destruída e nela morreram enfermeiras e enfermeiros. Granadas explodiram nos depósitos da Petrangol, da Refinaria de Luanda. A cidade inteira esteve prestes a sumir-se num mar de Labaredas que nada poderia apagar, se o combustível derramado se inflamasse.
Para desespero da FNLA, um dos seus representantes no Governo, o ministro da Agricultura, Neto, assinou a rendição dos sitiados e fugiu para a Suíça onde se reuniu à mulher e aos filhos. Os defensores da Fortaleza baixaram os braços e saíram da cidade sem serem molestados pelo MPLA. Constou, na altura, que a FNLA minara o porto de Luanda e que, portanto, o MPLA não poderia receber armamento desembarcado de navios da Cortina de Ferro.
Não foram necessários muitos dias para que a UNITA seguisse as pisadas da FNLA, abandonando Luanda. O Governo, naturalmente, desapareceu. O MPLA dominava a cidade e os subúrbios.
O "poder popular" inaugurou a era dos grandes assaltos, dos raptos, das buscas domiciliárias sob nenhum motivo, das violações de mulheres e raparigas, até de crianças em plena via pública, e diante dos maridos e pais, das torturas, das mutilações, dos assassínios a sangue frio e só pelo prazer de matar, das casas incendiadas por desfastio, e das prisões.
O MPLA possuía diferentes tipos de cadeias e felizes eram aqueles que escapavam às sevícias mais abjectas ou à detenção nos curros da praça de touros.
Um funcionário do Matadouro foi preso com um filho de vinte anos, bateram-lhe durante horas e abriram-lhe a cabeça à catanada, inutilizando-o para o resto da vida.
Ao marido de uma escriturária da DGS, depois de quase o matarem à pancada, enrolaram-lhe, nos testículos e no pénis, um rastilho de pólvora. Quando se preparavam para atear fogo, um soldado das FAPLA "condoeu-se" e convenceu os camaradas a colocarem o rastilho num dos antebraços da vítima, onde o fizeram arder.
Homens e mulheres enlouqueceram ou morreram nas masmorras secretas dos muceques.
O engenheiro Bandeira, administrador da Petrangol, ficou com os braços e pernas deformados por uma sessão de tortura, finda a qual o amarraram com tal força que o sangue não circulava.
Um pasteleiro, morador no bairro da Cuca, foi espancado e obrigado a assistir à violação da mulher e das filhas. No dia seguinte, a família foi ao Palácio, relatando a sua odisseia ao general Silva Cardoso. O governador desceu ao pátio e, perante o que ouviu, chorou. Não podia fazer mais nada.
Não chegariam as páginas de um volumoso livro para registar, caso a caso, o que sofreram os luandenses nessa época.
É então, em Junho-Julho, que se prenunciou o grande êxodo, avalanche indescritível da miséria de seres humanos acossados por feras.
Agosto, Setembro, Outubro de 1975 são três meses que os angolanos de várias etnias jamais esquecerão, a dor, o luto, a fuga sem esperança e sem destino, fabricando-lhes uma cruz insuportável. Se não foste tu, foi o teu pai - o aforismo ressuscitou na inversão dos valores mais caros ao Homem.
O MPLA não escolhia, na bestialidade dos meios para atingir o fim: ser o único detentor do Poder. A complacência e a cobardia das tropas portuguesas eram encorajamento para os carrascos.
Dentro da boa técnica comunista, o MPLA sempre aproveitou a propaganda para mobilizar as massas e atraí-las, emocionalmente a si. Foi o que fez, em Dezembro de 1974, com a morte de um negro, o enfermeiro Benge - Catarina Eufêmia angolana e de calças. Assassinado a tiro, em discussão de taberna num muceque, não se curou das causas, nem da identidade do criminoso. Para o MPLA, o incidente calhava às mil maravilhas para montar um espectáculo de envergadura e de resultados de antemão assegurados. Por mor de convocações profusamente distribuídas, por apelos na Rádio, por notícias nos jornais, multidões acompanharam o funeral do enfermeiro, que foi promovido a mártir. Pobre do Benge, um indivíduo sem qualidades, ignorado habitante de Luanda, que, cortada a sua vida numa infeliz altercação de taberna, serviu ao MPLA de bandeira para atrair adeptos, principalmente nos muceques.
A criminalidade correu em Angola, como rio caudaloso de amargo e farto primitivismo».
Pompílio da Cruz («Angola: Os Vivos e os Mortos»).
«A guerra ganha por todos nós, no terreno e com galhardia, acabou por se perder no Terreiro do Paço. Como disse Camões, "dos portugueses alguns traidores houve algumas vezes"».
Óscar Cardoso (in prefácio a Fernando Cavaleiro Ângelo, «Os Flechas. A Tropa Secreta da PIDE/DGS na Guerra de Angola»).
«O livro Purga em Angola, de Dalila Cabrita e Álvaro Mateus, refere-se aos milhares de mortos do 27 de Maio de 1977, decorrentes da "depuração" feita no seio do Movimento para a Libertação de Angola (MPLA). Por outras palavras, foram arbitrariamente mortos, por fuzilamento ou execuções sumárias, membros do Comité Central, ministros, comissários ou governadores das províncias, pessoal do Departamento de Informação e Segurança de Angola (DISA), bem como das Forças Armadas de Libertação de Angola (FAPLA). Enfim, um sem-número inacreditável de mortos num cenário apocalíptico caracterizado por decapitações, pessoas famintas que desenterravam os mortos para comer, pessoas sepultadas vivas em valas comuns, e outras que, depois de fuziladas, eram lançadas de avião ou de helicóptero para o mar ou para a mata. Demais, uma tal purga atingiu igualmente amigos, simpatizantes e familiares das dezenas de milhar de mortos presos, interrogados, torturados e, por fim, executados sem julgamento».
Miguel Bruno Duarte
«A 5 de Dezembro de 2009, uma patrulha de soldados das Forças Armadas Angolanas (FAA) enterrou 45 garimpeiros vivos que se encontravam num túnel a trabalhar, em Cavuba, na fronteira entre a comuna do Luremo, 30 quilómetros a norte de Cafunfo, e o município de Xá-Muteba.
Linda Moisés da Rosa afirma que "os soldados avisaram o Soba Ngana Katende, do Bairro Cavuba" para que este ordenasse a retirada imediata dos garimpeiros da área, sob pena de morte.
"O meu filho Kito Eduardo António [primogénito] estava lá e avisou o irmão a retirar-se. O Pereira disse que não, porque tinha recolhido cascalho e tinha antes de o lavar. Os soldados chegaram com barra minas, arrancaram os paus que reforçavam a cobertura do buraco [escavado em forma de túnel] e fizeram-no desabar. Estavam lá 45 garimpeiros. [Os soldados] foram-se embora", explica a camponesa.
 |
Segundo Linda Moisés da Rosa, "morreram ao todo 45 garimpeiros. As pessoas não tinham coragem de retirar os cadáveres. O Kito recuperou o corpo do irmão, do Marco João, que é aqui do bairro da Antena, onde vive a mãe; e de um congolês chamado Karinike, seu amigo".
"Eu, pessoalmente, a mãe do Marco e muita gente do Luremo, onde muitas mães perderam os filhos também, fomos à polícia. Estes mandaram-nos ir ter com as FAA. Os militares correram connosco, com as armas, na unidade ao lado do Hospital de Cafunfo", afirma a mãe.
Em Março de 2010, durante uma das visitas de pesquisa ao Cuango, gravei a conversa que tive com Linda Moisés da Rosa, em companhia do editor do Wall Street Journal, Michael Allen.
No regresso a Luanda, dirigi-me ao Estado-Maior General das FAA, com o propósito de dar a conhecer a gravidade dos abusos do exército no Cuango às chefias militares. A secretaria do Estado-Maior General das FAA encaminhou-me para a Direcção de Educação Patriótica, do outro lado da rua, onde tive a oportunidade de escutar, com os membros do secretariado da referida direcção, o depoimento de Linda Moisés da Rosa. Estes manifestaram horror perante o que ouviram e tomaram nota dos meus contactos para informação à sua chefia. E eu mais não soube das diligências internas.
A 3 de Abril de 2010, o Semanário Angolense revelou o conteúdo do depoimento de Linda Moisés da Rosa, enquanto as FAA ignoraram o caso. O mesmo aconteceu quando, a 19 de Junho de 2010, o Wall Street Journal publicou uma longa reportagem - "Diamantes Ressurgem em Angola" -, fazendo referência aos 45 garimpeiros enterrados vivos pelas FAA. O exército nem sequer respondeu às solicitações para comentar sobre o assunto.
Por sua vez, o secretário de Estado dos Direitos Humanos, general António Bento Bembe, disse ao jornalista americano: "Sei que muitos desses casos acontecem, e sei de muitos outros sobre os quais [o jornalista] ainda não ouviu falar".
Apesar da sua disponibilidade para falar, a posição do secretário de Estado dos Direitos Humanos é controversa. Contra o general Bento Bembe pende um mandado internacional de captura por suspeita de terrorismo. Em 2005, os Estados Unidos da América solicitaram a intervenção da Interpol para a captura do então comandante das forças separatistas da FLEC - Renovada, pelo sequestro de um cidadão americano em 1990, em Cabinda. [Uma fonte de informação norte-americana reconheceu que o mandado de captura, solicitado pelo seu país à Interpol, se mantém em vigor. Admitiu, no entanto, que na manutenção das boas relações bilaterais entre ambos os estados, a administração Obama prefere guardar silêncio sobre o caso].
A manutenção do general no cargo revela o nível de arrogância e a falta de seriedade com que o executivo desqualifica o respeito pelos direitos humanos. A mesma atitude se aplica ao diálogo com a comunidade internacional sobre a questão.
E é este o general que serve de interlocutor principal do executivo junto da comunidade internacional, na abordagem dos direitos humanos.
Por dever de ofício, contactei algumas vezes o porta-voz do Governo Provincial da Lunda-Norte, António Mussumari, para uma entrevista com o governador. Pretendia obter a versão oficial sobre os casos ora tratados. Apesar da simpatia do interlocutor, não houve qualquer resposta oficial aos pedidos.
O MPLA, na pessoa do seu secretário do Bureau Político para a Informação, Rui Falcão Pinto de Andrade, acedeu ao pedido de audiência, a 11 de Fevereiro de 2011. O também deputado tomou nota da narração sobre o estado actual dos direitos humanos no Cuango e dignou-se a consultar a sua direcção para eventuais medidas a tomar. Para suporte, o deputado recebeu, via e-mail, a 14 de Fevereiro de 2011, a narração de grande parte dos casos imputados às FAA. Não mais respondeu.
O massacre cometido pelas FAA, ao qual se aditam mais 54 casos, devidamente identificados e incluídos no presente relatório, pela sua escala ultrapassam a medida jurídica. A Lei dos Crimes Militares (Lei n.º 4/94 de 28 de Janeiro) proíbe o militar de realizar actos de violência contra cidadãos indefesos, mesmo em tempo de guerra e no decurso de acções combativas (Art.º 47.º).
Em suma, a necessidade de se combater o garimpo ilegal e de regular a actividade mineira de exploração artesanal em momento algum confere ao exército o poder de assassinar cidadãos indefesos e pacíficos. Tal foi o que aconteceu no caso dos garimpeiros enterrados vivos.
A Constituição actual, por sua vez, responsabiliza o Estado (Art.º 75.º. I.º) em actos como o acima descrito, nos seguintes termos:
"O Estado e outras pessoas colectivas públicas são solidária e civilmente responsáveis por acções e omissões praticadas pelos seus orgãos, respectivos titulares, agentes e funcionários, no exercício das funções legislativa, jurisdicional e administrativa, ou por causa delas, de que resulte violação dos direitos, liberdades e garantias ou prejuízo para o titular destes ou para terceiros".
Num artigo publicado meses antes do massacre, o juiz presidente do Supremo Tribunal Militar, general António dos Santos Neto, alude às virtudes da justiça militar em Angola:
"Para além de ser uma justiça eficiente, é também uma justiça preventiva, na justa medida que muitas vezes se antecipa ao crime, indo às unidades catalogadas com maior índice de criminalidade, para in loco, através de palestras, exemplos práticos, divulgação de leis e outras actividades de âmbito jurídico, criar nos efectivos militares a cultura de respeito às leis vigentes no país e, em particular, às leis militares e aos regulamentos em vigor das FAA para coesão combativa e defesa da Pátria".
Na realidade, a retórica do alto-magistrado da justiça militar, na região dos diamantes, é letra morta.
Uma das consequências imediatas sobre a imagem das FAA, no Cuango, tem sido a sua caracterização pejorativa por parte da juventude, que as considera como uma milícia, devido ao seu comportamento bárbaro e delinquente. Nos depoimentos registados, vários populares referem-se sempre aos soldados como sendo "milícias das FAA".
Teleservice: morte à catanada
A 5 de Fevereiro de 2010, a camponesa Linda Moisés da Rosa perdeu o seu segundo filho, Kito Eduardo António, de 33 anos, morto à catanada por um guarda da Teleservice, em Cafunfo, sua terra natal.
A mãe explica o sucedido. Tendo notado a ausência do seu filho, ante o regresso dos seus colegas de garimpo, decidiu procurá-lo juntamente com outros membros da família, sem sucesso.
No dia seguinte, os colegas de Kito, identificados apenas como Russo, Fezadeiro e Smith, formavam um grupo de garimpo, "dirigiram-se ao bairro e contaram a verdade sobre a morte de Kito", afirma Linda Moisés da Rosa.
Segundo a camponesa, e de acordo com depoimentos das testemunhas oculares, os guardas da Teleservice enfureceram-se com Kito Eduardo António quando este revelou não ter dinheiro para lhes pagar o acesso à mina, insistindo em continuar a lavar o cascalho, para poder depois efectuar o pagamento. "Mataram-no com um golpe de catana na nuca, outro na testa e um terceiro no rosto, do lado direito, e atiraram o corpo ao Rio Cuango", revela a mãe. "Os [guardas da] Teleservice costumam receber dinheiro dos garimpeiros [...] e autorizam-nos a retirar o cascalho da lavaria", denuncia a entrevistada. Linda Moisés da Rosa lamenta: "O Kito não tinha o dinheiro. Pediu para lavar o cascalho e pagar depois. Por isso, mataram o miúdo".
A mãe acrescenta que, para comprarem o silêncio e a cumplicidade dos outros garimpeiros, os elementos da segurança da Teleservice "entregaram quatro baldes de cascalho aos rapazes [Russo, Fezadeiro e Smith]. Os guardas disseram-lhes que o cascalho servia de pagamento para não descobrirem a verdade".
Juntos, familiares de Kito e colegas dirigiram-se à lavaria do Dunge, na área do Pone. "Os rapazes [sobreviventes] vivem no Pone e acompanham-me até ao posto da Teleservice, na lavaria, onde o meu filho foi morto", diz a mãe. "Eles [guardas da Teleservice] perguntaram-me o que eu fazia aí. Eu expliquei que procurava o corpo do meu filho que eles mataram", afirma Linda Moisés da Rosa.
A camponesa relata que os guardas a convidaram a entrar no seu acampamento e com ela se reuniram no jango. Informaram-na de que estavam a cumprir ordens superiores e levaram-na até à zona da lavaria industrial onde os garimpeiros têm feito a recolha de cascalho.
"Eles [guardas da Teleservice] ligaram ao posto do Tximbulaji. O gerente deles ordenou que os seguranças me acompanhassem à beira do rio para procurar o corpo".
Vencidos pelo cansaço e pelo cair da noite, familiares e guardas regressaram ao jango depois de muita procura. Quando os guardas afirmaram terem cumprido com a parte que lhes cabia, Linda Moisés da Rosa resolveu permanecer no jango. "Eu disse que não sairia daí sem ver o corpo do meu filho. Então, o chefe autorizou a guarda a conceder-me cinco dias para localizar o corpo".
Segundo a camponesa, "no terceiro dia de buscas, os guardas disseram-me que estavam a cumprir ordens. Era uma missão mandada. Diziam 'se não matarmos, o governo vai dizer que combinamos com os garimpeiros para dividirmos o dinheiro'".
A camponesa afirma ter informado pessoalmente a Polícia do seu infortúnio. De seguida, soube que as autoridades já estavam a par do caso e que consideravam o seu filho e os outros garimpeiros como culpados pelas suas próprias mortes. Para além da Polícia, a mãe também contactou a administração local e diz que esta se manifestou incapaz de tomar quaisquer medidas "porque é uma missão mandada".
"Eu disse, está bem! Então assim o governo vai governar com quem, se está a matar os jovens?
Eles respondiam que o governo não conta connosco [Tchokwe]. 'Quando dizem o povo, vocês [Tchokwe] não estão incluídos, O governo não vos conta. O governo conta o povo de fora. Vocês [Tchokwe] não'.
Nós não sabemos agora o que somos. Nós nascemos aqui. O rio dos diamantes está aqui, na nossa terra, onde dei à luz o meu filho. O meu Kito bebia a água do Rio Cuango. Foi desta água que lhe dei banho.
Os estrangeiros estão a apoderar-se dos diamantes. Os nossos filhos não podem beneficiar dos diamantes, são mortos.
Os [guardas da] Teleservice disseram-me: 'O teu filho é um zé-ninguém'. Disseram que eu sou ninguém na sociedade e que o meu filho não faz falta em Angola".
A 4 de Março de 2011, a direcção-geral da Teleservice teve um encontro comigo. Houve discussão aberta e cordial sobre os direitos humanos, mas off the record, por solicitação da empresa. Finalmente, a meu pedido, no mesmo dia, Linda Moisés da Rosa pôde expor directamente a sua tragédia familiar a Valentim Muachaleca, director-geral da Teleservice. Este solicitou à camponesa que relatasse o sucedido por escrito e agendou novo encontro. Enviei-lhe por e-mail, a 8 de Março de 2011, o relato que redigi sobre o caso. No dia seguinte, Muachaleca conversou com Linda Moisés da Rosa. No mesmo e-mail, em prol da transparência e da resolução dos actos de violência, descrevi grande parte dos restantes casos. Não obtive retorno.
"Ele disse que os garimpeiros se mataram entre si e que a empresa dele não tinha nada a ver com o assunto", revela a mãe.
Para além de constituírem crimes violentos, os assassinatos como o de Kito Eduardo António não beneficiam em nenhuma medida a política de combate ao garimpo traçada pelo executivo. De forma clara, o caso ilustra, assim como os demais constantes no Capítulo 7, que os efectivos da Teleservice no Cuango controlam o acesso ao garimpo para benefício próprio. Recorrem à violência, em vários casos, para venderem o acesso a uma área de garimpo duas ou mais vezes, escorraçando os seus anteriores clientes, nos esquemas de corrupção, e substituindo-os por outros, mediante novos pagamentos.
Do ponto de vista legal, a Lei sobre as Empresas Privadas de Segurança (Lei n.º 19/92) proíbe-as de realizarem actos de justiça, como investigação ou instrução criminal de qualquer tipo (Art. 4.º, 1.º, a), assim como proíbe "a instalação de sistemas de segurança susceptíveis de fazer perigar directa ou indirectamente a vida ou a integridade física das pessoas" (Art. 4.º, 1.º, b). Por sua vez, de forma específica, a Lei sobre os Diamantes (Lei n.º 16/94 de 7 de Outubro) confere às concessionárias e empresas privadas de segurança ao seu serviço o dever de "prender preventivamente em flagrante delito os agentes dos crimes previstos na presente lei" (Art. 2.º, c), ou seja, os garimpeiros. A mesma lei determina que, imediatamente, "os bens apreendidos e as pessoas detidas devem ser entregues ao Ministério Público ou posto da Polícia Nacional que se encontrar mais próximo do local da detenção ou apreensão, nos termos e no prazo do Artigo 9.º da Lei n.º 18 - A/92, de 17 de Julho" (Art. 4.º). A Lei dos Diamantes realça ainda que "o pessoal das empresas especializadas de segurança deve reger-se pelo mais escrupuloso respeito pelos direitos legítimos dos cidadãos e as disposições legais em vigor" (Art. 26.º).
Os casos registados neste livro revelam, sem quaisquer dúvidas, que a Teleservice viola a legislação em vigor, pois não entrega os garimpeiros à Polícia Nacional, preferindo, com toda a impunidade, torturá-los, assassiná-los, colocando-se acima da lei. A Constituição proíbe a pena de morte (Art. 59.º), mas a Teleservice, com o maior à-vontade, sentencia, de forma arbitrária, garimpeiros à pena de morte e executa-os à catanada ou a tiro.
O potencial de revolta
A situação prevalecente no Cuango tem revelado um sério potencial de conflito entre as comunidades locais, a administração do Estado, as empresas mineiras e as empresas privadas de segurança. Com frequência, a região tem sido palco de motins.
Como exemplo, a 2 de Outubro de 2008, guardas da empresa privada de segurança K&P torturaram até à morte o jovem Luciano Mauango Kandundu, 23 anos, natural de Malanje. Este saíra do banho, no Rio Kinzamba, e dirigia-se para casa quando foi apanhado, de surpresa, numa correria que os guardas empreendiam contra os aldeães do bairro de Muacassengo, na comuna do Luremo. Os guardas haviam torturado, no dia anterior, vários jovens do bairro que se dedicavam ao garimpo na área de Milo Senga. A comunidade decidiu protestar em peso contra a violência, dirigindo-se à zona onde se encontravam os guardas. Os guardas receberam-nos a tiro. Na caça aos manifestantes, detiveram Luciano Kandundu, que, inocente, caminhava à vontade.
Segundo Bartolomeu Kalandula, 27 anos, irmão da vítima, os guardas torturaram Luciano Kandundu com catanas e coronhadas de arma. A seguir, "despejaram-lhe um produto químico que lhe despelou o corpo todo. Ficou como se tivesse sido todo queimado", acrescenta o irmão. No uso da força, a K&P atingiu, com um tiro, o soba Bango-Cafuxi na perna direita.
Em reacção, a população dirigiu-se em massa à empresa Luminas, a contratante da K&P, para proceder à entrega do morto aos mandantes dos actos de violência.
As FAA e a Polícia Nacional foram chamadas a intervir para pôr termo à rebelião da comunidade do Luremo, às portas da empresa Luminas. Na berma da estrada, à entrada da vila do Luremo, a população colocou uma placa de ferro grande e improvisada, homenageando o jovem assassinado e a coragem da comunidade local: "SEJAM BEM-VINDOS À SEPULTURA DO HERÓI LUCIANO: 02-10-2008: DIA DA REVOLTA".
A 1 de Outubro do mesmo ano, na sede do Cuango, guardas da empresa privada de segurança Alfa-5 detiveram indiscriminadamente vários garimpeiros e camponeses que se encontravam nas suas lavras. No dia seguinte, a comunidade local montou barricadas na via para impedir a circulação de viaturas da Sociedade de Desenvolvimento Mineiro (SDM) e a sua contratada Alfa-5. Em resposta, no terceiro dia, as FAA, a Polícia Nacional e Alfa-5 dispararam contra os manifestantes, atingindo mortalmente os cidadãos Adriano Rafael Tchambunga e José Carlos. A camponesa Nelinha Já sofreu ferimentos graves, mas sobreviveu. Ao todo, a força conjunta deteve cerca de 200 cidadãos, na sua maioria adolescentes.
No mês anterior, durante uma semana, a contar de 6 de Setembro de 2008, a sede municipal do Cuango foi palco de uma intifada. De um lado, a comunidade do Bairro de Camarianga, armada com pedras, paus e garrafas, revoltou-se contra a destruição das suas lavras por parte da SDM. Os revoltosos montaram barricadas na via e impediram a circulação das viaturas do projecto mineiro e da Alfa-5. A empresa solicitou, de imediato, a intervenção conjunta do exército e da Polícia Nacional. As forças de defesa e segurança iniciaram um forte tiroteio contra os mais de cem jovens que se manifestavam.
Em reacção, a 8 de Setembro, os jovens de Luzamba decidiram manifestar a sua solidariedade aos concidadãos de Camarianga, juntando-se aos protestos.
Um agente da Polícia Nacional atingiu mortalmente o jovem António. Saíra do quintal para ver o que se passava, conforme depoimentos dos seus familiares. Enfurecidos, os manifestantes de Luzamba pegaram no corpo do jovem e dirigiram-se ao posto policial da localidade, invadindo-o. Os efectivos da Polícia Nacional fugiram em debandada do posto.
Situação similiar ocorreu em Maio de 2005. A população da sede municipal do Cuango montou barricadas na via entre a vila de Luzamba e o centro da administração municipal, para apedrejar as viaturas da SDM, como forma de protesto. A Alfa-5 atingira um garimpeiro a tiro. A SDM, contratante da Alfa-5, recusara-se a tratar da vítima na sua clínica, ante os clamores da população que acorrera à empresa transportando o ferido. [A informação consta de um relatório da Endiama, datado de 26 de Maio de 2005, assinado pelo então delegado na Lunda-Norte, José Pontes Ramos]. Um Relatório da Endiama, redigido na sua qualidade de sócia paritária da SDM, referiu, taxativamente, que "a situação foi normalizada com a pronta intervenção dos orgãos de defesa e segurança".
A pronta repressão tem sido a política do executivo no tratamento dos episódios de indignação colectiva das comunidades locais. Estas, de forma extraordinária, têm evitado o uso de armas nas suas acções de protesto.
O caso mais recente e exemplar do modo como as vítimas objectam ao uso de armas reporta-se ao dia 25 de Janeiro de 2011 e ocorreu na outra margem do rio, em Xá-Muteba. Cerca de cem grupos, congregando mais de 500 garimpeiros, pagaram, cada um, mil kwanzas aos agentes da Esquadra Policial do Yongo, na aldeia de Domingos Vaz, para trabalharem "à vontade" na área de Camussamba. Dois agentes policiais, identificados apenas pelos nomes próprios, Cândido e Leite, fizeram a recolha dos pagamentos às primeiras horas da manhã. Segundo testemunhos de vários garimpeiros, os agentes, por iniciativa própria, regressaram ao local, perto do meio-dia, para extorquirem mais dinheiro aos garimpeiros numa segunda ronda de cobranças e exigirem a partilha de cascalho.
Miguel André João, 38 anos, natural de Malanje, explica o sucedido:
"Eles [agentes policiais] vieram de motorizada Shineray azul até ao nosso txibulo [buraco de garimpo] [A Shineray é uma marca chinesa de motorizadas, que detém o monopólio de vendas na região]. Pararam a motorizada e o Cândido fez um disparo para o ar. Os garimpeiros espantaram-se com o acto, porque é o Cândido que efectua as cobranças. Ele mandou chamar quatro garimpeiros para recolherem o cascalho dos grupos que estavam a trabalhar. Os garimpeiros entenderam que os agentes se queriam apoderar do cascalho e todos retornaram ao seu trabalho.
O agente sentiu-se desautorizado e fez disparos contra os garimpeiros. Atingiu-me na coxa direita.
Os garimpeiros espancaram o agente autor dos disparos. O Leite fugiu. Os meus colegas apreenderam a motorizada, agora em minha posse, e a pistola, que entregaram à esquadra.
Nenhum agente tomou conta do caso. A esquadra tomou conhecimento do assunto mas não fez nada".
Kito da Silva Mutesa, 29 anos, natural do município do Cuilo, também foi atingido pelo agente Cândido, nos testículos, tendo a bala perfurado a nádega. "Um dos garimpeiros pegou numa catana e atingiu a cabeça do Cândido", conta. Segundo fontes policiais, que preferiram o anonimato, o agente Cândido foi suturado com 32 pontos. "Fomos ao comando apresentar queixa e entregar a pistola. O comandante disse-nos que tínhamos de aguardar até sermos chamados. Até ao momento não fomos chamados", informa o garimpeiro, cuja ida pessoal à esquadra ocorreu após ter recebido tratamento médico em Malanje.
O clima de terror, violência e impunidade associado ao garimpo no Cuango dá origem, inevitavelmente, a episódios de rebelião por parte dos garimpeiros e aldeães. No geral, os protestos populares são inconsequentes, apesar de algumas vezes causarem reacções desproporcionadas por parte do regime, que, para o efeito, mobiliza meios de guerra».
Rafael Marques («Diamantes de Sangue. Corrupção e Tortura em Angola»).
25 de Abril de 1974: Apostasia e Traição na retaguarda
LUÍS SANCHES DE BAÊNA alistou-se na Armada em 1971 e, como oficial fuzileiro integrou um destacamento de fuzileiros especiais na guerra da Guiné em 1972 e 1974. Comandou diversas unidades de fuzileiros e fez parte dos gabinetes do general Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas e do almirante Chefe do Estado-Maior da Armada. Chefiou ainda o Gabinete de Heráldica da Marinha. Reformou-se em 2010 no posto de capitão-de-fragata. É autor do livro Fuzileiros - Factos e Feitos na Guerra de África 1961/1974, (2006) co-autor e coordenador da obra Escola de Fuzileiros - 50 anos (2011) e co-autor do livro Alpoim Calvão - Honra e Dever (2012).
As acções de contra-guerrilha que durante 13 anos Portugal sustentou em África, nas então Províncias Ultramarinas, conheceram um fim abrupto em 1974 quando o golpe revolucionário de 25 de Abril, servindo objectivos meramente políticos, pôs fim à ordem vigente sem sequer se preocupar com o destino das populações que se abrigavam à sombra da bandeira portuguesa.
As operações militares levadas a cabo a partir de 1961 no ex-Ultramar, a milhares de quilómetros da Mãe-Pátria e dispersas em áreas imensas por três frentes, representaram um esforço que não tem paralelo na história militar contemporânea de qualquer estado europeu.
É pois pertinente perguntar se, como apregoam alguns esclarecidos profetas da desgraça, sob o ponto de vista militar, aquela era uma guerra condenada ao fracasso.
Os três Teatros de Operação onde se desenvolveu o esforço militar português eram totalmente distintos. Dos rios e tarrafo da Guiné às matas densas e chanas de Angola ou aos morros de Moçambique, vivia-se a guerra em cenários completamente diferentes. Era pois imperioso utilizar tácticas e estratégias diferenciadas para cada caso.
Para além disso, a distância de onde decorriam as operações militares até às fronteiras dos países vizinhos que apoiavam a guerrilha, era fundamental para condicionar as acções.
Comecemos pois por considerar Angola, a primeira Província a sofrer a acção do inimigo.
Quando em 1960 é proclamada a independência do Congo, torna-se desde logo evidente que a onda de nacionalismos que varria toda a África, sem a barreira do Congo Belga a contê-la, rapidamente atingiria Angola. Apesar disso, a Província encontrava-se mal guarnecida, contando apenas com 9.600 homens (dos quais cinco companhias de soldados nativos) para defender um território muitas vezes maior que a Metrópole.
É com esses escassos meios que, logo no início de 1961, Portugal susteve e defendeu as populações civis que em pânico fugiam frente à barbaridade da avassaladora horda de terrorismo que, atingindo o norte de Angola, chegou às portas de Luanda.
À data a Marinha apenas dispunha em Angola de uma fragata, dois patrulhas e um navio hidrográfico e os homens das suas guarnições, armados de espingarda Mauser, capacetes de aço na cabeça e grevas nas pernas, mal equipados para actuar em terra.
No final do ano de 1961 a Marinha tinha lançado em Angola um Destacamento de Fuzileiros Especiais, unidade exclusivamente vocacionada para combate e pouco depois uma companhia de Fuzileiros Navais, utilizada em patrulhamentos e acções de segurança e defesa.
Foi então traçado o Plano de Operações "Ferrolho", consistindo num dispositivo contando com diversas lanchas e postos montados ao longo da frente fluvial do rio Zaire, guarnecidos por Destacamentos de Fuzileiros, com o objectivo de tornar estanque a passagem de guerrilheiros entre a margem portuguesa e a congolesa do rio.
Até 1964 a Marinha foi aumentando as suas unidades de fuzileiros no território, chegando a contar com quatro Destacamentos e uma Companhia. A situação mantinha-se controlada mas o conflito decrescia de intensidade pelo que foi decidido reduzirem-se os Destacamentos, por desnecessários tantos efectivos mais úteis noutras Províncias.
Angola passou a dispor somente de dois Destacamentos de Fuzileiros, aumentando por sua vez as Companhias para quatro. E isso fazia todo o sentido pois mais que acções de guerra era necessário afirmar a presença de Portugal no terreno.
Quando em 1964 a Zâmbia alcança a independência passa a dar abrigo e apoio não activo aos movimentos que combatiam Portugal e sentiam dificuldades a Norte abrindo assim uma nova Frente a Leste. O MPLA vai instalar as suas bases na Zâmbia, enquanto a UNITA prefere fazê-lo no interior de Angola.
O MPLA abre então em 1968 corredores que permitem a sua infiltração em território nacional, naquela que chamou "Rota Agostinho Neto". Porém, desavenças entre os dois Movimentos levam-nos a frequentes confrontos, situação habilmente aproveitada pelas autoridades portuguesas para, através de um discreto entendimento com a UNITA, utilizar as potencialidades do Movimento a seu favor.
A Marinha desloca então os seus dois Destacamentos de Fuzileiros Especiais para o saliente do Cazombo onde seriam de maior utilidade para se oporem aos desígnios do inimigo, enquanto confia às Companhias a patrulha da Frente fluvial do Zaire.
Constrói também no Sudeste de Angola, nas chamadas "Terras do Fim do Mundo" um aquartelamento designado Vila Nova da Armada, onde instala uma Companhia e faz transportar para os rios do Leste e Sudeste várias lanchas de desembarque que, para isso, têm de percorrer milhares de quilómetros sobre comboios ou camiões.
Algumas das lanchas apenas podiam operar durante poucos meses do ano, os restantes, por o rio não levar água suficiente para navegar tinham de varar em terra. Aquele não era na verdade o cenário propício à intervenção de fuzileiros, pois o meio aquático onde estavam vocacionados para operar encontrava-se muitas das vezes distante das áreas de operações.
Mas a guerra pouco se fazia já sentir, apenas raras emboscadas, uma ou outra mina semeada nas picadas, faziam sentir que a tranquilidade não era total, chegando a haver Destacamentos de Fuzileiros que chegaram a estar muitos meses sem ouvir um único tiro.
De resto, as operações militares não passavam de rotineiros patrulhamentos, meras acções de polícia, como afirmação de que naquela terra quem mandava eram os portugueses.
Nos 13 anos de contra-insurreição os fuzileiros sofreram apenas 43 mortos dos quais somente 12 em combate. E nos três últimos anos do conflito apenas cinco mortos foram registados nas forças especiais da Marinha: três numa emboscada em local insuspeito por nunca se ter registado qualquer acção inimiga, um por efeito de mina e outro no ataque a uma lancha.
Em Luanda, apenas os numerosos militares que circulavam nas ruas faziam lembrar a tragédia que 13 anos antes chegara às portas da capital. As áreas de conflito - se assim lhes podemos chamar - estavam a milhares de quilómetros de distância.
O ambiente que se vivia era de paz total. As escolas funcionavam normalmente, com brancos, pretos e mestiços sentados lado a lado nos mesmos bancos; os hospitais eram exemplares na costa ocidental africana, os restaurantes e os cinemas sempre cheios, as praias pejadas de gente, o futebol e as touradas levavam as gentes aos campos e praças, viajava-se de automóvel, sem qualquer escolta, de Norte a Sul da Província.
A soberania portuguesa era inquestionável. Quando ao pôr-do-sol era arriada a Bandeira Nacional o trânsito parava e todos os condutores e passageiros das viaturas civis ou militares, se apeavam e respeitosamente perfilados aguardavam o final da breve cerimónia para seguir viagem.
O ritmo de construção era frenético com novas estradas a rasgarem a Província, os portos, aeroportos e caminhos-de-ferro com um vigor extraordinário, a indústria em franco crescimento, o comércio pujante, a agricultura com um desenvolvimento extraordinário, as minas em plena extracção e o petróleo começava a ser explorado nas plataformas marítimas. Nada fazia lembrar o estado de guerra. Porque na verdade, já não havia guerra.
Nas escolas militares ensinava-se que uma guerra de guerrilha ou contra-guerrilha nunca poderia ser vencida, destinava-se apenas a ganhar tempo para os políticos resolverem a situação.
Mas em Angola não foi assim. A guerra imposta pelos ventos da história inspirados por ideologias marxistas e apoiados pelos países do Leste europeu e asiáticos foi ganha por Portugal. Sem qualquer sombra de dúvida.
Já na grande Província Portuguesa do Índico a situação era diferente. Era a segunda maior província, mas foi a última onde a subversão assentou arraiais.
Em 1964 apenas uma companhia de fuzileiros navais se encontrava em Moçambique quando nos meses de Agosto e Setembro e se registaram as primeiras acções violentas inimigas a Norte, nos distritos de Cabo Delgado e do Niassa. A Marinha reage de imediato e em Novembro envia um Destacamento de Fuzileiros Especiais.
As acções são levadas a cabo inicialmente naqueles dois distritos, com os fuzileiros instalados no Lago Niassa, nas bases de Metangula e no Cobué.
Como o Lago é quase um mar interior, a Marinha transporta diversas lanchas e pontões desde a costa criando a Esquadrilha de Lanchas do Niassa.
Face à necessidade em efectivos, nos dois anos que se seguiram o Teatro de Operações de Moçambique é reforçado com mais meios da Marinha chegando os fuzileiros a contar com quatro Destacamentos, e duas Companhias.
O inimigo evitava o contacto directo, sendo necessário persegui-lo através de terrenos muito ásperos, morros e florestas. No entanto nunca deixava de estar presente, manifestando-se principalmente através de minas e armadilhas abundantemente espalhadas por trilhos e picadas.
O apoio que o inimigo recebia dos países vizinhos era-lhe vital, mas a longa distância a que se encontrava da fronteira obrigava-o a estabelecer grandes bases em Território Nacional, sempre alvos privilegiados para as forças portuguesas.
Apenas o Malawi, fronteiro às costas portuguesas do Lago Niassa se mostrava benévolo a Portugal, actuando no entanto com o cuidado e a discrição que a política africana impunha.
O semi-abandono a que estavam votadas as populações nas áreas em conflito não eram favoráveis à boa vontade dos indígenas para com as autoridades portuguesas.
A política dos reordenamentos que levou à retirada de populações inteiras dos locais onde viviam, subtraindo-as à influência do inimigo, para as instalar em aldeamentos controlados pelas autoridades longe das suas regiões de origem e sem grandes meios de subsistência, também não ajudava.
Era necessário haver uma política de desenvolvimento que cativasse para o lado português as populações do mato.
Lourenço Marques (actual Maputo) era a cidade portuguesa mais britânica, face à influência que se fazia sentir da vizinha África do Sul. A vida na cidade decorria tranquilamente com os laurentinos a frequentarem os clubes, os hotéis, esplanadas e praias. Só a constante presença de fardas militares por todo o lado faziam lembrar que a milhares de quilómetros de distância havia um conflito na profundeza das matas. E os tranquilos habitantes não gostavam de ser confrontados com essa incómoda realidade, encarando os militares com indisfarçável desagrado.
Em 1970 iniciava-se a construção da Barragem de Cabora-Bassa e, prevendo-se o aumento da actividade da Frelimo naquele sector, com a abertura de uma nova frente, um dos destacamentos de fuzileiros do Niassa é deslocado para Tete.
Em 1973 o dispositivo dos fuzileiros na Província é reduzido de um Destacamento. Quando rebenta o 25 de Abril na Metrópole, o inimigo em Moçambique pouco se manifestava com confrontos directos; os números provam-no pois desde 1970, nos últimos anos de guerra, os destacamentos de fuzileiros especiais apenas tinham sofrido quatro mortos em combate!
A guerra fora interrompida pela revolução. Militarmente tinha sido vencida? Não. Estava perdida? Longe disso. Mas estava controlada. E mesmo com os escassos recursos de que Portugal dispunha era uma situação que se poderia manter indefinidamente. Com tempo, com o investimento no desenvolvimento do bem-estar das populações não resta qualquer dúvida que a vitória acabaria por sorrir a Portugal.
Na Guerra de África era na Guiné que a situação se apresentava mais complicada.
No final de 1962 tiveram lugar as primeiras manifestações de uma insurreição latente e no ano seguinte já se encontravam no Teatro de Operações quatro Destacamentos de Fuzileiros Especiais e uma companhia de Fuzileiros Navais.
Geograficamente o território era uma intrincada rede de rios, lodo e matas densas, insalubre para os europeus e difícil de percorrer. Mas as cartas topográficas de uma precisão extraordinária, e o minucioso Guia de Navegação para lanchas permitiam aos marinheiros navegar em qualquer parte, em terra ou nos rios, sem problema.
Por sua vez a exiguidade do território fazia com que qualquer ponto da Guiné se encontrasse a curta distância dos países vizinhos onde os guerrilheiros encontravam abrigo: a Guiné Conacry a Leste e Sul que os apoiava francamente e o Senegal a Norte, onde eram tacitamente aceites.
Sob a liderança forte do Engenheiro Amílcar Cabral, personalidade internacionalmente muito conceituada entre os países afro-asiáticos e muitos países e organizações ocidentais, os aguerridos guerrilheiros do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) eram adversários temíveis.
Treinados na União Soviética e nos Países de Leste, perfilhando a ideologia marxista, fortemente armados pelos países comunistas, os guerrilheiros do PAIGC demonstravam grande agressividade. Não evitavam o confronto frontal, recorriam a flagelações constantes sobre os aquartelamentos e proclamavam a posse de "Regiões Libertadas" onde os "colonialistas" não se atreviam a ir.
Recorrendo a meios de propaganda eficazes como a rádio, o PAIGC apregoava as suas vitórias, não perdendo ocasião para fazer ouvir as vozes dos desertores nem críticas abertas ao "colonialismo" com que tentavam fazer frente à acção psicológica do Comando-Chefe das Forças Armadas da Guiné.
A par de numerosas vitórias, as Forças Armadas Portuguesas sofreram alguns revezes: em 1964 quando quatro Destacamentos de Fuzileiros foram por lapso metralhados por uma aeronave T6 da Força Aérea; em 1969 durante a retirada em boa ordem do aquartelamento de Madina do Boé, por uma decisão estratégica que visava transferir aqueles efectivos para posição mais favorável, que se saldou num desastre por se ter virado a jangada que servia para transpor o rio Corubal; a desorientação inicial quando em 1973 surge uma nova arma nos céus da Guiné, o míssil terra-ar "Strella".
É posto em causa o domínio do ar, mas rapidamente a Força Aérea encontra soluções para tornear o problema; nesse mesmo ano o vergonhoso abandono do aquartelamento de Guileje a sul, na fronteira com a Guiné Conacry, por uma companhia do Exército que em pânico, não resiste às fortes flagelações a que fora sujeita, apesar de dispor dos abrigos mais fortes de toda a Guiné.
Por outro lado, vão-se somando os sucessos nas operações contra-guerrilha como na ocupação temporária da ilha do Como em 1964 numa operação conjunta das Forças Armadas, o bem sucedido assalto a Conacry que levou à libertação de 26 prisioneiros portugueses das prisões do PAIGC e à destruição da sua marinha, em 1970, a corajosa defesa de Guidaje, cercada pelo inimigo na fronteira do Senegal (que se deu quase em simultâneo com a vergonha de Guileje).
Com o assassinato de Amílcar Cabral em Janeiro de 1973, perpetrado por uma facção do PAIGC, o Partido torna-se mais ambicioso e passa à ofensiva com os mísseis terra-ar e os cercos e flagelações a Guidaje e Guileje. Alguma perplexidade inicial das Forças Armadas da Guiné é rapidamente ultrapassada. A moral Portuguesa, abalada pelos desaires, reage às adversidades e a guerra continua com o mesmo entusiasmo que até então.
O cansaço de muitos anos de guerra fazia-se já sentir na Marinha. Os fuzileiros contavam com praças nos quadros permanentes, muitas com várias comissões em teatros de guerra; havia sargentos que somavam 4 e 5 comissões. No entanto, iam sendo encontradas soluções ajustadas para minimizar o problema da escassez de efectivos.
Em nenhuma guerra moderna houvera tão poucos desertores como naquela onde Portugal se vira envolvido, nem tantos mancebos que se encontravam emigrados no estrangeiro e, chegada a altura se apresentavam para cumprir o seu dever, apesar do trabalho de desgaste entre a população que o Partido Comunista e outros desenvolviam na retaguarda.
Por outro lado, Portugal procedia paulatinamente à africanização da guerra: até 1970 operavam na Guiné 4 Destacamentos de Fuzileiros Especiais metropolitanos, mas naquele ano foi constituído o primeiro de fuzileiros africanos; em 1971 é formado o segundo e em 1974 o terceiro destacamento africano que vai substituir um metropolitano, passando a estar no terreno três africanos e três metropolitanos.
Como o Exército já tinha diversas companhias de comandos e companhias de caçadores africanos constituídas, e muitas tabancas se encontravam em auto-defesa contando com milícias armadas por Portugal, era evidente a africanização da guerra na Guiné.
No campo inimigo a ofensiva não conseguia esconder a desmoralização dos guerrilheiros. O desgaste de tantos anos de luta era evidente, o ódio aos cabo-verdianos que ocupavam lugares proeminentes no aparelho do partido tornava-se insuportável. No Senegal, em 1973, havia discretas negociações para os guerrilheiros deporem as armas e integrarem o Exército Português, como testemunharia o coronel Vaz Antunes anos decorridos. Talvez isso viesse a suceder se não se desse a revolução do 25 de Abril.
Cabe então agora aqui a pergunta, estava a guerra perdida? A resposta parece-me simples. Não, de modo algum. Não fora ainda ganha no terreno, onde poderia manter-se indefinidamente até à deposição das armas por um inimigo desmoralizado e cansado por tantos anos de combates. A Guerra não foi perdida na mata, militarmente de armas na mão, mas a vitória foi-nos assim atraiçoada na retaguarda (in Humberto Nuno de Oliveira e João José Brandão Ferreira, Guerra d'África 1961-1974. Estava a Guerra Perdida?, Fronteira do Caos Editores, 2015, pp. 183-192).



























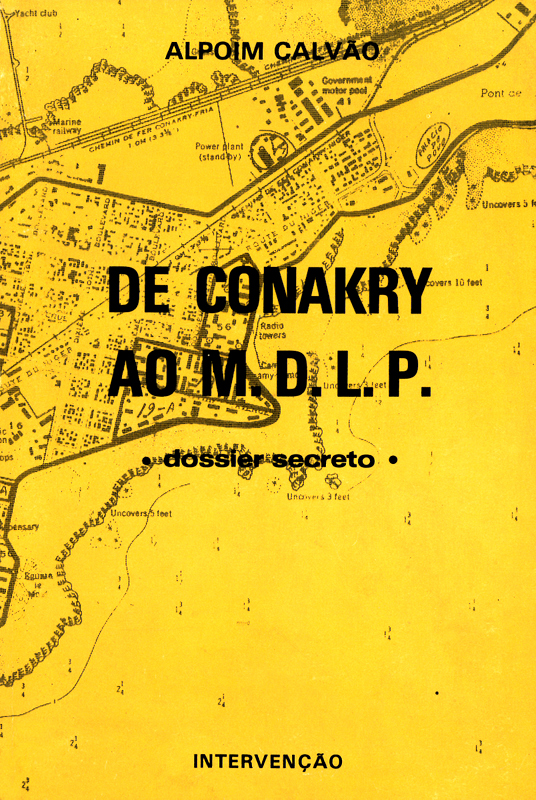























Foi pena a traição da rectaguarda,
ResponderExcluirTodos ficaram a perder principalmente os Africanos!
Os africanos que serviram nas tropas portuguesas foram simplesmente
fuzilados - Oficiais Sargentos e Praças - meu Pai Oficial do Exécito
ficou envergonhado ao ver camaradas seus serem torturados.
Guiné ainda não estava independente UMA VERGONHA PARA OS ABRILISTAS
E PARA PORTUGAL!