 |
| Ver aqui, aqui, aqui e aqui |
«(...) sempre que as Nações Unidas advogam a autodeterminação como acesso possível a soluções diversas, só podem de facto chegar à independência dos territórios, e, quando conseguissem a independência destes, ser-lhes-ia vedado querer coisa diferente da sua integração noutros Estados, isto é, a transferência da soberania para algumas delas. Ora, sendo esta a questão, devo dizer, sem arriscar confrontos desagradáveis, que em qualquer das hipóteses não podemos ser considerados nem menos dignos, nem menos aptos para o Governo, nem menos predispostos que outros para a influência civilizadora sobre os povos de raças diferentes que constituem as Províncias de além-mar. Tentar despojar-nos dessa soberania seria pois um acto injusto, e, além de injusto, desprovido de inteligência prática. E explico porquê.
Nós somos uma velha Nação que vive agarrada às suas tradições, e por isso se dispõe a custear com pesados sacrifícios a herança que do passado lhe ficou. Mas acha isso natural. Acha que lhe cabe o dever de civilizar outros povos e para civilizar pagar com o suor do rosto o trabalho da colonização. Se fosse possível meter alguma ordem na actual confusão da oratória política internacional, talvez se pudesse, à luz destes exemplos, distinguir melhor a colonização do colonialismo – a missão humana e a empresa de desenvolvimento económico que, se dá, dá, e se não dá, se larga. Muitos terão dificuldade em compreender isto, porque, referidas as coisas a operações de deve e haver, motivos havia para delinear noutras bases a política nacional.»
Oliveira Salazar («O Ultramar Português e a ONU», SNI, 1961).
«Lisboa, 17 de Agosto [de 1962] - Há meses, o embaixador de Inglaterra, formal e vitoriano, comunicou-me que o Governo de Sua Majestade não nos venderia mais qualquer armamento, nem uma pistola, nem uma bala. Quando informei Salazar, este comentou: "Vamos comprando noutros sítios, até o governo de Sua Majestade nos perguntar por que não compramos em Inglaterra". Hoje, o mesmo embaixador britânico veio anunciar-me que o seu governo está pronto a vender a Portugal quanto armamento quisermos, mesmo para uso em África. Salazar conhece bem a política e o temperamento britânico.
(…) Lisboa, 22 de Agosto - Agostinho Neto, chefe da União das Populações de Angola, anunciou em Léopoldville que o governo congolês cedera um local para campo de treino e base militar contra Angola. Dizem-me companheiros e colegas de Neto que este, enquanto estudante e depois como médico em Portugal, foi um homem sem escrúpulos, sem seriedade pessoal, e quase sempre embriagado depois de licenciado. Mas este homem é hoje um vulto acarinhado no Mundo por muitos como arauto de ideais nobres.
Lisboa, 25 de Agosto - No Estoril, em meio da conversa, Salazar deixou cair esta frase: "um país, um povo que tiverem a coragem de ser pobres, são invencíveis"».
Franco Nogueira («Um Político Confessa-se. Diário: 1960-1968»).
«Antiportuguês, manobrando no interior e para o exterior como se fosse ele a oposição democrática, [o Partido Comunista] desorienta a consciência portuguesa e a opinião ocidental, para assim tentar impor o pensamento comunista, interessado em todas as soluções ultramarinas conducentes ao caos, à miséria, ao desespero das populações. Esta minoria, tão insignificante em número e poder ideológico de convicção, que necessita ocultar tacticamente a sua verdadeira ideologia (ou anti-ideologia?); mas activa, organizada e com fortes amparos internacionais, defende a congolização pura e simples das colónias portuguesas e o abandono de todos os interesses legítimos de Portugal no capítulo de soluções ultramarinas. Invocando o direito de autodeterminação, defende os métodos que dispensam o seu exercício; condenando raivosamente o "colonialismo" e o "imperialismo", apoia o neocolonialismo e o neo-imperialismo que o bloco russo progressivamente dilata».
Henrique Galvão («Da minha luta contra o Salazarismo e o Comunismo em Portugal»).
«Os novos Estados africanos discriminam contra o branco, e isso o podem fazer nos territórios em que a obra colonizadora obedeceu a moldes diferentes e o branco, se trabalhava para viver, não estava instalado para ficar. Ora nós estamos precisamente no limite do racismo negro que vem estendendo-se até ao Zaire e que pelo Tanganica e pela Niassalândia atinge o Norte e Noroeste de Moçambique. Esse racismo tem-se revelado de tal modo violento e exclusivista que as sociedades mistas existentes ao sul se lhe não podem confiar. Pode-se, matando ou expulsando o branco, eliminar o problema, mas este não o pode resolver o racismo, se o branco, porque tem ao menos os mesmos títulos e goza de pelo menos igual legitimidade, pretende ficar naquela terra que é também sua.»
Oliveira Salazar («O Ultramar Português e a ONU», SNI, 1961).
«AS TRÊS ÁFRICAS
Com o pretexto falso de que o caso não tinha interesse para Angola, como se Angola fosse uma ilha, não me permitiram na ONU que se abordasse este problema, que facilmente sobrepunha as realidades africanas aos mitos das suas propagandas. Nem por isso as realidades deixam de ser o que são - e de negar todos os dias este mito absurdo.
Geograficamente, nem depois do Sara se haver tornado mais transitável, mudou o verdadeiro facies africano. Nele se distinguem perfeitamente, apesar da sua conformação maciça e original, três Áfricas, que nem os seus caracteres geográficos nem a sua evolução histórica consentem que se confundam - da mesma maneira que nunca se confundiram as três Américas, que tanto se distinguem na América total. Ao Norte, uma África mais mediterrânica do que propriamente africana, em que floresceram velhas e nobres civilizações fortemente influenciadas pelo esplendor e domínio das culturas grega e romana - e cuja população, depois de várias vicissitudes históricas, se estabilizou por ocupação definitiva do elemento árabe, invasor, em convivência com os berberes autóctones. Separada do grande corpo da África, como um verdadeiro continente, pelo oceano de areia que se chama o Sara, ignorou-a durante muitos séculos, não havendo com ela outras relações senão as do comércio de algumas matérias-primas preciosas, e dos escravos, trazidos pelos berberes nómadas para os árabes, entre os quais se encontram ainda hoje os melhores especialistas do nefando negócio. À data das primeiras independências africanas depois da Guerra, era esta a recordação mais viva que os árabes haviam deixado aos africanos do sul: a do comércio de escravos.
Abaixo do deserto, e até uma linha irregular que vai da foz do Rio Zaire ou Congo, atravessa o Congo ex-belga e vai morrer no Oceano Índico, entre Moçambique e Tanganica, situa-se a segunda África, a verdadeira África Negra ou África Central. Finalmente, ao sul desta linha, mais ou menos, diferente já da segunda por caracteres geográficos e factores históricos, fica a África do Sul, abrangendo os actuais territórios de Angola, parte do Congo, Niassalândia, Rodésia do Norte, Rodésia do Sul, Moçambique, Bechuanalândia, Suazilândia e União Sul-Africana; e com a sua contestada dependência, a antiga Dâmara ou Sudoeste Africano. Esta segunda África, cuja distinção de caracteres geográficos parece pouco importante relativamente à terceira, tem todo o relevo na consideração dos factos sociais, étnicos e políticos, que as colocaram em mundos diferentes.
Foi na África Central que, pela inospitalidade do clima e por outras razões discutíveis, menos se fixaram as populações de outras raças; estas eram em grande maioria, populações flutuantes, de grandes empresários comerciais e industriais, e os seus empregados de todas as categorias, de funcionários públicos, de exploradores da riqueza africana, que constantemente se renovavam e só muito raramente se fixavam. Iam lá por meses, outros por anos, multiplicavam-se na medida em que se multiplicavam os seus negócios, e regressavam aos seus países. E assim, nesta África, a verdadeira população africana foi quase sempre a negra, quase exclusivamente a negra; e cederam-lhe facilmente as independências, quase sem condições nem preparação, e as oportunas como as mais inoportunas, logo que viram que podiam descartar-se das despesas e responsabilidades da administração sem perder os lucros do negócio. Eram, enfim, muito poucos aqueles que amavam realmente a África e que nela se haviam volvido africanos. A maioria foi sempre estrangeira no território que ocupava e esta África podia dizer-se quase exclusivamente monorracial. Demais, desde os primeiros que a visitaram, até aos últimos que a ocuparam no decorrer de menos de um século, todos para lá foram e regressaram em confortáveis transatlânticos.
O mesmo não aconteceu na África do Sul, que conheceu, por consequência, uma evolução muito diferente. Os portugueses estão em Angola e Moçambique há quinhentos anos e lá se estabeleceram à custa de riscos de viagem e de lutas que dizimaram uma grande parte; e foram, geralmente, levando a Pátria consigo, exportando com eles Portugal e prolongando-o, para ficarem, para se fixarem. Com eles, foram não só os simples comerciantes e aventureiros ávidos de riqueza, mas também, e com o mesmo intuito de fixação, ou por devoção a que hipotecavam a vida, mestres e missionários, grandes viajantes e exploradores, cientistas dedicadíssimos e altruístas sem esperança de recompensa terrena.
 |
| Serpa Pinto |
 |
Ao fundo, o Forte de São João Baptista de Ajudá, na costa ocidental de África (Daomé, 1932), nos seus dois hectares de soberania portuguesa.
|
ONDE A UNIDADE?
Acontece, porém, que essa unidade nem sequer existe nas próprias Áfricas que se distinguem pela Geografia e pela História. Para que ela existisse, seria necessário não só fazer evoluir os sentimentos e instituições de tribo que ainda dominam em África, de modo a transformá-los em embriões de verdadeiras nações - o que está absolutamente fora das possibilidades imediatas da Revolução - mas também que as novas nações independentes se houvessem constituído mais racionalmente, digamos, mais "nacionalisticamente", em lugar de terem aceitado como territórios nacionais a manta de retalhos que o colonialismo lhes legou.
Contra essa unidade nacional, a que na maioria dos casos ainda faltam os fundamentos de nação, contra essa unidade da África independente, falam constantemente, com poderes reais que excedem os da propaganda, os mais evidentes factos de uma revolução irreversível, mas que ainda não encontrou o sentido das suas realidades. Na África do Norte, a Argélia foi "libertada" para a ditadura de Ben Bella em conflitos com o seu povo, a que também pertencem os berberes, e conflitos externos de fronteira com o seu vizinho marroquino; a desunião do mundo árabe todos os dias se faz e se desfaz, incapaz de resistir aos caracteres tradicionais. Na África Central foi impossível manter a unidade da Federação Mali, como se mostra impossível a constituição de outras Federações; luta-se na fronteira entre o Congo e Uganda, onde Batoro, Baamba e Bakenjo não se entendem; poucos dias depois de reconhecida a independência do Quénia, deflagravam questões armadas de fronteira entre a nova nação e a Somália; no Congo ex-belga, só a presença de tropas das Nações Unidas e o escancarado neocolonialismo de belgas, ingleses e norte-americanos, contém dificilmente as tribos desavindas, numa unidade impossível. Isto, além de conflitos menores que constantemente ensanguentam outras fronteiras, e até territórios mais interiores, e que seria impossível citar aqui em tão curto espaço.
A Unidade Africana é, pois, um mito indefensável - e eu compreendo muito bem porque não me deixaram falar sobre ela no organismo mais poderoso da sua propaganda.
Esse mito, despropositado, além de megalomanizar os mais responsáveis pela Revolução, destrói o seu sentido das proporções, desencaminha a revolução e a desacredita.
Nkrumah, o ditador do Gana, terminou o seu discurso de Adis-Abeba com as seguintes palavras: "A menos que estabeleçamos agora a unidade africana, nós, os que estamos aqui sentados, seremos amanhã as vítimas do neocolonialismo." A condição não tem o menor sentido prático, mas a conclusão é verdadeira. O neocolonialismo já lá está em cerca de vinte das nações recentemente independentes - e será muito pior e mais espoliativo do que foi o colonialismo, pois se exercerá sem responsabilidades.
Certamente, a Revolução não se perde - é irreversível. Mas terá que arrepiar caminho, com estes ou outros líderes, e convencer-se de certas realidades africanas que, claramente, se opõem aos seus frenéticos desígnios actuais.»
Henrique Galvão («Da minha luta contra o Salazarismo e o Comunismo em Portugal»).
 |
| Ver aqui |
«A independência das nações africanas tem-se processado, na generalidade dos casos, sobre dois erros que as prejudicarão: o racismo contra o branco e a suposta unidade dos seus povos naquele continente. Esta última suposição tenderá a subordinar o negro ao árabe; o racismo negro tenderá a prescindir de tudo quanto o branco mais progressivo pode levar-lhe em capital, trabalho e cultura. Seria mais assisado substituir o exclusivismo rácico pela colaboração que vimos ser imprescindível. É por isso que nós entendemos que o progresso económico, social e político daqueles territórios só será possível numa base multirracial em que as responsabilidades de direcção em todos os domínios caibam aos mais qualificados e não ao desta ou daquela cor. Sei sermos acusados de, com esta doutrina, estarmos tentando assegurar o predomínio da raça branca em África, com base, sobretudo, no facto de o nosso multirracialismo não ter ainda reflexo bastante lato na distribuição de responsabilidades nas províncias ultramarinas de África. É certo que estamos ainda longe de atingir o ponto em que poderíamos estar plenamente satisfeitos com as nossas realizações. Mas não pode negar-se que não só é o mais seguro o caminho que trilhamos como o progresso dos territórios tende a cobrir a totalidade das respectivas populações, e não sectores privilegiados. Esse progresso é impossível negá-lo, pois que as realizações podem comparar-se, e com vantagem em muitos pontos, às dos outros países africanos. E se os nossos críticos estão seguros de que não é assim, mal se compreende que não tenham aceite a ideia de ser feito um estudo por individualidades de relevo internacional, e sob a égide da Organização das Nações Unidas. Foram infelizmente preferidos os discursos ao exame desapaixonado das realidades em debate, que tinha o nosso apoio.»
Oliveira Salazar («Realidades da Política Portuguesa», SNI, 1963).
«Dos árabes, diz Emil Ludwig no seu "Nilo": "O negro abomina o árabe, que o espreita, rouba e vende". E, realmente, em África, os árabes pouco mais têm feito do que o que sempre fizeram: assolar e conquistar os povos autóctones, comprar e vender escravos em escala jamais vista, e com uma perseverança que parece eternizar-se dos tempos em que o escravo era moeda corrente, para estes tempos em que a escravatura é hedionda. São ainda árabes quem no tempo actual explora o nefando negócio, apesar de todas as perseguições que lhes movem os… menos escravagistas. Conquistados depois de serem os conquistadores, colonizados depois de serem os colonialistas, viris e desembaraçados, mantiveram a sua organização tribal até tempos recentes - e nela os desentendimentos, conflitos e dissensões que ainda, parece que irremediavelmente, os dividem. Na tribo, de constituição muito semelhante à dos feudos europeus da Idade Média, tiveram sempre grandes chefes, e uma aristocracia orgulhosa e notável que fazia progredir a sua antiquíssima civilização e seguia a civilização ocidental, sem contudo se deixar contaminar por ela. Esta pequena minoria dominava discricionariamente as suas plebes ignaras, obedientes, aguerridas e mais ou menos nómadas. Vencidos, mas não convencidos, voltaram finalmente à independência nos territórios que haviam conquistado e "formaram" as nações actuais do Norte de África, sobrepondo-se sempre, aos berberes, a egípcios e outros elementos nativos autóctones, os verdadeiros donos dos territórios. Essas independências foram muito oportunas, umas, e possivelmente outras um pouco retardadas. Frise-se no entanto que o saldo que ainda resta de uma acção muitas vezes secular, é inteiramente negativo - por mais que se espere da sua acção futura».
Henrique Galvão («Da minha luta contra o Salazarismo e o Comunismo em Portugal»).
«Lisboa, 16 de Agosto [de 1967] - (…) Falando de África. Estive ontem a reler, durante parte da noite, algumas páginas do meu amigo Castro Soromenho sobre a África. Alguns dos volumes que percorri de novo foram-me oferecidos pelo C. S. há mais de vinte e cinco anos. Tive agora uma sensação de mergulhar noutro mundo. É que a África que descreve não tem semelhança com a actual; e a humanidade negra e branca de hoje é inteiramente outra. Será mais feliz?».
Franco Nogueira («Um Político Confessa-se. Diário: 1960-1968»).
«FEDERAÇÃO, PLEBISCITO E ETNIAS
- De que maneira seria assegurada a autonomia das províncias ultramarinas?
- Seria assunto a debater entre a nação e as colónias; porém, com várias soluções tão aceitáveis como humanas. Por mim, veria como conveniente e perfeitamente adaptável às realidades sociais e económicas, que a preparação para o exercício do direito de autodeterminação se praticasse, desde o início, em regime transitório de Federação ou União de Estados Autónomos, coordenada superiormente pelo estado federal - assumindo este as responsabilidades da política internacional, da defesa, da coordenação económica e da Justiça Suprema em último recurso.
- Essa Federação nasceria de uma consulta plebiscitária em todos os territórios?
- Evidentemente - respondeu.
- Afirmam - indagamos nós - que a população autóctone das províncias ultramarinas reluta em se integrar na nacionalidade portuguesa. Como encara a possibilidade de conciliar a heterogeneidade de etnias com a homogeneidade nacional?
Como resposta, começa por perguntar o capitão Galvão:
- Qual é a população autóctone das colónias portuguesas? Os bochimanes e hotentotes? A população negra - e disso não restam dúvidas - é uma população imigrada, no seu tempo, também de conquistadores. Não deixemos resvalar o problema até tais profundidades - nem mesmo à profundidade de classificar as populações pela sua antiguidade nos territórios. Teríamos de rever muitas situações criadas e complicar enormemente as soluções humanas. Teríamos de perguntar porque não se entrega a América do Norte aos peles vermelhas que ainda restam e se não exilam os americanos actuais, o Brasil aos índios, etc. Não: aceitemos realisticamente a questão tal como se põe, actualmente, na base da convivência de raças e não na base do seu antagonismo. Demais, quem afirma que a população das colónias reluta em se integrar na nacionalidade portuguesa e quem afirma o contrário? Não foi, além de possível, um verdadeiro êxito, a conciliação de etnias heterogéneas com uma homogeneidade nacional neste Brasil, exemplo maravilhoso da melhor convivência de raças?».
Henrique Galvão («Da minha luta contra o Salazarismo e o Comunismo em Portugal»).
 |
Mais de dois decénios antes do assalto ao Santa Maria, o capitão Galvão (ao centro) observa a maquete de um navio, numa visita à Alemanha, nos finais dos anos 30.
|
(…) Lisboa, 29 de Agosto - Ontem, depois de jantar, fui ao Forte de Santo António para ouvir de Salazar o relato das conversas que, por seu lado, tem tido com George Ball. (…) Registo a síntese rigorosa do que disse.
"Não há dúvida: os americanos evoluíram alguma coisa, mesmo muito", principia Salazar. "Há ano e meio, há dois anos, julgaram que uma pressão, uma ameaça, um ultimato nos fariam cair, ou pelo menos modificar a nossa política. Bem: já viram que não dava resultado, desistiram. E eles próprios vêem os seus interesses afectados, têm muitos problemas, não sabem como resolvê-los, e estão perplexos. E por isso nos mandam um emissário especial de alta categoria, sem que o tivéssemos solicitado. Muito bem. Mas que nos vem propor? Na conversa consigo e na que teve comigo, reparei que Ball usou repetidamente estas palavras: assegurar a presença, a influência e os interesses de Portugal em África. Ora que significa isto? Que está por detrás disto? Que conteúdo têm estas palavras? A verdade é que se Angola ou Moçambique são Portugal, este não está nem deixa de estar presente: é, está. Presença, para os americanos, quer dizer outra coisa: a língua, a cultura, alguns costumes que ficassem durante algum tempo até sermos completamente escorraçados. Isto e nada, é o mesmo. E o mesmo se quer dizer com a influência e os interesses. Com isto pretendem os americanos dizer que seriam garantidos os interesses económicos da metrópole, isto é, de algumas empresas ou grandes companhias. Mas tudo isto não vale nada. Que a economia comande a política é particularmente verdadeiro quanto à África. Bem vê: quem tem o dinheiro é que empresta, quem produz é que exporta; e quem tem dinheiro e empresta, e depois não lhe pagam, é levado a emprestar mais e mais; e para garantir esses novos empréstimos é depois levado a intervir, a controlar, a dominar as posições chave. E quem produz é que exporta; mas quando lhe não pagam as exportações, reembolsa-se com a exploração do trabalho e das matérias-primas locais. E ao fazer tudo isto é evidente que expulsa a influência e os interesses económicos de outros mais fracos, que nem podem emprestar tanto nem exportar tanto. É o neocolonialismo. Ora, meu caro senhor, nós não poderemos comparar a força económica e financeira da metrópole com a dos Estados Unidos. E o senhor está a ver, não está? Os americanos a oferecerem bolsas de estudo para formar médicos, engenheiros, técnicos nos Estados Unidos; os americanos a percorrer os territórios com a propaganda dos seus produtos. Em menos de um ano, de português não havia nada. Não, meu caro senhor, uma vez quebrados os laços políticos, ficam quebrados todos os outros. Mas então, sendo Angola parte de Portugal, não podem os americanos investir e exportar? Podem, decerto, mas têm de negociar com uma soberania responsável e com um governo que sabe exigir, ao passo que se o fizerem com um governo africano, inexperiente e fraco, sai-lhes mais barato. De resto, tudo isto está demonstrado; veja a Argélia, veja o Congo. Mas, para nós, o Ultramar não é economia, e mercado, e matérias-primas, e isso os americanos não o podem entender. Bem: este é um aspecto. Mas que quer Ball dizer com os prazos? É evidente que se os americanos estivessem dispostos a aceitar que Angola seja Portugal, não falavam de prazos. Poderiam querer discutir ou negociar connosco uma qualquer construção política ou jurídica que coubesse nos seus princípios teóricos, e depois apoiar-nos-iam sem reservas. Mas não: querem um prazo. Um prazo, para quê? E que se passa findo esse prazo? E enquanto decorre esse prazo, não acontece nada? Deixamos de existir no mundo, não se fala mais de nós? E os terroristas cessam os seus ataques? Ah! mas se os americanos podem garantir que os terroristas depõem as armas, então é porque têm autoridade sobre os terroristas, orientam-nos, estão em contacto com eles. E os terroristas depõem as armas sem mais nada? Não exigem condições, não apresentam preço, e os americanos não assumem compromissos? Quais, como, para quando? E que promessas fazem ou fariam à Organização da Unidade Africana? E como justificaria esta o seus silêncio sobre nós e a ausência de ataques a Portugal? Não, meu caro senhor, os americanos continuam a pensar que com jeito, docemente, conseguem anestesiar-nos e impelir-nos por um plano inclinado".
Salazar suspende a sua fala, concentra-se em silêncio na imensidade do céu, aconchega mais a manta sobre o peito e o pescoço, e continua.
"Está claro que se aceitássemos o caminho dos americanos, em troca do Ultramar choveriam aqui os dólares, receberíamos umas tantas centenas de milhões. Ficaríamos para aí todos inundados de dólares e de graça. E sabe? Os que vierem depois de nós ainda haveriam de dizer: afinal era tudo tão fácil, não se percebe mesmo por que é que aqueles tipos não fizeram isto. Mas os dólares iam-se num instante, deixavam umas fábricas e umas pontes, e depois começava a miséria. Duraria o ouro dois ou três anos. Depois era a miséria, a miséria, a dependência do estrangeiro. E em qualquer caso é-nos defeso vender o país".
Nova suspensão de Salazar, como quem se recolhe para organizar melhor os pensamentos que vai expor.
"Por outro lado, temos de pensar no futuro, na história, no julgamento da história. Não podemos recusar este passo que os americanos deram sem esgotar todas as suas possibilidades, e sem que fique bem documentado que fomos até ao extremo limite da flexibilidade e das concessões, salvaguardando a unidade e a integridade da nação. E se conseguíssemos que os americanos fizessem mais uma pequena evolução, dessem mais um pequeno salto, então tiraríamos o carro do atoleiro. De modo que entendo devermos preparar um papel, um memorandum, com as bases de um acordo com os Estados Unidos. Sem sacrifício de nenhum princípio nosso, e sem nos deixarmos arrastar ingenuamente, vamos pôr à prova a boa-fé dos americanos. Se, como costuma dizer-lhe Rusk, e o Ball repetiu, autodeterminação é para os americanos o consentimento dos governados à forma de governo, pois, poderemos encontrar a fórmula que comprove que toda a nação portuguesa, aderindo à forma de governo, se encontra autodeterminada, e que nesse sentido pratica actos que o demonstram. Ah! se os americanos dessem o salto e tirássemos o carro do atoleiro!"».
Franco Nogueira («Um Político Confessa-se. Diário: 1960-1968»).
«Diz Thomaz Ribeiro Colaço, numa síntese perfeita: "É portuguesa, como se sabe e não sofre contestação, a mais velha fronteira a demarcar no mundo da área cristã, uma unidade-nacional. Essa fronteira política e não natural, não é nem nunca foi daquelas que laboriosamente se ajustam em chancelarias inteligentes. Nenhuma chancelaria a ajustou e, adentro dela, Portugal entrou no seu oitavo século com 80% de analfabetos - o que exclui, para o desenho dessa fronteira, qualquer intelectualismo persistente na acção de elites numerosas. Isto quer dizer que a simples permanência de Portugal na Europa o torna documento de fenómeno único: génio político exercido pela massa. Depois, como capitalista inseguro que transfere bens para o exterior, essa massa, insegura na Península, transferiu para o exterior substância sua. Esse seu capital era Pátria, era Nação, era Liberdade comum. Digamos, Portugal depositou Portugal no exterior - e assim criou no mundo, como caso singular, como caso unicamente seu - a autenticidade de uma nação pluricontinental. Note-se: seria inconcebível que Shakespeare escrevesse em Singapura ou Cervantes nas Filipinas; mas foi muito natural que, antes, Camões escrevesse a sua obra em Macau"...».
Henrique Galvão («Da minha luta contra o Salazarismo e o Comunismo em Portugal»).
«Lisboa, 3 de Setembro [de 1963] - Galvão encontra-se nos Estados Unidos, a convite da ONU, para depor contra o governo português na comissão anticolonial. O novo embaixador dos Estados Unidos, Anderson, pediu que não invocássemos o tratado de extradição que está em vigor entre Portugal e o seu país. Disse-lhe que o invocaremos, mas que ainda estudamos a forma de o fazer. Verificou-se haver eu sido o último ministro dos Estrangeiros a ser recebido pelo Presidente Kennedy. Este crime político não pode deixar de impressionar, e pode bem ser um sintoma do clima de violência que os Estados Unidos semeiam ou encorajam pelo mundo. Afro-asiáticos solicitam a convocação do Conselho de Segurança para de novo se ocupar da política portuguesa em África.
Lisboa, 5 de Dezembro - Arranjei forma de invocar o tratado de extradição com os americanos de modo que estes, por virtude de atraso nas diligências portuguesas, não possam cumprir o acordo a tempo de deter Galvão. Salazar percebeu perfeitamente a técnica, e fechou os olhos, numa aprovação tácita.
Partida para Nova Iorque.
Nova Iorque, 7 de Dezembro - Um bocado de Conselho de Segurança neste fim-de-semana. Tudo se desenrolou como de hábito e como previsto. Os mesmos - Libéria, Tunísia, Serra Leoa, Madagáscar - procuravam atirar sobre nós a responsabilidade pela ruptura das conversas luso-africanas - e isso porque não aceitámos a sua ideia de autodeterminação. Pelos corredores da ONU também anda Henrique Galvão, ao que me dizem, e acarinhado pelos afro-asiáticos; mas não o vi ainda.
(…) Nova Iorque, 10 de Dezembro - Respondi ontem no Conselho de Segurança às acusações dos afro-asiáticos. Réplica da Tunísia, Libéria, Ghana e Marrocos. Tréplica minha, quase imediata, e em tom áspero. Quanto aos membros efectivos, desta feita foram de infinita moderação. Sobretudo a Noruega e o Brasil: pronunciaram-se com muito cuidadinho. Franceses, excelentemente correctos; ingleses e americanos, um tanto desagradáveis, mais na forma do que na substância. Resolução no fim aprovada segue as linhas habituais: os afro-asiáticos já compreenderam que há uma fronteira política que não podem cruzar. Atmosfera no Conselho é a dos grandes dias - mas sem o espectáculo e o drama da reunião anterior.
Uma coincidência. Ao tempo que eu esgrimia no Conselho de Segurança, no andar de baixo, na sala da Quarta Comissão, fazia Galvão o seu depoimento. Pois bem: Galvão chamou aos africanos irresponsáveis formigas; acusou-os de não representarem nada nem ninguém; e nada de conceder independências a Angola e Moçambique. Africanos ficaram irritados; Argélia saiu da sala; Togo, os dois Congos, a Costa do Marfim criticaram-no sem piedade. Ao fim da tarde, disse-me o delegado do Gana no Conselho de Segurança: Galvão está velho, o seu depoimento desapontou-nos, e se aquela é a voz da oposição, então isso quer dizer que, em matéria de Ultramar, os portugueses pensam todos da mesma forma, e não podemos contar com Galvão. Eu disse que sentia profundamente o seu desapontamento.
Nova Iorque, 11 de Dezembro - Durante estes dias não tive qualquer comunicação com Salazar, mas enviei-lhe no final um telegrama de síntese a que o chefe do governo responde com telegrama de comentário saboroso. É este, na íntegra: "Agências noticiam com grande soma pormenores exposição Galvão. Apesar o apresentarem chefe democratas portugueses e autor acções que só nós consideramos crimes comuns, não escondem que sua atitude não agradou Estados africanos pois defende posições muito diferentes. Era difícil ter mudado. De forma que temos em conclusão: Galvão satisfez seu orgulho e desejo de ocupar de novo palco internacional; africanos decepcionados e impossibilitados argumentar com posições portuguesas; Estados Unidos muito contentes por mostrarem sua superior neutralidade e exemplar cumprimento tratado tudo preparando para Galvão não ser entregue à justiça portuguesa; nós recebendo directamente de um inimigo com experiência colonial confirmação nossa doutrina. Jornais manhã publicaram largas referências discurso V. Ex.ª no Conselho de Segurança mas só Diário da Manhã segundo me pareceu publicou texto completo. Discurso muito claro e bem deduzido. Admiro como pôde prepará-lo em poucas horas. Felicito-o vivamente. Tem-se impressão em face esta reunião Conselho duma peça gasta e que maioria membros desejarão que saia do palco. Isto não quer dizer não votem todos pressurosamente o que africanos desejam no que também não há grande mal. a) Presidente do Conselho"».
Franco Nogueira («Um Político Confessa-se. Diário: 1960-1968»).
 |
Ver aqui
|
«Às 15 horas entrava no edifício da ONU e, pouco depois, numa sala enorme como grande praça pública, e completamente cheia de gente, era-me dada a palavra.
Falei duas horas e quinze minutos, sempre escutado com muita atenção, e apenas interrompido duas vezes pelo Presidente, a quem não convinha, ou por que assim o entendeu objectivamente, que eu me afastasse um só milímetro do assunto para que fora convocado. Contra a expectativa geral, e a minha, fui sempre tratado com impecável correcção. Depois de depor, seria o interrogatório para o qual estavam inscritos numerosos delegados dos países afro-asiáticos. Apenas cinco ou seis falaram, nitidamente contra mim, mas em termos perfeitamente aceitáveis, que, com facilidade rebati. A maioria dos que haviam pedido a palavra para interrogatórios, desistiram - e alguns vieram cumprimentar-me. Tive a impressão de que o meu depoimento os surpreendera e desconcertara. Esperavam que eu tomasse partido, por uma das teses correntes da ONU - e para essa hipótese se haviam preparado. Como poderia eu, meu Deus!, estar de acordo com qualquer dos extremismos que ali arengavam, no mais colossal desconcerto de propagandas delirantes que já se vira neste desconcertado mundo. A África real, a verdadeira África, que estava como pretexto de tantos ódios, paixões e interesses, não seria coisa muito diferente da que ali se apresentava? Não; o meu depoimento não concordava nem com uns nem com outros, nem com as maiorias nem com as minorias. Não podiam, é claro, responder-me sem previamente terem consultado os seus governos. Por isso todo o ataque foi frouxo - e a maioria desistiu. Como tivesse falado, sem me ter servido de quaisquer notas ou documentos, deixei depois um resumo da parte essencial do meu discurso que não só ficou na ONU como foi largamente distribuído.»
Henrique Galvão (in «Da minha luta contra o Salazarismo e o Comunismo em Portugal»).
Cultura Ocidental e África Tribal
Quando os Europeus - digamos, os Portugueses - entraram em África no século XV, encontraram já uma África tribal em decadência, ainda com todas as suas instituições em funcionamento, mas já minada pelos agentes destrutivos, por assim dizer suicidas, que tumultuariamente a arrastavam para a extinção pura e simples. Não importa, nem este seria o seu lugar, distinguir etnograficamente os povos que habitavam a África e os que a ela vieram como invasores (Bantus, Sudaneses, Nilóticos, Hamitas ou Chaimitas, Pigmeus e Bochimanes, Zulus ou Hotentotes, etc.). Importa aqui fixar apenas que nenhum vínculo especial ligava esses povos às terras que sucessivamente ocupavam e que todos mais ou menos, voluntária ou involuntariamente, abandonavam, acossados pelas necessidades de subsistência ou pela conquista de outra ou outras tribos mais poderosas, na inquietude social mais dramática que, porventura, se verificou no mundo. Não havia, nem podiam formar-se, em tais condições, ideias, conceitos ou sentimentos de pátria ou de nação, pois a terra era elemento transitório e fugaz, que podia abandonar-se e não prendia ninguém - nem sequer pelo respeito devido aos mortos que lá ficavam. Só a tribo, assim movediça e instável, a mais forte dominando e expulsando a mais fraca, a fome obrigando todas as cruéis migrações, juntava famílias e clãs, e dava a cada aglomerado populacional, independentemente da terra que ocupava, uma personalidade moral e política definidas. Mas também a tribo ia corrompendo nestas andanças, que facilitavam a exogamia casual, misturando sangues e adulterando os caracteres originais.
Desde o primeiro milénio da era cristã até ao fim do século XV, houve os grandes movimentos de migração dos povos bantus, que, vindos do Norte, Nordeste e Oriente, ocuparam quase toda a África Central e do Sul, tendo destruído, expulsado e escravizado, para se estabelecerem ou passarem, as antigas populações. Depois deram-se, para só citar as mais importantes, nos séculos XVI a XIX, as invasões dos Sudaneses, dos Nilóticos e dos últimos Bantus conduzidos por famílias hamitizadas. Estes últimos avançaram sob o impulso de pastores hamitas, proprietários de grandes rebanhos de gado, os quais, tendo descido dos planaltos de Nordeste procuravam novas pastagens, obrigando boa parte dos bantus agricultores, para evitar a fome, a deslocar-se em busca de novos terrenos de cultura. Um grupo destes hamitas, os gigantescos Watutsi, instalar-se-ia em Ruanda-Urundi. Outras migrações de menor importância se produziram incessantemente, e mais ou menos em toda a África ao sul do Sara, até à segunda metade do século XIX.
A tribo, a unidade gregária destes povos, manteve, durante toda essa atribulada época, a sua organização, os seus usos e costumes, as suas instituições, estranhos a qualquer influência exterior e tipicamente africanos. Mas não podiam deixar de sustar uma evolução progressiva, de a corromper - aos mais fortes como aos mais fracos, aos mais independentes como aos mais subjugados - esta correria das tribos através de toda a África, as confusões étnicas que daí resultaram e a inquietação que a todos dominava. Foi esta causa que mais decisivamente contribuiria para a decadência das tribos. Outras causas, porém, consequências delas, ou libertadas por elas do equilíbrio em que se mantinham com instituições que as compensavam ou corrigiam, contribuiriam pesadamente para o mesmo fim. Foram, sobretudo, as práticas da feitiçaria, depois a escravatura e a inospitalidade do clima, agravada pela incontinência sexual e pela selvajaria de uma terapêutica brutal. A escravatura, de que muitos europeus se fariam «colaboradores oportunistas» e que não era ainda negócio hediondo e se movimentava entre os costumes, era, desde tempos imemoriais, prática de negros, depois de negros e árabes, que forneciam de escravos o mercado internacional e os mantinham entre si como animais - costume que ainda se conserva clandestinamente em algumas tribos africanas.
 |
| Vista geral de Lourenço Marques no primeiro decénio de 1900. |
 |
| Monumento a Mouzinho de Albuquerque, na praça com o mesmo nome, em Lourenço Marques (anos 1940). |
É preciso realmente que a raça negra seja, como é, uma raça admirável, para ter resistido ao desgaste colossal de população que sofreu até à segunda metade do século XIX - e que, a continuar, a levaria, praticamente, em África, à extinção. Apesar da sua prolificidade, a raça negra era então uma raça em decomposição, suicida, cujo número minguava apressadamente - e que não encontrava a sua terra.
Foram os Europeus que, ocupando a África, depois a dividiram e nela se estabeleceram como senhores, e atrás deles outros ocidentais, que salvaram a raça negra, sustaram o seu movimento suicida e provocaram, ao fim e ao cabo, o progresso numérico da sua população. As guerras que empreenderam na ocupação das suas colónias, e que deixaram recordações odiosas, tiveram mais o aspecto de guerras disciplinares contra um estado de coisas insustentável do que propriamente o de guerras de conquistas; não fossem elas, e outras mais cruéis, entre os próprios negros, se teriam produzido. Talvez as intenções com que as fizeram fossem, em muitos casos, menos humanas; mas foi esse o seu resultado prático. Com os erros e pecados do seu colonialismo despótico, as suas cobiças espoliativas, o racismo desdenhoso de alguns, o desinteresse havido pela sorte e situação dos elementos nativos, as injustiças na distribuição das terras, enfim, com todos os males e defeitos que constituem hoje razões de queixa dos negros - e que são, por parte destes, factos inegáveis - esse colonialismo introduziu também em África, além de certa ordem na repressão dos costumes mais desumanos dos negros, escolas e hospitais, estudou e combateu as moléstias epidémicas que mais assolavam a África, difundiu as práticas de higiene, tornou habitáveis muitas regiões inóspitas, organizou serviços de assistência, combateu a escravatura, reprimiu a antropofagia e as práticas hediondas da feitiçaria, possibilitou o acesso de muitos negros às escolas e universidades e preparou, talvez inconscientemente, a revolução africana que depois da Segunda Grande Guerra eclodiu em África. Quer dizer: não só deteve os flagelos que destruíram a raça negra em África, como a levou a reencontrar as sendas em que a sua população poderia progredir; e isso parece ter sido esquecido mais facilmente do que foram os seus pecados, por aqueles que assentaram a sua revolução no ódio ao branco e se negam a reconhecer que, sem haverem passado por esta fase do colonialismo, isto é, sem a verdadeira revolução prévia realizada pelo colonialismo em África, a raça negra apenas teria consumado o seu suicídio.
Não foi isento, sim, de graves pecados e de alguns erros, o colonialismo praticado em África pelos Ocidentais, mas, considerado no seu todo, com os pecados que odiosamente se lembram e delatam, e com as virtudes que o ódio aceso pelos primeiros ignora ou pretende ignorar, falsificando a História - é certo que o saldo tem de avaliar-se positivo. Demais, positivos também foram os saldos do colonialismo a que todas as nações, as antigas e modernas, foram submetidas, e ao qual devem a possibilidade de formar as suas nacionalidades, até sem a menor consideração pela sorte dos povos nativos. Mas também, ao contrário do que sucedeu com outras nações que se libertaram do colonialismo, por bem ou por mal, não se mostram - nem poderiam mostrar-se - mais dignos, mais respeitáveis, mais humanos e mais conscientes da sua «liberdade», a maioria esmagadora das «nações» que precipitadamente alcançaram a independência política e passaram bruscamente, ou quiseram passar, de uma situação quase inteiramente tribal para a dignidade de nações livres e independentes.
Aqui voltamos novamente à tribo, que parecia termos abandonado.
A partilha da África, quando da Conferência de Berlim, foi realizada por acordos e imposições ofegantes, com critério absolutamente colonialista, sem conhecimento dos territórios partilhados e com muito menos conhecimento ainda das tribos que os ocupavam. Foi uma partilha de régua e esquadro, combinada e imposta em gabinetes europeus mal informados, como facilmente se pode verificar hoje por simples exame de uma carta de África. Linhas convencionais de fronteira dividiram tribos que ficaram sujeitas a países diferentes - o que, de momento, não preocupava nem os Estados soberanos, cujos poderes ignoravam todas as dificuldades, nem as tribos, que ignoravam a arbitrária divisão. Estas apenas sentiam a licenciosa liberdade de movimentos perdida… e com um encargo e uma função novos para elas: o trabalho compelido e o imposto ao novo soberano. As coisas decorreram então perfeitamente, muitas foram-se humanizando, a cultura ocidental impunha-se e absorvia os mais anti-ocidentais - mas as tribos, então mais estudadas e rebuscadas, tornaram-se motivo de interesse para etnólogos ou de pitoresco para os amadores, sem que algum poder político demonstrasse preocupar-se pelo seu destino para além dos impostos e obrigações de trabalho. Destituídas de muitas das suas características originais que, contudo, já em decadência, se mantinham ainda especificamente africanas, e no uso de instituições que se equilibravam, muito reduzidos os poderes dos seus chefes tradicionais e mais distantes da cultura ocidental de que, a bem dizer, apenas conheciam as partes espoliativa e punitiva - as tribos esfarelaram-se. Esvaziaram-se do seu conteúdo substancial e não lhes deram coisa alguma que enchesse esse vazio; e assim ficaram, as mais fortes curtindo saudades tribais recalcadas de poder e glória, com ódios, todos os dias renascidos e cultivados, transmitidos de pais a filhos, em misteriosas conversas nos tchio cos; as mais fracas e submissas na apagada e vil tristeza do seu viver. Muitos brancos, então, pressentiram o perigo que representava esta situação tribal que só evoluía em ódios; mas as suas preocupações cristalizavam em literatura, que só como literatura impressionava os mais responsáveis. O negro trabalhava, pagava os seus impostos, era cliente cada vez mais numeroso de um mercado que todos os dias lhe oferecia coisas novas, e que assim se dilatava e prosperava; era o que realmente interessava à Administração.
Entretanto, a cultura ocidental havia criado fortes raízes. Das tribos chegavam às cidades, todos os dias, os melhores e os mais irrequietos - uns, que se espalhavam por escolas e universidades ocidentais, outros que permaneciam no burburinho das cidades - em confusos complexos de que faziam parte os grandes místicos, os revolucionários sem mística e os piores aventureiros. Uns vinte por cento da população - talvez exagere - arrancados às suas tribos, delas divorciados, mas ainda com os sentimentos tribais; todos aglutinados pelo ódio aos brancos, que mais tarde tanto comprometeria a justiça da sua revolução.
Veio a última guerra - e tudo se precipitou no espaço contra o Tempo. A algumas independências oportunas e a outras retardadas, sucederam as independências precipitadas de quase toda a África Central, que assim passava de uma realidade tribal para uma irrealidade nacional, sem ter passado por um estágio de autonomia sem colonialismo que houvesse arrumado a questão territorial e estabelecido fronteiras de harmonia com a distribuição tribal; que houvesse encarado a realidade das tribos de maneira a constituí-las em províncias; que houvesse saneado ódios alucinados; que houvesse, enfim, preparado povos, e não apenas líderes, para uma independência verdadeira. Não eliminaria possivelmente todas as lembranças amargas do colonialismo; mas tornaria muito mais respeitáveis as boas. Mas não. Por um lado, as independências foram dadas com incrível facilidade e sem lutas, e logo que se verificou que, sem as responsabilidades e despesas de Administração, podia manter-se o negócio; era o neocolonialismo que subrepticiamente se instalava como sucessor do colonialismo. Por outro lado, a maioria dos líderes africanos, ávidos de poder e manobrados por ódios descontrolados, aceitavam a situação sem medirem as consequências - e tanto melhor quanto a sua revolução encontrava no mundo uma simpatia quase universal.
As consequências aí estão, em oposição aos esforços da propaganda, ao auxílio que lhe prestaram os grandes repórteres internacionais, à falsificação que têm feito da História das coisas, à discussão de consequências com o desprezo das causas - lançando a Revolução africana na mais caótica das confusões.
Não nos surpreendem; sempre as previmos.
Embora agora com paixões importadas do grande conflito mundial - outras se ateariam com outras causas - o que actualmente sacode a África é a erupção espontânea de seculares irredutibilidades tribais que despertam, de velhos ódios contidos, que com o pretexto de novos mitos renovam um antigo estado de coisas.
 |
| Ver aqui, aqui e aqui |
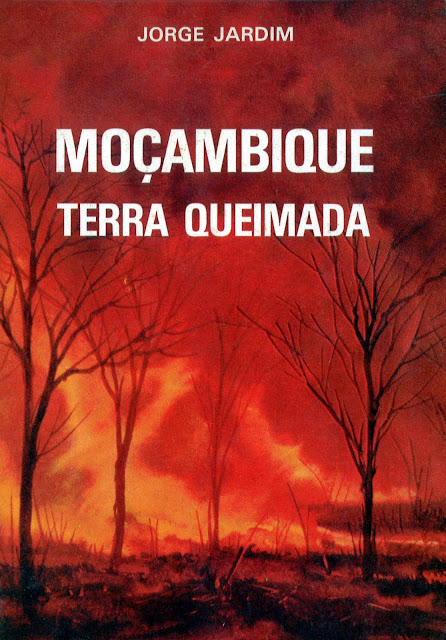 |
|
|
A África arde hoje em quase toda a sua extensão. E mais arderá ainda - e então irreprimivelmente.
(Extracto do texto publicado no «Estado de São Paulo», 2 de Fevereiro de 1964, in Da Minha Luta Contra o Salazarismo e o Comunismo em Portugal, Arcádia, 1976, pp. 209-215. O presente título é da nossa responsabilidade).
 |
| Ver aqui, aqui e aqui |












































Nenhum comentário:
Postar um comentário