 |
| Estátua da Liberdade, em Nova Iorque. |
«… talvez por força do seu idealismo, talvez também por influência do seu passado histórico que aliás não pode ser invocado por analogia, os Estados Unidos vêm fazendo em África, embora com intenções diversas, uma política paralela à da Rússia. Mas esta política, que no fundo enfraquece as resistências da Europa e lhe retira os pontos de apoio humanos, estratégicos ou económicos para sua defesa e defesa da própria África, revela-se inconciliável com o que se pretende fazer através do Atlântico Norte. Esta contradição essencial da política americana já tem sido notada por alguns estudiosos, mesmo nos Estados Unidos, e é grave, porque as contradições no pensamento são possíveis, mas são impossíveis na acção. [A] América, presa de esquematismos ideológicos, penso virá também a ser vítima – a última – desta contradição, se nela persistir».
Oliveira Salazar
Anticolonialismo e suas contradições (1)
Ser anticolonialista tem constituído moda. Países, governos, indivíduos tomam posição contra o colonialismo. Do mesmo passo todos são a favor de governo próprio, de autodeterminação, de independência para todos os povos. Estabelece-se assim uma relação directa entre as duas atitudes: fica implícita a ideia de que aqueles valores ou objectivos políticos e sociológicos são negados ou contrariados pelo colonialismo: e por isso haverá que extinguir este se se quiser proteger e fomentar aqueles. De um ponto de vista teórico, não há objecção válida aos conceitos de autodeterminação ou de independência, nem à transposição dos mesmos para o plano abstracto dos direitos humanos e da liberdade individual. Mas concluir pela negação inevitável daqueles valores apenas pelo facto de existir uma situação colonial será tão precipitado como afirmá-los simplesmente porque se processou uma autodeterminação ou independência. Independência ou autodeterminação do Estado não coincidem nem implicam necessariamente a garantia da liberdade individual ou o respeito pelos direitos humanos. Mas aqui insere-se muitas vezes um aspecto racista: aceita-se a negação dos direitos humanos desde que praticada por homens da mesma raça: rejeita-se a protecção dos direitos humanos desde que exercida ou garantida por indivíduos de raça diferente. Esta confusão entre conceitos e planos políticos e sociológicos leva-nos, porém, a pôr uma pergunta: qual é a essência de uma situação colonial? Por outras palavras: o que é uma colónia? Haverá de se conseguir acordo sobre uma definição de «colónia» se quisermos saber o que se combate. Mas não é conhecida qualquer definição teórica ou prática; e se se desejar apurar em que consiste uma «colónia» teremos de ser guiados por um conjunto confuso de princípios e ideias extraídos da controvérsia sobre o colonialismo.
Do debate internacional veremos emergir um denominador comum: é «colónia» todo o território que, geograficamente separado do território em que se acha o governo central, seja habitado por uma população de diferente raça e cultura e que esteja numa condição de subdesenvolvimento social e económico. São três, por consequência, os traços básicos da definição: geografia; raça e cultura; e estado de desenvolvimento. Serão procedentes? Se se aceitar que a separação geográfica denuncia a existência de uma colónia, haveremos de formular duas perguntas: deverão todos os territórios geograficamente distanciados ser considerados colónias e, no caso negativo, a que distância se converte em colónia um dado território? Como nenhuma resposta é dada nem pode ser dada à última pergunta, concluiremos que qualquer território, distante ou perto mas separado, tem de ser havido como colónia. Porto Rico teria de ser assim considerado, da mesma forma que seriam colónias as ilhas do Hawai, o Estado de Alaska, o Paquistão Oriental, e os países constituídos por arquipélagos como a Indonésia, o Japão, ou as Filipinas: e poderiam citar-se muitos outros exemplos. Parecerá absurda esta exemplificação, e com fundamento: e isso porque no caso como os citados outros factores deverão ser tomados em conta. Teremos de concluir que as considerações de ordem geográfica, por si mesmas, são irrelevantes, e que a geografia não dá nem nega direitos. Dir-se-á de passagem, todavia, que o critério de separação geográfica parece útil porque permite a conquista e a anexação de territórios contíguos sem que se incorra na acusação do colonialismo. Mas vejamos o que respeita à raça e à cultura. Se se aceitar que diferenças de raça e cultura denunciam a existência de uma colónia, e se toda e qualquer colónia houver de ser independente, então deveremos adoptar as seguintes conclusões: que há raças puras e culturas em compartimentos separados; que cada unidade racial e cultural deverá formar uma unidade política distinta; que as nações compostas por várias raças devem ser fragmentadas em tantas unidades independentes quantas as raças e culturas que possam existir no território nacional; e que, finalmente, temos de aceitar como inevitável a ideia de acção e reacção, e portanto de conflito, entre as diferentes raças e culturas.
Concordar-se-á sem detido exame que são infundadas as conclusões precedentes. Decerto: não existe uma raça pura, como não existe uma cultura fechada; a segregação racial e a supremacia de uma raça sobre outra deveriam ser universalmente rejeitadas; e, no fim de tudo, as nações são praticamente habitadas por diversas raças e contêm diferentes culturas. Devemos ir mais longe: apenas são grandes nações aquelas em que raças variadas se têm misturado e integrado, cada uma completando as demais, e só essas têm contribuído para o progresso da humanidade. As grandes nações do mundo – Estados Unidos, União Soviética, China, Brasil – abrangem muitas raças e culturas, e muito têm enriquecido a civilização. Paralelamente, a história prova-nos que as nações habitadas por uma só raça, e com uma só cultura, uma religião, uma língua, podem dar-nos a impressão de estabilidade e de felicidade; e pouco têm contribuído para o progresso da humanidade. Tudo isto mostra que a raça e a cultura, como elementos que denunciam colonialismo, são irrelevantes: ou um território habitado por uma raça diferente não constitui por esse facto uma colónia, ou países geograficamente unidos podem conter no seu seio situações coloniais. Salvo se se admitir a confissão de racismo, não será possível evitar aquela confusão. Mas veja-se o terceiro elemento do que se designa por colónia: um território social e economicamente subdesenvolvido. Já se assentou que a geografia é irrelevante; e que são irrelevantes a raça e a cultura. Deveremos tomar como relevantes as condições económicas e sociais? Constitui realidade indisputável a existência, em quase todos os países do mundo, de regiões em graus completamente diferentes de desenvolvimento económico e social. Mesmo nos Estados Unidos, que é país altamente desenvolvido, achamos aquelas diferenças; e o mesmo acontece, mais vincadamente, no Brasil, na China, na Itália, na União Soviética, entre outros. Por toda a parte, de facto. Há portanto que perguntar: deveremos considerar como colónias as áreas subdesenvolvidas de países altamente desenvolvidos? Se se responde pela afirmativa, teremos uma situação colonial no âmbito de países geograficamente unidos, e o facto deve ser examinado pelos anticolonialistas; mas se respondermos pela negativa, haveremos então de concluir que o facto de ser subdesenvolvido um território geograficamente separado não denota a existência de uma colónia. Por um raciocínio realista e de simples bom senso somos levados a concluir que a definição de colónia, internacionalmente aceite, não resiste a uma análise fria e objectiva. Mas por que é geralmente aceite uma tal definição? É óbvia a resposta: por razões políticas, de expediente e de oportunismo. E isto conduz-nos ao plano internacional.
Quando o Presidente Roosevelt e o Primeiro-Ministro Churchill assinaram no alto mar a Carta do Atlântico, apresentaram ao mundo as noções de autodeterminação e de governo próprio para todos os povos e países, e apresentaram-se a si próprios como sendo os grandes campeões da liberdade. É um facto. Mas é também um facto que tinham em mente, de forma bem clara, os povos e países então ocupados pela Alemanha. Recordemos que pouco depois Churchill afirmava que o Reino Unido guardaria o que possuía, e que não se havia tornado Primeiro-Ministro de Sua Majestade para presidir à liquidação do Império Britânico. Mas a União Soviética, tendo emergido como uma das grandes potências, não perdeu a oportunidade de oiro que lhe era concedida. Todos sabemos que desde os tempos de Lenine a libertação das colónias de outros constituiu um ângulo permanente da política soviética: não pelas populações em si: mas como meio de enfraquecer e finalmente destruir as nações capitalistas. Explorando a crise sofrida pela Europa depois da guerra, e usando como slogans as noções de governo próprio e de autodeterminação, a União Soviética, na Ásia e depois na África, iniciou um movimento no sentido do que chamou a libertação de todos os territórios dependentes. Na Europa o bloco comunista era internacionalista, e proclamava a abolição de fronteiras; mas noutros continentes tornara-se aguerrido defensor dos movimentos nacionalistas. Todavia, e para evitar sofrer a ressaca da sua propaganda, gradualmente a política comunista forçou as potências ocidentais a uma posição em que tiveram de aceitar uma definição de colónia que precisamente se aplicaria apenas às colónias ocidentais mas não aos territórios que a Rússia e depois a União Soviética tomaram na Europa Oriental e no Extremo Oriente. Enfraquecida no seu poderio económico e militar, incerta quanto aos valores morais e políticos que lhe haviam sido tão queridos durante tanto tempo, relutante em erguer-se e lutar pelos próprios ideais que havia criado, a Europa abandonou-se, depois da guerra, à linha de acção que lhe pareceu mais fácil e de menores sacrifícios. Foi esta a origem, no espaço de poucos anos, do movimento geral que ficou conhecido pelo nome de «descolonização». Sem embargo, outros factores haverão de ser tidos em conta. De um lado, logo que a independência de alguns países na Ásia foi proclamada – e isso foi também devido à acção e propaganda japonesa, conduzidas contra as posições ocidentais no Oriente – aqueles novos países tornaram-se vigorosamente anticolonialistas; por outro lado, as antigas potências coloniais desejaram conservar a amizade dos mesmos, para melhor proteger e expandir os seus interesses; e, finalmente, o mundo começou então a separar-se em dois blocos ou pólos opostos, cada um dos quais desejava ganhar para si, ideológica e politicamente, as nações emergentes. Todos estes foram os elementos principais do movimento anticolonialista, e logo verificamos que o mesmo contém em si o fermento de um círculo vicioso que se volve e revolve sem que aparentemente se saiba como sustá-lo. De facto, como os novos estados asiáticos eram anticolonialistas, sentiram-se obrigados a lutar pela independência de todas as colónias; como as antigas potências coloniais desejavam agradar-lhes, continuamente acediam às suas exigências; e porque todo este processo foi prosseguido no quadro de uma guerra ideológica e política entre dois blocos opostos, cada um dos quais queria ser mais avançado e radical do que o outro, o ritmo da suposta libertação tornou-se cada vez mais rápido, ultrapassando os limites da segurança. De tudo resultou que cada nação ocidental se sentiu compelida a fazer uma opção política nacional. O Reino Unido, sem embargo da declaração de Churchill, abriu o caminho. Outros, como a França, a Holanda, a Bélgica, seguiram-lhe os passos. E assim uma vasta massa de novos Estados foi criada e, admitida nas Nações Unidas, e todos formam o que chama a zona cinzenta, que se presume ser neutra e não-alinhada entre os dois blocos ou pólos de força.
Foi feita menção das Nações Unidas, e sobre o seu anticolonialismo alguma coisa haverá de se dizer. São uma criação das potências ocidentais as Nações Unidas, e aquelas têm depositado na organização ampla confiança nos últimos quinze anos (2). Como podiam dominá-las, as Nações Unidas apareciam-lhes como uma tribuna excelente e uma magnífica ferramenta para a condução da sua política externa. Mas o movimento anticolonialista, desencadeado no pós-guerra, não podia deixar de se reflectir no quadro da organização. Por isso aquele se transferiu para a Assembleia Geral, e isso na intensa atmosfera de guerra fria entre os dois blocos. Temos de ver, porém, que a Assembleia das Nações Unidas trabalha com um método formal parlamentarista, tomando decisões por votação, sendo a cada membro atribuído um voto. Este processo, como é evidente, implica deliberações por maioria. Ora no plano parlamentar das Nações Unidas a luta pelo poder e o conflito entre o Leste e o Oeste conduzem-se através de uma batalha sem tréguas pela conquista da maioria na Assembleia. Mas esta não fica garantida automaticamente, e através de sucessivos votos sobre os problemas em debate, a menos que em troca os seus desejos e os seus interesses sejam continuamente satisfeitos. Para isso cada um dos dois blocos opostos tenta agradar e apaziguar a maioria, e assim se suscita uma atmosfera de leilão político e de concurso de popularidade, em que cada bloco busca ultrapassar o outro através de concessões à maioria, na esperança de que esta por seu turno apoie a linha política adoptada por aquele. Daqui haveremos de retirar duas conclusões: o equilíbrio de poderes, no quadro da Assembleia, é pertença da maioria e está nas suas mãos; e as decisões da Assembleia são artificiais e não são função das realidades do poder fora das Nações Unidas, uma vez que os países constituindo a maioria não representam na verdade as forças humanas, políticas, económicas e militares que contam no mundo. Esta situação leva-nos desde logo a uma outra consequência: as Nações Unidas são impotentes quando confrontadas com os grandes problemas do mundo – desarmamento ou experiências atómicas, por exemplo – porque a solução de tais problemas está directamente ligada aos interesses imediatos dos dois blocos, e como são estes que dispõem do poder económico e militar, à Assembleia é vedado atravessar a linha desse poder sob pena de afectar o equilíbrio existente, provocando assim a possibilidade ou o perigo de guerra. Este facto – isto é, o facto de que a Assembleia não pode tocar nos interesses nacionais imediatos de cada um dos dois blocos principais – compele as Nações Unidas a preocuparem-se tão-somente com os problemas que ficam para além da esfera intocável dos interesses vitais de cada bloco. É neste ponto que o problema do colonialismo nos aparece no plano das Nações Unidas. Ver-se-á já este aspecto. Mas antes, e para obtermos um quadro mais completo, não deveremos perder de vista o sistema adoptado pela Assembleia no debate dos problemas. Neste particular, será de sublinhar que os debates são debates públicos. Daqui decorre que a posição assumida por cada delegação, porque é pública, se torna automaticamente mais dura e rígida, dado que ninguém deseja permitir a ideia de que se curva a qualquer espécie de pressão; e segue-se ainda que cada delegação não está preocupada apenas com a impressão a causar na Assembleia mas na opinião pública mundial também. Desde que os debates fornecem um ensejo óptimo de propaganda, as delegações sucumbem à tendência para intervir em todos, mesmo nos dos assuntos alheios que não são os dos seus países, e actuam de acordo com a disciplina dos grupos ou as pressões a que são submetidas. Como os problemas são discutidos e debatidos por todas as delegações, logo se internacionalizam, e ficam portanto sujeitos às incidências da guerra fria. Deste facto um outro deriva: qualquer assunto, sem embargo de poder ser puramente técnico ou económico, transforma-se imediatamente numa questão política que não será decidida nos méritos mas de acordo com os interesses ocasionais da maioria. Além de tudo, e à parte outros aspectos, a Assembleia usa uma bitola dupla no tratamento de problemas que, sendo em si semelhantes ou análogos quanto às suas coordenadas, afectam no entanto diferentemente os interesses da maioria. Finalmente, afigura-se justo dizer que estes traços da Assembleia nos dão a chave da emoção, da extrema violência, da demagogia, da atmosfera de tensão e quase insulto, e do desprezo pela Carta e pelo Regimento, que caracterizam os debates das Nações Unidas: porque cada delegação deseja mostrar-se mais radical e mais avançada do que a delegação que acabou de falar.
 |
| Nações Unidas (Nova Iorque). |
Parece fiel o quadro traçado das Nações Unidas no que toca ao sistema e natureza dos debates. É dentro desse quadro, e nessa atmosfera, que se discute a questão do colonialismo. Vimos já o que geralmente se considera «colónia». Sem embargo da definição de «colónia» dar margem a todas as dúvidas e interpretações, e de não resistir a uma análise séria, a verdade é que essa definição foi adoptada pela Assembleia Geral nos últimos anos. É óbvio que o conceito tem em vista apenas um certo tipo de colonialismo: aquilo que normalmente se designa por colonialismo ocidental. E como este tipo de colonialismo tem sido debatido numa atmosfera de violência, de leilão político, de concurso de popularidade, os resultados não poderiam ser diferentes daqueles a que se tem chegado. Dada a luta ideológica entre os dois blocos, e a tensão existente por motivo da guerra fria, e a obsessão de agradar à maioria, e de conservar esta do seu lado, as potências ocidentais, e apenas estas, têm feito concessão sobre concessão, sem alguma compreensão em troca. Não se pretende significar que o sistema colonialista, no sentido do «pacto colonial» do século XIX, deva ser perpetuado. Pretende-se sublinhar, todavia, que aquele sistema, onde quer que existisse, tem sido terminado ou reconvertido sob condições impostas por pressões exteriores, e estas apenas têm sido aceites por razões políticas que são contra os interesses legítimos dos países ocidentais e sobretudo contra os próprios interesses das populações em causa. Seja como for, essa tem sido a política prosseguida pelo Ocidente. Todos conhecemos a orientação adoptada por países como o Reino Unido, a Holanda, a França, a Bélgica, e outros. Não há que emitir um julgamento sobre as atitudes daqueles países ou as respectivas políticas. Referem-se somente porque, tendo aqueles países praticado essa política, muitos parecem considerar que Portugal deveria, por aquele facto, adoptar uma orientação paralela. Na actualidade, com efeito, slogans políticos desempenham um papel muito importante na definição de uma política, e uma analogia aparente é havida como bastante para justificar a identidade de soluções em todas as circunstâncias. Estas observações conduziriam ao que muitos chamam o caso português, e aos problemas deste decorrentes. Porque, na realidade, dir-se-ia que muitos fazem o seguinte raciocínio simplista: se os territórios ultramarinos das potências ocidentais são havidos como colónias, de igual forma devem necessariamente ser considerados os territórios ultramarinos de Portugal; se aquelas abandonaram esses territórios, afirmando que lhes outorgavam independência ou governo próprio, Portugal deveria em consequência seguir o mesmo caminho. Numa palavra de síntese, parece ser esta a maneira por que é olhado o caso português. Afigura-se assim conveniente tentar esclarecer a situação neste particular.
Não há que invocar a idade dos grandes navegadores portugueses das descobertas, nem é imprescindível defender o «caso português» no plano jurídico, constitucional, moral ou histórico. Argumentos desta natureza seriam válidos e deveriam ser decisivos. Mas os «slogans» parecem ser hoje mais escutados do que são respeitados os direitos históricos, e dir-se-ia que os «ventos da mudança», que aliás se afigura sopraram já muito frouxamente, se propõem alterar tudo, mesmo o que for mais sólido e venerável. Deveremos encarar o «caso português», assim, sob uma luz diferente. E haveremos de principiar por um facto irrefutável: a África ao Sul do Sahará é governada por três sistemas sociológicos e políticos diferentes. Temos, em primeiro lugar, o sistema em que governo e administração se baseiam no racismo negro, e em que este se reserva absoluta supremacia. Ghana, Guiné, Libéria, Nigéria, Tanzânia, fornecem-nos exemplos convincentes. Estes países, e outros análogos, procuram fundar e desenvolver uma sociedade puramente negra, na raça e na cultura, com exclusão de qualquer outro elemento. É o conceito de negritude, cuja elaboração teórica tem sido feita sobretudo pelos países africanos de expressão francesa. Em segundo lugar, encontramos o sistema vigente na República Sul-Africana, e que se situa no extremo oposto. Embora os respeite, Portugal não segue qualquer dos dois e pensa que a resposta às dificuldades africanas deve ser fornecida por um terceiro sistema, que terá de ser multirracial e multicultural. Essa é a orientação portuguesa. Firma-se em princípios teóricos, uma vez que temos de considerar inadmissível a superioridade inerente de qualquer raça ou cultura; e também nas provas da história, de que Cabo Verde ou Goa são, entre outros, indisputáveis e bem sucedidos exemplos. Este é, portanto, um conceito fundamental da política ultramarina portuguesa. É simples, e é claro, e não se sabe de crítica válida que lhe haja sido ou possa ser dirigida.
Mas esta política portuguesa tem consequências muito profundas nas realidades essenciais de África. Não podem os novos países africanos, cuja independência é artificial, subsistir isolados e sós, sem ajuda exterior. Quer isto dizer que a soberania, em si própria, não constitui solução para os seus problemas humanos, económicos e políticos. Alguns dos mais velhos países independentes de África são ao mesmo tempo dos mais atrasados, e na maioria dos mais novos as condições de vida estão-se degradando continuamente. Por outro lado, a independência baseada somente em racismo negro está provocando um retrocesso social que apenas a ajuda e a intervenção exterior conseguem tornar menos veloz. Para tentar sustar aquele retrocesso, a comunidade internacional tem recorrido a vários expedientes: auxílio bilateral, directamente prestado pelos países ricos e altamente industrializados, como a União Soviética, o Reino Unidos ou os Estados Unidos ou ajuda multilateral, fornecida através das Nações Unidas ou das agências especializadas; e, finalmente, um auxílio colectivo e anónimo sob a forma de técnicos e serviços que usurpam as funções das autoridades e da administração local, e que na realidade das coisas se substituem à soberania nacional, como no antigo Congo Belga e por toda a África negra. Vistas na sua luz exacta, todas estas modalidades de ajuda devem ser consideradas fundamentalmente como novas formas de colonialismo. Seja como for, e sem embargo daquela ajuda ter carácter mercenário e ser puramente mecânica ou administrativa, não deixa, através da importação de técnicos, fundos e pessoal estrangeiros, de guiar, fiscalizar e esculpir a sociedade recipiente, sem que por esse facto todavia consiga implantar nesta qualquer sorte de civilização.
Ora Portugal segue uma orientação inteiramente diferente, e é neste particular que as virtualidades do multirracialismo se impõem com mais nitidez. Porque a constituição gradual de uma sociedade multirracial – e por isso se fez alusão à influência do sistema nas actuais realidades africanas – é uma forma de ajuda, e das mais verdadeiras, porque não é mecânica nem mercenária mas implica adesão e partilha. Quando se fala de integração dos territórios do ultramar e da metrópole, quere-se dizer que os valores de cultura circulam sem ónus entre todos e que as preocupações e os desejos de uns são os de todos. Daqui resulta que os técnicos, os funcionários, os comerciantes e os empresários se deslocam da metrópole para o ultramar, sentindo este não como terra estrangeira mas como própria: identificam as suas actividades e o seu destino com os da província escolhida. E como não estão trabalhando para um organismo internacional anónimo ou para um governo que não é o seu, sentem as aspirações locais como suas, e constituem-se nos mais estrénuos defensores dos interesses das províncias. Mas de tudo isto decorre uma outra consequência, e que é esta: a impossibilidade de uma independência que provocaria o colapso da estrutura multirracial porque a esta, para ser sólida e efectiva, não podem ser dados limites no tempo. E este é um pensamento básico que afeiçoa a política ultramarina portuguesa, e que explica por que é impraticável, para Portugal, seguir um caminho semelhante ao dos ingleses, ou franceses ou belgas. Se acaso isso fosse feito, os territórios portugueses seriam imediatamente sujeitos a uma ou outra forma de ajuda exterior, a que aludi, e não se vê em que beneficiariam; e isto para não mencionar o clima internacional de guerra fria, e de luta pelo poder no mundo, e que inevitavelmente se concentraria nos territórios para os colocar na órbita e no domínio de qualquer dos grandes pólos de força mundiais. Por último, terá de se concluir que uma outra consequência da política portuguesa é esta: a inviabilidade de uma «declaração de intenções», como requerido pela demagogia internacional, salvo se se quiser cumprir o desejo daqueles que, sabendo bem aonde fatalmente conduziria essa declaração, defendem e aconselham esta porque vêem aí um meio indirecto de alcançar os seus objectivos. Mas se o problema consiste em desenvolver uma sociedade humana, convém então distinguir duas realidades separadas: um programa sociológico e um programa político. Escolheu Portugal um programa sociológico: e este, por natureza, não comporta declarações de intenções políticas. E de todos estes aspectos básicos haveremos de concluir quanto os métodos portugueses divergem dos que têm curso internacional, e não podem ser sincronizados nem subordinados aos critérios das Nações Unidas. Por isso tem de se compreender a campanha sistemática que apresenta as províncias ultramarinas como se fossem os mais atrasados territórios da África do Sul do Sahará; e a força da propaganda é tanta, e tanta a vantagem de se acreditar naquela, que mesmo os mais responsáveis se recusam a encarar de frente uma realidade que desmentiria toda uma política e que, para se manter, só pode assentar no mito, na ficção deliberada e na consciente distorção da verdade.
Colonialismo não pode ser função de distância geográfica, ou uma questão de raça, ou de cultura, ou de estádio de desenvolvimento. Colonialismo supõe exploração económica; implica a opressão de um povo, que se classifica de inferior, por um outro, que se julga superior; nega os direitos humanos e a liberdade individual; procura servir e aumentar o poder nacional do país colonialista; e por último suprime a liberdade de uma nação submetendo-a ao domínio de uma ideologia ou credo estrangeiros. A descolonização, conduzida como tem sido, constitui uma miragem: ou deixa atrás de si o prolongamento agravado de situações coloniais pré-existentes; ou transforma-as sob outros nomes; ou permite a recolonização por um novo colonizador, embora possam ser diferentes os termos políticos e económicos em que esse se movimente. De uma forma geral, poderá dizer-se que os novos impérios não buscam uma base territorial, à maneira clássica, mas nem por isso é menos vivo o seu colonialismo (in Terceiro Mundo, Ática, Lisboa, 1969, pp. 15-37).
Notas:
(1) Texto baseado numa conferência proferida na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos da América, em 9 de Outubro de 1961.
(2) Essa confiança resultava da convicção, que cada grande nação possuía, de que ONU servia os seus interesses e podia ser utilizada como um instrumento da sua política nacional. A crise da Nações Unidas corresponde ao desvanecimento gradual dessa convicção.
Continua


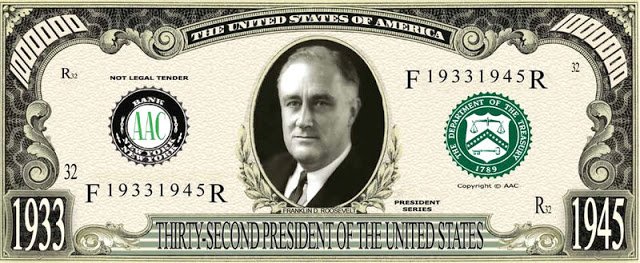


























Nenhum comentário:
Postar um comentário