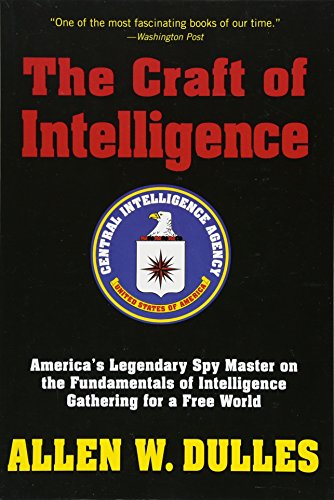Escrito por Hannah Arendt
«Na
Alemanha, antes de Hitler ter chegado ao poder, o movimento em direcção ao
planeamento tinha já avançado muito. Importa recordar que, algum tempo antes de
1933, a Alemanha chegara a um estado tal que tinha de ser governada ditatorialmente. Ninguém punha em dúvida que a democracia havia ruído e que os
democratas sinceros como Bruning, já não poderiam governar melhor do que
Schneider ou Von Papen. Hitler não precisou de destruir a democracia; bastou-lhe instalar-se nas suas ruínas para, no momento mais
crítico, receber o apoio de muitos que, embora o detestassem, acreditavam ser
ele o único homem com força suficiente para fazer alguma coisa.»
Frederico Hayek («O Caminho para a Servidão»).
«Relativamente
à atitude de Heidegger face à perseguição dos seus colegas judeus, é preciso na
verdade estabelecer matizes. Em particular no que concerne aos professores de
Freiburg, von Hevesy e Fränkel, especialistas de reputação mundial
respectivamente em Química (Prémio Nobel 1943) e Filologia Clássica. Nos
arquivos gerais de Karlsruhe, encontra-se uma carta de Martin Heidegger ao
conselheiro ministerial Fehrle, de 12 de Julho de 1933, na qual ele toma a
defesa dos dois cientistas a fim de não serem expulsos do serviço público.
Heidegger sublinha, por um lado, o grande prestígio dos dois professores nas
suas disciplinas respectivas na opinião do mundo científico, incluindo no estrangeiro
e, por outro lado, afirma que "seriam judeus ilustres de carácter exemplar (Sie sein edle Juden von vorbildlichem
Charakter)". Os seus argumentos perante as autoridades ministeriais
consistem em dizer que a exclusão definitiva poderia causar um forte prejuízo
para a boa reputação da ciência alemã no estrangeiro, particularmente nos meios
intelectuais dominantes e politicamente influentes. A defesa destes dois casos
particulares, sublinha Heidegger, não deve ser considerada como uma recusa das
disposições gerais para com os docentes judeus. Ao contrário, ele assume a sua
atitude mesmo estando “plenamente consciente da necessidade de aplicar
incondicionalmente a lei relativa à reorganização do serviço público”; ele toma
somente em consideração os prejuízos que a exclusão poderia causar “ao necessário
reforço, a nível mundial, do prestígio da ciência alemã, ao novo Reich e à sua missão”».
Victor
Farías («Heidegger e o Nazismo»).
«Na vida do judeu, incorporado como parasita no meio de outras nações e de outros Estados, existe um traço característico, no qual Schopenhauer se inspirou para declarar, como já mencionámos: “O judeu é o grande mestre da mentira”. A vida impele o judeu para a mentira, para a mentira incessante, da mesma maneira que obriga o homem do Norte a vestir roupas quentes.
A sua vida, no seio de povos estranhos, só pode perdurar se ele conseguir despertar a crença de ser o representante, não de um povo, mas de uma “comunhão religiosa”, muito embora singular.
Mas isto é a primeira das suas grandes mentiras.
(...) Numa sequência lógica, amontoam-se sempre novas mentiras sobre a grande mentira inicial, a saber: que o judaísmo não é uma raça, mas uma religião. A mentira estende-se igualmente à questão da língua dos judeus; esta não lhes serve de veículo para a expressão, mas sim de máscara para os seus pensamentos. Quando fala francês, o seu modo de pensar é judeu; ao recitar versos em alemão ele exprime somente o carácter da sua nacionalidade.
Enquanto o judeu não se torna senhor dos outros povos é forçado, quer queira quer não, a falar a língua deles.
Porém, assim que eles ficassem seus vassalos, teriam de aprender todos um idioma universal (por exemplo, o esperanto!) a fim de assim poderem ser dominados mais facilmente pelo judaísmo.
Os Protocolos dos Sábios de Sião, tão detestados pelos judeus, mostram, de maneira incomparável, a que ponto a existência desse povo é baseada numa mentira ininterrupta. “Tudo isto é falsificado”, geme sempre de novo o Frankfurter Zeitung, o que constitui mais uma prova de que tudo é verdade. Tudo o que muitos judeus talvez façam inconscientemente, acha-se aqui claramente desvendado. Mas o ponto essencial é que não importa de modo algum saber que do cérebro judeu provêm tais revelações. O ponto decisivo é a maneira pela qual essas revelações tornam patentes, com uma segurança impressionante, a natureza e a actividade do povo judeu nas suas relações íntimas, assim como nas suas finalidades. A melhor crítica desses escritos é fornecida, todavia, pela realidade. Quem examinar a evolução histórica do último século sob o prisma deste livro, logo compreenderá também o clamor da imprensa judaica, pois no próprio dia em que o mesmo for conhecido de todo o povo, estará evitado o perigo do judaísmo.»
Adolf Hitler («Meín Kampf»).




«Os juízos
da aristocracia fundam-se numa boa musculatura, numa saúde florescente e no que
para isto contribui: a guerra, as aventuras, a caça, a dança, os jogos e
exercícios físicos e em geral tudo o que implica uma actividade robusta, livre e
alegre. Muito pelo contrário na classe sacerdotal; tanto pior para ela. Os
sacerdotes são os inimigos mais malignos;
porquê? Porque são os mais impotentes. A impotência faz crescer neles um ódio
monstruoso, sinistro, intelectual e venenoso. Os grandes vingativos, na
história, foram sempre sacerdotes, e nada se pode comparar com o engenho que o
sacerdote desenvolve na sua vingança. A história da humanidade seria uma coisa
insípida sem o engenho com que o ameaçaram os impotentes. Ponhamos o exemplo
mais notável. Tudo o que na Terra se fez contra os "nobres", os
"poderosos", os "senhores", os "governantes" não
se pode comparar com o que fizeram os judeus.
Os judeus vingaram-se dos seus dominadores por uma radical mudança dos valores
morais, isto é, com uma vingança
essencialmente espiritual. Só o povo de sacerdotes podia obrar assim. Os
judeus, com uma lógica formidável, atiraram por terra a aristocrática equação
dos valores "bom", "nobre", "poderoso",
"formoso", "feliz", "amado de Deus". E, com o
encarniçamento do ódio afirmaram: "Só os desgraçados são bons; os pobres,
os impotentes, os pequenos, são os bons; os que sofrem, os necessitados, os
enfermos, são os piedosos, são os benditos de Deus; só a eles pertencerá a
bem-aventurança; pelo contrário, vós, que sois nobres e poderosos, sereis por
toda a eternidade os maus, os cruéis, os cobiçosos, os insaciáveis, os ímpios,
os réprobos, os malditos, os condenados..." Todos sabem quem foi que
recolheu a herança destas apreciações judaicas... E recordo aqui o que noutro
lugar (Para além do bem e do mal, a
fl. 195) disse: Que com os judeus começou a emancipação
dos escravos na moral, esta emancipação que tem já vinte séculos de
história e que já hoje perdemos de vista por ter triunfado completamente.»
Frederico Nietzsche («A Genealogia da Moral»).
«(...) o
judeu começa de repente a ser liberal, começando a sonhar com a necessidade do
progresso humano. Pouco a pouco transforma-se no arauto de uma nova época.
Porém, ele está é a destruir cada vez mais os fundamentos de uma economia
verdadeiramente útil ao povo. Pelo processo das sociedades de acções, vai
penetrando nos círculos da produção nacional, faz desta um objecto mais
susceptível de compra e traficância, roubando assim às empresas a base da
propriedade pessoal. Por isso, surge entre o patrão e o empregado aquele
distanciamento que origina a ulterior luta política de classes.
Cresce
assim a influência dos judeus em matéria económica, além da bolsa, e isso com
assombrosa rapidez. Torna-se proprietário ou controlador das forças de trabalho
do país.
Para
consolidar a sua posição política, tenta destruir as barreiras raciais e de
cidadania, que mais do que tudo o embaraçam a cada passo. Para atingir tal fim,
luta com a sua resistência típica pela tolerância religiosa, encontrando na
franco-maçonaria, que caiu inteiramente em seu poder, um excelente instrumento
para combater o que não lhe convém e realizar as suas aspirações. Os círculos
governamentais, assim como as camadas superiores da burguesia política e
económica caem nas suas armadilhas, guiados por fios maçónicos, porém mal se
apercebem disso.
Só o
verdadeiro povo, ou melhor, a classe que, despertando, luta pelos seus próprios
direitos e pela sua liberdade, não pode ser conquistado por esse meio,
principalmente nas suas camadas mais profundas. Essa, porém, é a conquista mais
indispensável. O judeu sente que a sua ascensão a uma posição dominadora só se
tornará possível quando existir à sua frente um “precursor”, e este pensa ele
descobrir não entre a burguesia mas nas camadas populares. Não se pode,
entretanto, conquistar fabricantes de luvas e tecelões com os frágeis processos
da franco-maçonaria, tornando-se obrigatório introduzir, nesse caso, meios mais
rudes e grosseiros, porém não menos enérgicos. Como segunda arma ao serviço do
judaísmo, existe, além da franco-maçonaria, a imprensa. Com muito afinco e
muita habilidade, ele apodera-se deste orgão de propaganda e começa lentamente
a enlaçar toda a vida oficial, a dirigi-la, a empurrá-la, tendo a facilidade de
criar e superintender aquela potência que, sob a denominação de “opinião
pública”, é hoje mais bem conhecida do que há algumas décadas. Com isso tudo,
apresenta-se sempre como animado por uma infinita sede de saber, elogia todo o
progresso, sobretudo aquele que acarreta a ruína dos outros, pois só julga todo
o saber e toda a evolução na medida em que lhe facilitam a propaganda da sua
raça. Quando falta esse objectivo, torna-se inimigo encarniçado de toda a luz e
de toda a verdadeira civilização. Desse modo, utiliza todo o saber adquirido
nas escolas alheias, única e simplesmente ao serviço da sua raça.»
Adolf Hitler («Meín Kampf»).
«As
transformações administrativas adoptadas por Heidegger foram completadas por
uma série de medidas tendentes a mudar a vida dos estudantes cujos hábitos, até
1933, consistiam em levar uma vida fácil sem outro fim que não fosse o sucesso
profissional e material – preocupação considerada decadente e individualista. O
encarniçamento com que o reitor Heidegger vai assumir esta tarefa, numa
Universidade cujos estudantes eram, na sua esmagadora maioria, procedentes das
classes médias e da burguesia, é um sinal da sua decisão de impor o programa
nacionalista na sua variante populista mais radical. Wolfgang Kreutzberger pôs
a claro o que, na origem social dos estudantes de Freiburg, conspirava contra a
decisão do reitor. Com efeito, a participação real dos estudantes nos trabalhos
voluntários foi fraca. A maior parte dos que aderiram a esta iniciativa
pertencia às classes mais desfavorecidas, e punha frequentemente como condição
da sua participação que os trabalhos que lhes fossem confiados tivessem alguma
relação com a sua formação profissional; ao mesmo tempo, recusava toda a
espécie de “trabalho sujo”. Os que “se empenhavam” estavam, na maior parte dos
casos, muito menos inclinados a identificar-se com a classe operária, do que
estavam influenciados por ideias anti-internacionalistas e antipacifistas que
não coincidiam necessariamente com as convicções nacionais-socialistas.

%20(1).jpg)
Heidegger
via nesta transformação do mundo estudantil – que se realizaria graças aos seus
laços concretos com o mundo dos trabalhadores – o cumprimento de um dos pontos
do programa do grupo SA. Isso transparecia claramente no seu discurso de 26 de
Novembro de 1933. O Estudante Alemão como
Trabalhador, pronunciado por ocasião da festa da matrícula. A cerimónia e o
discurso do reitor Heidegger foram comentados e retransmitidos por uma vasta
cadeia de emissores de Frankfurt, Freiburg, Trier, Colónia, Estugarda e
Mühlacker. O novo estudante não tira, afirma ele, a sua especificidade somente
da sua entrada na Universidade ou dos laços estabelecidos, através dela, com o
Estado, mas da sua integração “no serviço do trabalho, nas SA”. “O novo
estudante alemão passa hoje pelo serviço do trabalho, ele está nas SA”. O
verdadeiro sentido do serviço do saber é integrar o estudante na “frente dos
trabalhadores”. E é somente sendo ele próprio um “trabalhador” que o estudante
se pode ligar autenticamente com o Estado, “porque o Estado nacional-socialista
é o Estado do trabalho”. Este discurso que tem mais o carácter de uma
declaração de princípio, encontra o seu complemento explicativo no artigo “O
apelo ao serviço do trabalho”, publicado pelo jornal dos estudantes em 23 de Janeiro de 1934. De passagem, anotemos que este artigo se encontra associado a
um outro que defende o auto-de-fé dos livros organizado pelos superiores
políticos imediatos dos que editavam esta Deutsche
Studentenzeitung. Os fogos ateados para queimar os livros “escritos por
judeus são fogos contra delinquentes intelectuais, não se extinguirão antes do último dos seus escritos ser transformado em cinzas, do último dos
parasitas que os escreveu ser internado num campo de trabalho e desses animais
terem sido tosquiados e lavados”».
Victor
Farías («Heidegger e o Nazismo»).
«A ausência
de regras formais absolutas na moral colectivista não significa decerto que não
haja hábitos individuais que uma comunidade colectivista encorajará e outros
que desencorajará. E mostrará até muito maior interesse do que uma sociedade
individualista pelos hábitos de vida dos indivíduos. Para se ser membro útil de
uma sociedade colectivista é necessário possuir qualidades bem definidas que
devem fortalecer-se por uma prática constante. Se lhes chamamos “hábitos úteis”
e não as podemos definir como “virtudes morais” é porque o indivíduo nunca os
poderá tomar como regras que coloca acima das ordens estritas que recebe nem
deixar que eles se tornem um obstáculo à realização de qualquer objectivo que a
sua comunidade se proponha. Apenas servem, portanto, para preencher os
intervalos entre o cumprimento das ordens recebidas ou entre os esforços para
alcançar as finalidades determinadas e nunca podem justificar um conflito com a
vontade da autoridade superior.
A diferença
entre as virtudes que num sistema colectivista continuarão a ser bem vistas e
aquelas que terão de desaparecer fica bem ilustrada com a comparação entre as
virtudes que até os seus piores inimigos reconhecem aos alemães, ou, antes, aos
“prussianos típicos”, e aquelas que geralmente se lhes negam e são as que os
ingleses justificadamente se orgulham de possuir. Poucas pessoas poderão negar
que os alemães são, de um modo geral, trabalhadores disciplinados, íntegros até
ao fanatismo e enérgicos até à crueldade, conscienciosos e responsáveis em
todas as tarefas que empreendem, possuidores de um forte sentido da ordem, do
dever e da obediência à autoridade e se mostram muitas vezes dispostos a fazer
sacrifícios pessoais e correrem sérios perigos físicos. Tais predicados fizeram
dos alemães um instrumento eficaz para o desempenho das tarefas que lhes eram
destinadas e assim foram cuidadosamente educados no velho estado prussiano e no
novo Reich dominado pelos prussianos. O que geralmente se nega ao alemão típico
são as virtudes individualistas da tolerância e do respeito pelos outros e suas
opiniões, a independência de espírito, a rectidão de carácter e a coragem de
defender as suas convicções pessoais diante de um superior, virtude que os
alemães, conscientes de as não possuírem, designam por Zivilcourage; e ainda a consideração pelos fracos e enfermos e
aquele saudável desdém pelo poder que só uma velha tradição sabe criar.
Faltam-lhes também aquelas pequenas qualidades, mas bem importantes, que
facilitam as relações entre os homens numa sociedade livre: a amabilidade, o
sentido do humor, a modéstia pessoal, o respeito pela intimidade dos outros e a
confiança nas boas intenções dos que lhes são próximos.
Tais
virtudes, ao mesmo tempo que individualistas, são também eminentemente sociais,
virtudes que amenizam o convívio social e tornam menos necessário, e mais
difícil de impor, o controlo vindo de cima. Virtudes que só florescem onde predomina
o tipo da sociedade individualista ou comercial, não existem onde prevalece o tipo da sociedade colectivista ou militarista, diferença
que é, ou era, tão visível entre as diversas regiões da Alemanha como a existente
agora entre as concepções que governam toda a Alemanha e aquelas que são
características do mundo ocidental. Até há pouco tempo, pelos menos nas regiões
alemãs que mais influenciadas foram pelas forças civilizadoras do comércio – as
velhas cidades comerciais do sul e oeste e as da Liga Hanseática –, as concepções
morais eram muito mais semelhantes às dos povos ocidentais do que aquelas
que hoje predominam em toda a Alemanha.
Seria
todavia profundamente injusto considerar as massas desse povo dominado pelo
totalitarismo como desprovidas de sentido ético só porque dão o seu apoio
incondicional a um sistema que nos aparece como a negação da maior parte dos
valores morais. Para a maioria dos alemães, o contrário é que, provavelmente,
será verdadeiro: a intensidade das emoções morais que estão por detrás de um
movimento como o nazismo ou o comunismo só pode talvez ser comparável às dos
grandes movimentos religiosos da história. Uma vez que se aceite que o
indivíduo é apenas um instrumento destinado a servir as finalidades determinadas
por uma entidade superior que se apresenta com o nome de sociedade ou nação,
grande parte daquelas características dos regimes totalitários que nos
horrorizam, aparecem como um corolário inevitável. Do ponto de vista
colectivista, a intolerância e supressão brutal dos dissidentes, o total
desprezo pela vida e pela felicidade dos indivíduos são consequências fundamentais
e iniludíveis daquela premissa. O colectivista é capaz de reconhecer o que
acabamos de mostrar mas não deixará de, ao mesmo tempo, afirmar que o seu
sistema é superior àquele em que os interesses, a que chama “egoístas”, dos indivíduos
podem impedir a completa realização dos fins que a comunidade se propôs. Quando
os filósofos alemães repetidamente nos apresentam como sendo em si mesma imoral
a luta pela felicidade individual e como digno de todos os louvores o
cumprimento de um dever que nos é imposto, fazem-no com total sinceridade
embora isso seja incompreensível para quem formou a sua personalidade segundo
diferentes concepções.
.jpg)
Sempre que
há um fim comum que ultrapassa tudo e tudo domina, deixa de haver lugar para
quaisquer valores éticos ou quaisquer regras de carácter geral. Até certo
ponto, todos nós temos a experiência disso quando, como agora acontece, nos
encontramos em guerra. Mas até quando assim nos encontramos em guerra, e
correndo aqui, em Inglaterra, os maiores perigos, a experiência é apenas uma
aproximação ainda distante do totalitarismo pois apenas uma reduzida parte dos
nossos valores foram sacrificados ao serviço da finalidade única. Sempre que
umas tantas finalidades específicas dominem a totalidade da sociedade, é
inevitável que a crueldade se torne em certos casos um dever, que se considerem
meras questões de expediente coisas que revoltam todos os nossos sentimentos
como fuzilarem-se reféns e abaterem-se velhos e doentes, que desalojar e
desterrar pessoas constitua um recurso da política que toda a gente, à
excepção das vítimas, aprova, que se tomem a sério sugestões como a do “serviço
militar obrigatório com fins educativos para as mulheres”. Aos olhos do
colectivista, actos como estes servem sempre uma finalidade que, só por si, os
justifica pois não há quaisquer direitos ou valores do indivíduo que possam
constituir obstáculos à realização do objectivo comum da sociedade.
Se para as “massas”
de cidadãos dos Estados totalitários é a dedicação desinteressada por um ideal,
seja-nos ele embora repugnante, que as leva a aprovar e até a executar actos como
esses, o mesmo se não poderá dizer dos homens que orientam tal política. Para
ser um colaborador útil de um governo totalitarista, não basta que um homem
esteja preparado para aceitar as justificações mais artificiosas das acções
mais vis; é preciso que também esteja activisticamente disposto para quebrar
todas as regras morais a que sempre obedeceu caso isso seja necessário ao fim
que é imposto. E como é o chefe supremo quem determina sozinho todos os fins,
os seus instrumentos, os homens que são seus instrumentos, não podem ter
convicções morais próprias. Acima de tudo, devem eles entregar-se sem reservas
à pessoa do chefe; e para isso, é essencial que sejam totalmente destituídos de
princípios e literalmente capazes de tudo. Não podem ter ideais que visem
realizar, nem ideias sobre o que é certo ou errado que possam interferir nas
determinações do chefe. Assim se vê como, nos lugares de poder, pouco há que
possa atrair aqueles que tenham ainda as convicções morais que noutros tempos
guiaram os povos europeus, poucas são as compensações para os aspectos
desagradáveis das tarefas que é preciso cumprir, poucas oportunidades existem
para a realização das ambições mais idealistas, poucas recompensas se oferecem
pelos riscos que, sem dúvida, se correm e pelo sacrifício da maior parte dos
prazeres da vida privada e da independência pessoal que os cargos de responsabilidade
sempre implicam. Os únicos gostos satisfeitos são o gosto pelo poder em si, o
prazer de ser obedecido e o orgulho de fazer parte de uma máquina eficaz e
imensamente poderosa que assegura sempre um lugar na primeira fila.
Para os
homens bons – segundo os nossos padrões – pouca sedução podem pois exercer os
lugares de chefia na máquina totalitária. Mas aos homens cruéis e sem escrúpulos
oferece ela óptimas oportunidades. Haverá sempre tarefas, em si mesmas
repugnantemente vis, mas cuja execução é posta ao serviço de um fim mais
elevado e que exigem a mesma perícia e eficácia de quaisquer outras. E como quem
estiver ainda ligado à moral tradicional terá repugnância em as aceitar, quem
se prontificar a fazê-lo tem assegurado o caminho da promoção e do poder. São
inúmeras as situações oferecidas por uma sociedade totalitária que exigem a
prática da crueldade e da intimidação, da mentira propositada e da espionagem
ou vigilância denunciadora. Nem a Gestapo, nem a administração de um campo de
concentração, nem o Ministério da Propaganda, nem os S. A. e os S. S ou seus
equivalentes italianos e russos, são lugares adequados à expressão de sentimentos
humanitários. São essas, todavia, as instituições que se encontram na estrada
que conduz aos lugares mais elevados nos Estados totalitários.»
Frederico Hayek («O Caminho para a Servidão»).
«Com o
abandono do padrão-ouro perdeu-se aquela simplicidade que fazia do dinheiro um
instrumento da justiça; com o abandono da correspondência entre a quantidade da
moeda e a quantidade das mercadorias, perdeu-se o que fazia do dinheiro um
instrumento da liberdade; com a paridade flexível, perde-se agora a projecção
na economia da existência das pátrias.
Perde-se a
projecção na economia da existência das pátrias, dizemos, e perde-se a imediata
evidência que a economia dá a cada um da necessidade dessa existência. Trata-se
de uma realidade essencial mas a que os teorizadores da ciência económica,
estranhamente, nunca atenderam, antes vendo na existência de diferentes
repúblicas um obstáculo ao perfeito funcionamento do sistema da economia. O
próprio von Mises é um exemplo desta estranha atitude. Muitas vezes utiliza
ele, para fazer valer os seus argumentos ou apenas os explicitar, a hipótese de
uma república mundial que acompanha de declarações atribuindo à existência das
nações, à divisão do mundo em diferentes entidades nacionais e ao nacionalismo,
a causa dos clamorosos erros que denuncia na economia contemporânea, como seja
o ódio – a expressão é dele – ao
padrão-ouro. É possível explicar esta atitude do grande teorizador pelas
perturbações da época em que viveu e o sujeitaram a muitas espécies de
atribulações e sofrimentos não apenas vividos – o exílio e a pobreza, por
exemplo – mas também intelectuais. Era em nome do nacionalismo alemão ou
aurindo suas forças no nacionalismo russo, que via instaurar-se o
intervencionismo socialista.
De certo
modo, esta posição de von Mises corresponde à imagem também mundialista que
Adam Smith formava do dinheiro e do comércio, ele que via a economia como um
sistema que sucedera ao da agricultura. Diz, por exemplo, que o “ouro circula
entre os países comerciantes como a moeda circula dentro de cada país: pode
considerar-se a moeda da grande república mundial do comércio”.
Tais
posições têm, por sua vez, equivalência na banalizada convicção popular de que “o
dinheiro não tem pátria”.
Ora a
verdade é que de nada, como do dinheiro, se pode com mais razões afirmar que
tem pátria. Sem a variedade das moedas nacionais, não haveria troca e mercado
do dinheiro, e desapareceria o último e mais resistente instrumento, que é o
câmbio, para, abandonados os outros padrões, conhecer ou apreciar o poder
aquisitivo da moeda e defender as populações das arbitrariedades, então
definitivamente instaladas no intervencionismo, dos sucessivos e sempre
ocasionais governantes.
Dissemos
também que se perdeu, com o abandono do padrão-ouro, a simplicidade que fazia
do dinheiro um instrumento da justiça. Com efeito, ligada ao ouro e
identificada com a mercadoria que o ouro é, a apreciação ou o preço da moeda
torna-se patente e imediatamente acessível a todos os homens, desde os que se
encontram no mais recôndito rincão do globo até aos mais envolvidos no
turbilhão das grandes metrópoles, desde os mais incultos até aos mais doutos.
Todos eles igualmente sabem estabelecer a relação das mercadorias que cada um
possui com a mercadoria universal presente no dinheiro e, através dela, com
todas as mercadorias existentes. Cada um sabe, pois, o que possui ou lhe
pertence, e a justiça consiste, como já vimos e conforme Platão estabeleceu, em
reconhecer o que pertence a cada um. Ao mesmo tempo, dando a cada coisa privada
uma dimensão universal, estabelecendo a correspondência entre a propriedade, o
trabalho e a produção de todos os indivíduos, o dinheiro é, conforme disse já
Hegel, a real e concreta expressão da solidariedade universal dos homens.
Sem o
padrão-ouro, uma complexidade inextricável veio substituir a simplicidade que
ele representava e tornar possível multiplicar até ao infinito das abstracções
intelectuais, as propostas, as combinações e os cálculos que transformaram a
ciência económica num areal estéril onde os contabilistas encontram o seu
paraíso vazio e se entretêm a traçar fugazes caminhos que levam a nenhures. A
justiça fica separada da vida real das populações e da existência quotidiana
dos indivíduos e a economia torna-se um labirinto de crises permanentes que
ninguém consegue decifrar.






Dissemos,
finalmente, que, com o abandono da correspondência entre a quantidade da moeda
e a quantidade das mercadorias, se perde o que, depois de abandonado o
padrão-ouro, fazia do dinheiro um instrumento da liberdade. Com efeito,
abandonada aquela correspondência, o dinheiro deixa de oferecer à escolha dos
homens, consoante as suas carências, seus interesses e seus desejos, a
totalidade das mercadorias existentes. Trata-se, aqui, da liberdade de escolher
que é, decerto, uma forma inferior da liberdade, embora seja aquela que,
indispensável a todos os homens, a maioria deles unicamente conhece. Mas outra
forma de liberdade o dinheiro oferece: a de tornar possível o ócio, quer dizer,
o estado propício ao pensamento que é onde reside a insofismável liberdade.
Na
categoria do dinheiro se torna, pois, presente o fim da economia. Não é esse
fim, como pretenderam os que fizeram merecer à ciência económica a designação
de “melancólica ciência”, administrar a escassez das coisas, contabilizar o que
sempre será escasso para satisfazer as carências dos homens quando por
carências se entenderem as veleidades sem desígnio, os desejos sem conteúdo e
as ambições sem limite. O fim da economia é alcançar, no dinheiro, o
instrumento da liberdade. E porque este fim só se alcança no termo de cada
ciclo de articulação das categorias, porque cada ciclo é composto de trânsito e
de retorno, da categoria do dinheiro reverte a liberdade para todos os
momentos, fases e categorias dos sucessivos ciclos que, sem cessar, a
actividade económica transcorre e recorre.»
Orlando Vitorino
(«Exaltação da Filosofia Derrotada»).

.jpg)
«Não é
difícil privar a grande maioria das pessoas de um pensamento independente. Mas a
minoria que se mantém atenta e crítica, não pode deixar de ser silenciada. Vimos
já porque é que a coacção se não pode limitar a fazer aceitar o código moral
que alicerça o plano segundo o qual é comandada toda a actividade social. Uma
vez que grande parte desse código moral nunca será explicitada, uma vez que
grande parte da escala de valores que o condicionou só existirá implicitada na
planificação, a mesma planificação em cada um dos seus pormenores, o mesmo
governo em cada um dos seus actos, terão de ser sacrossantos e estar ao abrigo
de qualquer crítica. Se é preciso que o povo apoie sem hesitações o esforço
comum, deve para isso estar convicto de que não só o fim desejado mas também os
meios escolhidos são os mais correctos. A doutrina oficial, a que se forçam
todos a aderir, deverá conter todos os pontos de vista sobre os factos em que a
planificação se baseia. Deverá suprimir-se toda a possibilidade de refutação,
desde a crítica aberta até às fugazes expressões de dúvida susceptíveis de
abalar a confiança pública. Tal como se expõe no relatório dos Webbs sobre o
ambiente existente em todas as empresas russas: “No meio do trabalho, qualquer expressão
de dúvida ou sequer de receio quanto às possibilidades de êxito da planificação,
é considerado um acto de deslealdade e até de traição por causa dos efeitos que
poderá ter na boa vontade e dos esforços do restante pessoal”. E caso tais
expressões de dúvida ou simples receio se refiram, não ao êxito da empresa, mas a toda a
planificação social, deverão ser tratadas como sabotagem.
Tanto como
as ideias acerca dos valores, os factos e as teorias constituem matéria da
doutrina oficial. E todo o aparelho de comunicação e ensino, as escolas e a
imprensa, a rádio e o cinema, serão exclusivamente destinados à difusão das
opiniões que, verdadeiras ou falsas, fortificam a confiança nas decisões do
Estado; e toda a informação que possa suscitar dúvidas será escondida. O único
critério para decidir se uma informação deve ser publicada ou escondida, é o do
efeito que ela possa ter na fidelidade do povo ao regime. A situação em que se vive
num estado totalitário é, permanentemente e em todos os sectores, idêntica
àquela em que, nos Estados não totalitários, só se vive, durante os períodos de
guerra, em alguns sectores. Tudo o que possa suscitar dúvidas sobre a
competência do governo ou criar descontentamento, será escondido do povo. Serão
suprimidas todas as informações que forneçam meios de comparação com a situação
noutros países, que dêem indicações sobre possíveis alternativas para o caminho
agora empreendido, que sugiram falhas por parte do governo, não ter ele
cumprido as promessas que fez, não ter sabido aproveitar as oportunidades para
melhorar a situação. Com este condicionalismo, não haverá nenhum sector que não
esteja sujeito ao controlo sistemático da informação e onde não seja obrigatória
a uniformidade de opiniões.
Tudo isto
se aplica a tudo, até a campos aparentemente muito afastados dos interesses
políticos, designadamente a todas as ciências, mesmo as mais abstractas.
Compreende-se com facilidade, e a experiência só o tem confirmado, que, num
sistema totalitário, não seja permitida a busca desinteressada da verdade nas
disciplinas que, mais directamente ligadas aos problemas humanos, mais
directamente podem afectar as opiniões políticas: a história, o direito, a
economia. Nestas disciplinas, a defesa das doutrinas oficiais terá de
constituir o objectivo único. E na realidade, tornaram-se elas, nos países
sujeitos ao totalitarismo, as fábricas mais produtivas de mitos oficiais que os
chefes utilizam para guiarem os espíritos e as vontades de seus súbditos. Nada
admira que se chegue a pôr de lado, até como pretexto, a busca da verdade e
sejam as autoridades que decidem quais as doutrinas a ser ensinadas e
publicadas.

O controle
autoritário da opinião estende-se também a domínios que, à primeira vista,
parece não terem significado político. É muitas vezes difícil explicar porque é
que certas doutrinas são oficialmente proscritas e outras incentivadas, e é
curioso observar como estas preferências são semelhantes nos vários regimes
totalitários. A todos eles parece comum uma forte aversão pelas formas mais
abstractas do pensamento, aversão de que também participam, significativamente,
muitos dos colectivistas que há entre os nossos cientistas. Seja, por exemplo,
a teoria da relatividade apresentada como “um ataque semita à física cristã e
nórdica” ou seja ela atacada por estar “em conflito com o materialismo
dialéctico e o dogma marxista”, o resultado é o mesmo. Também não faz grande
diferença que certos teoremas de estatística matemática sejam repudiados porque
“fazem parte da luta de classes na frente ideológica e são um produto do papel
histórico da matemática como lacaia da burguesia” ou porque “não dão garantias
de servirem os interesses do povo”. Parece que nem as matemáticas puras
escapam, e até a defesa de determinadas opiniões sobre a natureza da continuidade
pode ser considerada “um preconceito burguês”. Segundo os Webbs, o Journal for Marxist-Leninist Natural
Sciences contém os seguintes slogans:
“Pelo Partido na Matemática”, “Pela pureza da teoria marxista-leninista na
cirurgia”. A situação é semelhante na Alemanha. O Journal of the National-Socialist Association of Mathematicians
está cheio de expressões como “o Partido na matemática”, e um dos físicos
alemães mais conhecidos, o Prémio Nobel Lennard, resumiu o trabalho de toda a
sua vida no título A Física Alemã em
Quatro Volumes!
Está inteiramente
de acordo com todo o espírito do totalitarismo a condenação de qualquer
actividade humana que tenha um carácter gratuito, que não seja determinada por
um propósito. A ciência pela ciência, a arte pela arte são tão abomináveis para
os nazis como para os nossos intelectuais socialistas ou comunistas. Não há
para eles actividade que não tenha de se justificar por uma finalidade social
deliberada. Não há para eles actividade espontânea, liberta de orientação
prévia. Porque esse género de actividade por dar resultados que não estão
previstos e para os quais o “plano” não tem soluções; pode dar origem a coisas
novas e não sonhadas na filosofia do planificador. E a mesma abominação abrange
os jogos e os divertimentos. Deixa ao leitor a possibilidade de adivinhar se
foi na Alemanha nazi ou na Rússia soviética que oficialmente se exortaram os
jogadores de xadrez nos seguintes termos: “Temos de acabar de uma vez para
sempre com a neutralidade do xadrez. Temos de condenar de uma vez para sempre a
fórmula o xadrez pelo xadrez tal como
condenámos a fórmula a arte pela arte.”
.jpg)
Por muito
incríveis que nos pareçam algumas destas aberrações, é necessário
precavermo-nos contra elas e não as desdenharmos como meros subprodutos
acidentais que nada têm a ver com o carácter essencial de um sistema
planificador ou totalitário. Porque o não são. Porque são resultado directo
daquela mesma vontade de que tudo seja dirigido por uma "concepção unitária do
todo", daquela necessidade de defender, custe o que custar, as ideias em nome
das quais se exigem constantes sacrifícios ao povo, e daquele princípio segundo
o qual a sabedoria e as convicções populares apenas são um instrumento a usar
para um único fim. Uma vez que a ciência deixa de depender da verdade para
estar ao serviço dos interesses de uma classe, de uma comunidade ou de um
Estado, só se exprimem e discutem os argumentos destinados a justificar e
difundir as ideias que são impostas a toda a existência da comunidade. Neste
sentido explicou o ministro da Justiça nazi que toda a inovação científica deve
começar por se interrogar: “Sirvo o nacional-socialismo para maior benefício de
todos?”
A mesma
palavra verdade perde o antigo
significado. Já não significa aquilo que é necessário procurar e tem na
consciência individual o único árbitro para decidir, em cada caso singular, se
a evidência (ou a posição daqueles que a proclamam) garante que nela se
acredite. Torna-se, antes, a designação daquilo que a autoridade estabelece,
daquilo em que é forçoso acreditar no interesse da unidade da acção organizada
e que é susceptível de alteração sempre que as exigências de tal acção
organizada a isso obrigaram.
O ambiente
intelectual que deste modo se origina, o espírito de total cinismo perante tudo
o que se relaciona com a verdade, a perda do sentido e até do significado que a
palavra verdade contém, o desaparecimento do espírito da investigação
independente e da possibilidade de acreditar no poder das convicções racionais,
a maneira como as diferenças de opinião se tornam, em todos os ramos do saber,
questões sobre as quais só as autoridades superiores devem decidir, tudo isso
são desgraças que só a experiência pessoal pode fazer conhecer pois não há
descrição capaz de as exprimir em toda a sua extensão. O mais alarmante será,
talvez, o facto de o desprezo pela liberdade intelectual não surgir só quando o
sistema totalitário está já estabelecido, mas se encontrar onde quer que os intelectuais tenham feito uma profissão de fé colectivista e sejam aclamados
como chefes, trate-se embora de países nos quais ainda perdure o regime
liberal. Até a pior das opressões é desculpada caso se exerça em nome do socialismo, e a criação de um sistema totalitário vê-se amplamente defendida
por pessoas que pretendem falar em representação dos cientistas dos países
liberais; e também a intolerância vemos ser elogiada abertamente. Pois não
assistimos recentemente à defesa que um escritor britânico fez da Inquisição
dizendo que “ela constituiu um benefício para a ciência porque protegeu uma
classe em ascensão”. Opiniões como esta em nada se distinguem, efectivamente,
das convicções que levaram os nazis a perseguir homens de ciência, a queimar
livros científicos e a marginalizar sistematicamente a intelligentzia do povo subjugado.»
Frederico Hayek («O Caminho para a Servidão»).
«A noção
que Disraeli tinha do papel dos judeus na política data da época em que era
ainda simples escritor e não havia iniciado a carreira política. As suas ideias
a este respeito não eram, portanto, resultado da experiência própria, mas
ateve-se a elas com notável tenacidade durante toda a sua vida.
No seu
primeiro romance, Alrov (1833),
Disraeli elaborou o plano de um império judeu no qual os judeus reinariam como
uma classe estritamente delimitada e separada. O romance mostra a influência das
ilusões reinantes na época a respeito das possibilidades de poder dos judeus,
bem como a ignorância do jovem autor quanto às verdadeiras condições de poder
no seu tempo. 11 anos mais tarde, a experiência política no Parlamento e as
relações com homens eminentes haviam ensinado a Disraeli que “os objectivos dos
judeus, quaisquer que tenham sido antes e depois, estavam, na sua época, muito
longe da afirmação de nacionalidade política sob qualquer forma”. Noutro
romance, Coningsby, ele já abandonou o sonho de um império judeu e revelou um
plano fantástico, segundo o qual o dinheiro judeu domina a ascensão e a queda
de cortes e de impérios e reina de modo supremo na diplomacia. Nunca na vida
ele abandonou essa segunda noção de uma secreta e misteriosa influência dos
homens escolhidos da raça escolhida, que substituiu o seu sonho anterior de misteriosa casta dominante, abertamente constituída. Esta ideia tornou-se
o eixo da sua filosofia política. Em contraste com os seus mui admirados
banqueiros judeus que concediam empréstimos aos governos e recebiam comissões,
Disraeli, com a incompreensão de leigo, não entendia como tais possibilidades
de poder fossem manuseadas por pessoas desprovidas da ambição do poder e não
compreendia que um banqueiro judeu estivesse ainda menos interessado em política
do que os seus colegas não judeus; pelo menos para Disraeli, era natural que a
riqueza judaica servisse de instrumento para a sua política. Quanto mais vinha
a saber da eficaz organização dos banqueiros judeus em questões de negócios e
da sua permuta internacional de notícias e informações, mais se convencia de
que se tratava de algo como uma sociedade secreta que, sem que ninguém o
soubesse, tinha nas mãos os destinos do mundo.
.jpg)

A crença
numa conspiração alimentada por uma sociedade secreta alcançou a maior força
propagandística na publicidade anti-semita, ultrapassando em importância as
tradicionais superstições a respeito de assassínios rituais e envenenamentos de
poços, supostamente cometidos por judeus. É altamente significativo que
Disraeli, para fins exactamente opostos e numa época em que ninguém pensava
seriamente em sociedades secretas, houvesse chegado a conclusões idênticas,
pois mostra claramente quanto essas invenções foram devidas a motivos e
ressentimentos sociais e até que ponto explicavam, mais facilmente do que a
verdade, as actividades económicas e políticas. Aos olhos de Disraeli, como aos
olhos de muitos outros charlatães menos conhecidos e famosos depois dele, todo
o jogo político era travado entre sociedades secretas. Não apenas os judeus,
mas qualquer outro grupo cuja influência não fosse politicamente organizada, ou
que estivesse em oposição ao sistema social e político, eram para ele forças
ocultas que agiam nos bastidores. Em 1863, julgou assistir a “uma luta entre as
sociedades secretas e os milionários europeus; até agora quem ganhou foi
Rothschild”. Mas dizia também que “a igualdade natural dos homens e a supressão
da propriedade são proclamadas pelas sociedades secretas”: ainda em 1870 falava
com seriedade das forças “subterrâneas” e acreditava sinceramente que “sociedades
secretas com as suas ligações internacionais, e a Igreja de Roma usando das
suas pretensões e métodos bem como o eterno conflito entre a ciência e a fé”,
determinavam o curso da história humana.
A
inacreditável ingenuidade de Disraeli fazia-o ligar todas essas forças “secretas”
aos judeus. “Os primeiros jesuítas foram judeus; aquela misteriosa diplomacia
russa que tanto alarma a Europa ocidental é organizada e principalmente
executada por judeus; essa poderosa revolução que se prepara neste instante na
Alemanha e que será, de facto, uma segunda e maior Reforma [...] está a ser
elaborada inteiramente sob os auspícios dos judeus”, “homens de raça judia
estão à frente de cada um dos grupos comunistas e socialistas. O povo de Deus
coopera com ateus: os mais hábeis acumuladores de propriedade aliam-se aos comunistas, a raça singular e escolhida dá mãos à escória e às castas
inferiores da Europa! E tudo porque desejam destruir esse Cristianismo ingrato
que lhes deve até o nome, e cuja tirania não podem suportar”. Na imaginação de
Disraeli, o mundo havia-se sub-repticiamente tornado judeu.
Nessa singular
fantasia acabou por ser traçado o mais engenhoso dos truques publicitários de
Hitler: a aliança secreta entre o judeu capitalista e o judeu socialista. Por
mais imaginária que fosse essa ideia, não se pode negar que ela tinha lógica.
Ao partir da premissa, como Disraeli, de que milionários judeus eram
arquitectos da política judaica; ao levar em conta os insultos que os judeus
haviam recebido durante séculos (que, por mais reais que fossem, não deixaram
de ser exagerados pela propaganda de apologia dos judeus); ao observar os casos,
não muito raros, da ascensão de filhos de milionários judeus à chefia de
movimentos dos trabalhadores; ao verificar a forte interligação existente entre
famílias judaicas, não parecia tão inviável que fosse rejeitada a imagem
oferecida por Disraeli – retomada por vários
anti-semitas no futuro – de calculada vingança dos judeus contra os
povos cristãos. Na verdade, os filhos dos milionários judeus inclinavam-se para
os movimentos de esquerda precisamente porque – além dos motivos óbvios:
conflito de gerações, repulsa e concessões pouco dignificantes dos pais, etc. –
lhes faltava aquela consciência de classe (peculiar do filho de um burguês
comum), exactamente como, pelas mesmas razões, os trabalhadores não alimentavam
aqueles sentimentos anti-semitas, declarados ou não, que sentiam as outras classes.
Assim, os movimentos de esquerda passaram a oferecer aos judeus as únicas possibilidades
reais de assimilação genuína. A persistente propensão de Disraeli para explicar
a política em termos de sociedades secretas baseava-se em experiências que,
mais tarde, convenceram muitos outros intelectuais europeus de menor
importância. Conforme a sua experiência era muito mais difícil penetrar na
sociedade inglesa do que obter um lugar no parlamento. A sociedade inglesa do seu
tempo reunia-se em clubes elegantes à margem de diferenças partidárias. Os
clubes, embora fossem extremamente importantes na formação do escol político,
não eram do domínio público. Para quem estivesse de fora, deviam ter parecido
realmente muito misteriosos. Eram secretos no sentido de que poucos tinham
acesso a eles. Tornavam-se misteriosos na medida em que membros de outras
classes, que pediam admissão, eram recusados após uma pletora de dificuldades
incalculáveis, imprevisíveis e aparentemente irracionais. Nenhuma honraria
política se podia igualar aos triunfos decorrentes daquela associação íntima
com os privilegiados.»
Hannah Arendt
(«As Origens do Totalitarismo»).
 |
| Hannah Arendt e Martinho Heidegger |
«Parece-me
sugestivo assinalar que aquilo que o internacionalismo é para as pátrias, as
nações e os povos, é-o o colectivismo (ou o socialismo) para os homens, as
pessoas e os indivíduos. Quando um e outro dominam, é fácil vaticinar a
dissolução das pátrias ou, para empregar a baixa retórica dos actuais políticos
e seus jornalistas, é fácil vaticinar o abandono progressivo da “identidade
nacional” bem como o crepúsculo inevitável da autonomia política. O patriotismo
passa então a ser um grosseiro economismo como acontece agora, quando os
políticos interrogam se Portugal “é economicamente viável”».
Luís Furtado («Segundo Diálogo sobre a Pátria», in «Escola Formal», quinto número,
Dez. 1977/Fev. 1978, p. 11).
«O que
parece incomodamente claro, desde já, é a força de certos processos,
aparentemente incontroláveis, que tendem a destruir todas as esperanças de evolução
constitucional nos novos países e a minar as instituições republicanas dos
países mais velhos. Os exemplos são numerosos demais para permitirem uma
enumeração mesmo sucinta, mas a intromissão do “governo invisível” de serviços secretos nos assuntos domésticos, nos sectores culturais, educacionais e
económicos da vida, é um sinal por demais ominoso para passar desapercebido.
Não há por que duvidar da declaração de Allan W. Dulles de que o serviço de
espionagem dos Estados Unidos vem desfrutando desde 1947 de “uma posição mais
influente no nosso governo do que a espionagem desfruta em qualquer outro
governo do mundo” [Foi o que disse Allan Dulles num discurso na Universidade de
Yale em 1957, segundo David Wise e Thomas B. Ross, The Invisible Government, Nova Iorque, 1964, p. 2.], nem há motivo
para acreditar que essa influência tenha diminuído desde que ele fez essa
declaração, em 1958. O perigo mortal do “governo invisível” para as
instituições do “governo visível” já foi apontado muitas vezes; o que talvez
seja menos conhecido é a íntima ligação que tradicionalmente existiu entre a
política imperialista e o domínio por meio do “governo invisível” e dos agentes
secretos. É um erro pensar que a criação de uma rede de serviços secretos nos
Estados Unidos após a II Guerra Mundial tenha sido a resposta a uma ameaça
directa à sua sobrevivência nacional pela rede de espionagem da União
Soviética; a guerra havia guindado os
Estados Unidos à posição de maior potência mundial, e esse poder mundial, e
não a existência nacional, é que era desafiado pelo poder revolucionário do
comunismo dirigido por Moscovo. [Dizia Allan Dulles que o governo tinha de
combater “fogo com fogo” e, com a desconcertante franqueza que distinguia o
ex-chefe da CIA dos seus colegas de outros países, passava a explicar o que queria
dizer. Pelos vistos, a CIA tinha de seguir o modelo do serviço de segurança do
Estado soviético, que “é mais que uma organização de polícia secreta, mais que
uma organização de espionagem e contra-espionagem. É um instrumento para a subversão, manipulação e violência, para a
intervenção secreta nos assuntos de outros países” (O itálico é da autora).
V. Allan W. Dulles,
The Craft of Intelligence, Nova
Iorque, 1963, p. 155]».
Hannah
Arendt («As Origens do Totalitarismo»).
Antissemitismo, socialismo e supranacionalismo
A estrutura
política do Estado-nação foi instituída quando nenhum grupo em particular
estava em posição de exercer o poder político exclusivo, de modo que o governo
assumia o verdadeiro domínio político, que nem sempre dependia de factores
apenas sociais e económicos. Os movimentos revolucionários de esquerda, que
lutavam por uma mudança radical das condições sociais, de início jamais visavam
directamente a essa suprema autoridade política. Haviam desafiado o poder da
burguesia e a sua influência sobre o Estado, mas, ao mesmo tempo, dispunham-se
sempre a aceitar a orientação do governo em assuntos estrangeiros, onde estavam
em jogo os interesses de uma nação supostamente unificada. Em contraste com
essa atitude, os grupos anti-semitas preocupam-se, também desde o início, com
assuntos estrangeiros; o seu ímpeto revolucionário era dirigido contra o
governo em geral e não contra uma classe social e o que realmente almejavam era
destruir o padrão político do Estado-nação por meio de uma organização
partidária.
O facto de
um partido pretender colocar-se acima de todos os partidos tinha outras
implicações, mais significativas do que o anti-semitismo. Se a questão
consistisse apenas em desfazer-se dos judeus, a proposta feita por Fritsch num
dos primeiros congressos anti-semitas – de não criar um novo partido, mas
disseminar o anti-semitismo até que finalmente todos os partidos existentes
fossem hostis aos judeus – teria chegado ao resultado almejado muito mais
rapidamente .
Acontece que a proposta de Fritsch não encontrou eco, porque o anti-semitismo
já se transformara, na época, num instrumento para a liquidação não apenas dos
judeus, mas também da estrutura política do Estado-nação.
Não foi por
acaso que este alvo dos partidos anti-semitas coincidiu com os primeiros
estádios do imperialismo e encontrou tendências parecidas tanto na
Grã-Bretanha, embora não contagiadas pelo anti-semitismo como nos movimentos vivamente
anti-semitas que pretendiam unificar o continente. Na Alemanha, essas
tendências não incorporaram o anti-semitismo para se reforçar popularmente, mas
originaram-se directamente nele e os partidos anti-semitas precederam (e
sobreviveram) à formação de grupos puramente imperialistas, como a Liga
Pangermânica, todos proclamando transcenderem os agrupamentos partidários.
Os
movimentos análogos que, porém, se afastavam da demagogia dos partidos
anti-semitas com o fito de, por apresentarem mais seriedade, alcançaram maiores
oportunidades de vitória, foram aniquilados ou submersos pelo movimento
anti-semita, o que bem indica a importância política da questão. Os
anti-semitas estavam convencidos de que a sua pretensão de tomar o poder
absoluto não era outra coisa senão aquilo que os judeus já haviam conseguido e
que o seu anti-semitismo era justificado pela necessidade de eliminar os reais
ocupantes dos postos de mando: os judeus. Assim, era necessário ingressar na
área da luta contra os judeus exactamente como os trabalhadores lutavam contra
a burguesia, e, atacando os judeus, que apresentavam – de acordo com a ideia
geral – como detentores do poder por detrás dos governos, agrediam abertamente
o próprio Estado, catalisando assim todos os descontentes e frustrados.

A segunda
característica altamente significativa dos novos partidos anti-semitas está na
organização supranacional de todos os grupos europeus ligados à mesma corrente,
em flagrante contraste com as palavras de ordem nacionalista. A sua preocupação
supranacional indicava claramente que não visavam apenas a conquista do poder
político da nação, mas também almejavam – e já haviam planeado – um governo
intereuropeu, «acima de todas as nações» .
Este segundo elemento revolucionário que significava o rompimento fundamental
com o status quo, tem sido
frequentemente esquecido, porque os próprios anti-semitas usavam, apesar da sua
característica revolucionária, a linguagem dos partidos reaccionários, em parte
devido a hábitos tradicionais, em parte por que mentiam conscientemente.
Uma íntima
relação liga as condições peculiares da existência judaica e a ideologia de
grupos anti-semitas. Os judeus constituíam o único elemento intereuropeu numa
Europa organizada numa base nacional. Era lógico que os seus inimigos se
organizassem de acordo com o mesmo princípio e, na sua luta contra o grupo que
supera as nações, criassem um partido que supera os partidos, já que pretendiam
eliminar esses pretensos manipuladores do destino político de todas as nações,
apoderando-se dos seus segredos e das suas armas.
O sucesso
do anti-semitismo supranacional dependia ainda de outras considerações. Mesmo
no fim do século XIX, e especialmente desde a Guerra Franco-Prussiana em 1870,
um número crescente de pessoas considerava antiquada a organização nacional da
Europa, pois ela já não podia enfrentar a convicção de que interesses idênticos
envolviam toda a Europa. Este sentimento fornecia forte argumento a favor da
organização internacional do socialismo. Mas enquanto as organizações
socialistas internacionais permaneciam passivas e desinteressadas no sector da
política externa (isto é, precisamente nas questões em que o seu
internacionalismo poderia ter sido posto à prova), os anti-semitas começavam
pelos problemas de política externa e chegavam a prometer a solução de
problemas internos numa base supranacional. Se estudarmos as ideologias, não pela
aparência, mas analisando profundamente os verdadeiros programas dos
respectivos partidos, verificaremos que os socialistas, muito mais interessados
pelos assuntos internos, enquadravam-se melhor na estrutura do Estado-nação do
que os anti-semitas.
Isto não
significa, naturalmente, que as convicções internacionalistas dos socialistas
não fossem sinceras. Ao contrário, eram mais fortes e até anteriores aos
interesses supranacionais de classes, que ultrapassaram as fronteiras de
Estados nacionais. Mas a consciência da importância transcendente da luta de
classes dentro de cada Estado, levou-os a desprezar a herança que a Revolução Francesa
havia legado aos partidos operários e que, se realizada, poderia tê-los guiado
à teoria política articulada no sentido internacionalista. Os socialistas
mantiveram implicitamente intacta a validade do conceito «nação entre nações»,
todas pertencentes à família da Humanidade; mas não foram capazes de
transformar esta ideia em facto aceite pelo mundo dos Estados soberanos. Por
conseguinte, o seu internacionalismo permaneceu na convicção pessoal,
compartilhada por todos e o seu saudável interesse pela soberania nacional
tornou-se uma insalubre e irrealista indiferença pela política externa. Aliás,
os partidos de esquerda não tinham, em princípio, objecções a Estados-nações,
mas tão só ao aspecto hegemónico das soberanias nacionais, a ponto de
preconizarem como solução política a formação de estruturas federalistas, com
eventual integração de todas as nações em termos iguais, o que pressupunha, de
certa forma, liberdade e independência nacional de todos os povos oprimidos.
Por isso, os partidos socialistas podiam operar, dentro dos limites do Estado-nação,
pensando emergir, quando decaíssem as estruturas sociais e políticas do Estado,
como o único partido hostil a fantasias expansionistas e que não sonhava com a
destruição de outros povos.

O
supranacionalismo dos anti-semitas abordava a questão da organização
internacional do ponto de vista exactamente oposto. O seu objectivo era uma
superestrutura estatal que destruísse as estruturas nacionais. O seu
ultranacionalismo, que preparava a destruição do corpo político da sua própria
nação, baseava-se no nacionalismo tribal, com um desmedido desejo de conquista,
que constituiria uma das forças principais com que se poderiam aniquilar as
fronteiras do Estado-nação e da sua soberania. Quanto mais eficiente se
tornavam os meios de propaganda chauvinista, mais fácil era persuadir a opinião
pública da necessidade de uma estrutura supranacional que – partindo da
hegemonia do próprio grupo nacional – reinasse de cima e sem distinções
nacionais através de um monopólio universal da força e dos instrumentos de
violência.
Restam
poucas dúvidas de que a condição especial do povo judeu – o facto de serem
intereuropeus – poderia ter servido aos fins do federalismo socialista pelo
menos tão bem quanto iria servir às sinistras conspirações dos
supranacionalistas. Mas os socialistas mostravam-se tão preocupados com a luta
de classes e tão despreocupados das consequências políticas dos conceitos que haviam
herdado, que somente perceberam a existência dos judeus como factor político
quando deram de frente com um sério concorrente no plano interno: o
anti-semitismo desenfreado. Nessa ocorrência, estavam não só mal preparados para
integrar a questão judaica nas suas teorias, mas também receosos de tocar no
assunto. Neste ponto, como em outras questões internacionais, deixaram a
iniciativa aos supranacionalistas que, na época, se faziam passar pelos únicos
que conheciam as soluções dos problemas mundiais.
No dobrar
do século XIX, os logros da década de 79 desvaneceram-se e uma era de
prosperidade e de bem-estar, especialmente na Alemanha, acabou com a prematura
agitação da década de 80. Ninguém poderia prever que esse período representava
apenas uma trégua temporária e que todas as questões políticas não resolvidas,
juntamente com todos os ódios não aplacados, redobrariam em força e violência
após a I Guerra Mundial. Os partidos anti-semitas na Alemanha, depois de um
sucesso inicial, reduziram-se à sua insignificância e os seus dirigentes, após
breve agitação da opinião pública, saíram pela porta traseira da história.
(In Hannah Arendt, As
Origens do Totalitarismo, Publicações Dom Quixote, 8.ª edição, 2018, pp.
48-52).











.jpg)
%20(1).jpg)








%20(1).jpg)
.jpg)








.jpg)

.jpg)
.jpg)