Escrito por Franco Nogueira
«Silva Dias, em Os primórdios da Maçonaria em Portugal, diz-nos que a fronteira que separa “inglesados” de “afrancesados” não se resume a uma diferenciação ideológica e muito menos a uma qualquer classificação simplista de absolutismo versus liberalismo, mas que reflecte acima de tudo interesses económicos e principalmente posturas diferentes em matéria de política externa portuguesa. Neste campo, um grupo significativo e abrangente em termos sociais, defendia a neutralidade portuguesa, o que era contestado por outra significativa facção que considerava tal opção uma forma de encobrir o predomínio inglês. Entendia este segundo grupo, que a paz com a França seria a única hipótese politicamente viável para o país. Defendiam esta posição António de Araújo e, entre os mais radicais, o Marquês de Alorna, que argumentava com a situação de desequilíbrio nas trocas comerciais com a Inglaterra. Quanto a António de Araújo, embora detentor de um espírito despido de traços religiosos, estava longe de pensar a substituição das estruturas absolutistas por estruturas de cariz liberal, ainda que Voltaire, Rousseau ou Diderot estivessem entre os seus teorizadores políticos mais apreciados.
(...) não podemos hoje considerar estas posições como reflexo de qualquer influência maçónica, porque entre os afrancesados havia quem defendesse o poder absoluto do príncipe e havia também quem se mostrasse solidário com as novas doutrinas que haviam estado na génese da Revolução Francesa. Do mesmo modo, entre o partido inglês podemos encontrar uma amálgama de anseios reformistas com teses conservadoras. Assistimos também do mesmo lado da barricada a um confronto entre regalistas e anti-regalistas, destacando-se nestes o padre José Morato, sendo a razão do conflito a de determinar de quem dependia a autoridade eclesiástica do reino, se do rei se do papa. Não podemos também desprezar o papel da Espanha, ora potenciadora de ideias liberalizantes, ora suporte dos conservadorismos, ora ainda manobrando na sombra segundo os seus interesses. É neste contexto político que a Maçonaria surge associada aos motins de 1803, ocorridos em Campo de Ourique em Lisboa. Neles foram intervenientes Gomes Freire de Andrade, o Conde de Novion, José Máximo Pinto Rangel, o Marquês de Alorna e D. João de Almeida de Melo e Castro. Gomes Freire de Andrade, que era comandante do Regimento de Infantaria 4 prendeu, no Passeio Público e durante as festividades do Corpo de Deus, o ajudante Grosson, conselheiro do Conde de Novion, então Comandante da Guarda Real da Polícia de Lisboa. Quando um mês depois, em 24 e 25 de Julho, o regimento de Gomes Freire, sediado em Campo de Ourique, celebrou as festas da Senhora da Piedade começaram a concentrar-se no local diversos mercadores que ali ergueram as suas tendas. Então o Comando Geral da Polícia destacou para ali patrulhas sob o comando do próprio Grosson, o que exasperou os soldados de Gomes Freire, tendo o povo tomado partido pelos militares e contra a polícia. As tensões vividas evoluíram para um confronto aberto com tiroteios, facadas e pedradas de parte a parte. Grosson e Gomes Freire de Andrade comparecem no local ao terceiro dia dos confrontos. Durante os acontecimentos a Legião de Alorna solidariza-se com o Regimento de Infantaria 4, entrando em conflito com as forças da polícia. O auge dos confrontos ocorre com a prisão do Conde de Novion por Gomes Freire, efectuada em nome do príncipe regente. Este era no entanto um conflito já antigo e decorria de questões relacionadas com privilégios de vencimento que a Guarda Real de Polícia obtivera, para além da predominância desta em termos de manutenção da ordem. Reflectia ainda as paixões dos comandantes em presença, sendo de referir que os conflitos entre estas duas forças ganham destaque no período 1804 a 1806, cujos resquícios ainda se reflectem na morte de Gomes Freire em 1817.
Mais do que simples confrontos, Luz Soriano considera-os a primeira tentativa pública com o objectivo de conferir ao regime uma orientação mais liberal, tese que no entanto Pinheiro Chagas refuta. Estes confrontos conjugam-se com a vinda para a rua de muitos populares e fidalgos contrários aos planos reformadores de D. Rodrigo de Sousa Coutinho. Note-se ainda que à frente da polícia se encontravam portugueses e franceses defensores da monarquia tradicionalista, manobrados pelo embaixador francês em Lisboa general Lannes, também maçon. Este grupo confrontava-se com uma elite do exército defensora de uma ordem liberal, formada em grande parte por oficiais que tinham estado com Gomes Freire nas campanhas do Roussilhão e tendo como principais apoiantes o Duque de Sussex e o embaixador inglês em Lisboa. Refira-se a propósito o incidente de Lannes e Pina Manique, onde este argumentava que o embaixador importava livros proibidos, efectuava reuniões maçónicas na sua residência e promovia as ideias dos pedreiros-livres, o que motivou uma nota do embaixador ao governo português. Eis pois a amálgama de ideário político existente nestes dois grupos, alinhadas mais em função da política externa portuguesa e mesmo assim com algumas incoerências, do que por razões meramente ideológicas.
Na sequência destas desordens procederam-se a averiguações, concluindo o governo que fora Gomes Freire quem se excedera. Gomes Freire de Andrade viria a ser preso na Torre de Belém a 27 de Julho, sendo a 28 o seu regimento transferido para Cascais por ordem do príncipe regente. Nesta situação, o Duque de Sussex constitui-se como um apoiante incondicional de Gomes Freire junto da corte. O Duque, filho do rei Jorge III de Inglaterra e então a residir em Portugal, era também membro da maçonaria vindo, em 1813, a ser eleito Grão-Mestre da Grande Loja Unida de Londres. Não se confirma a existência de uma Loja no regimento de Gomes Freire, no entanto revelam-se significativas as solidariedades do Duque de Sussex e do Marquês de Alorna, D. Pedro de Almeida Portugal.
Entretanto, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, assumidamente hostil à França e pró-inglês, defensor de uma política moderada de reformas em matéria fiscal e económica, leva a efeito uma política externa que vai desembocar na ida da família real para o Brasil. Partidário de Montesquieu e de Adam Smith, D. Rodrigo de Sousa Coutinho assumia a sua formação na escola pombalina, solidificada pela carreira diplomática, advogando reformas dentro da monarquia e rejeitando ao mesmo tempo as mutações políticas violentas. Mais ainda, possui uma noção de império onde o Brasil não era considerado como uma província, mas uma parcela tão importante quanto o território de Portugal. Em seu entender a casa de Bragança reinava por igual em todo o espaço imperial, sendo o país visto como um todo geopolítico onde Portugal constituía apenas uma província, não a cabeça política e administrativa do todo. Partidário de um alinhamento com a Inglaterra, pensa que a hostilidade à França será a médio prazo benéfica a Portugal, ainda que considerasse a neutralidade como a alternativa mais vantajosa para o país. É dentro desta lógica que em 18 de Agosto de 1807 pronuncia um discurso no Conselho de Estado em favor da declaração de guerra à Espanha e à França. Por outro lado, o reformismo de Sousa Coutinho terminava na modernização do aparelho político administrativo, enquanto que Gomes Freire e o Marquês de Alorna sublinhavam antes a liberdade ideológica e política, assim como a evolução cultural, como factores estruturantes da sociedade, deles dependendo por sua vez a modernização administrativa do Estado.»
António Lopes («Gomes Freire de Andrade – um retrato do homem e da
sua época»).
«Napoleão I, senhor de quase toda a Europa, sentia inveja da preponderância da Inglaterra nos mares, e pretendeu fechar-lhe todos os portos da Europa a fim de a combater, ou melhor, de a aniquilar. Portugal, em virtude da sua condição de velho aliado da Grã-Bretanha, recusou imediatamente submeter-se aos desejos de Bonaparte mas, forçado a entrar na via das negociações europeias que seria longo descrever aqui, Napoleão fez marchar sobre Portugal uma parte do exército francês comandada pelo general Junot, que fez a sua entrada em Lisboa a 30 de Novembro de 1807. Na véspera, assim que se soube da aproximação dos franceses, a rainha D. Maria I, o regente, seu filho, e toda a corte portuguesa embarcaram para o Rio de Janeiro, deixando um comité, composto de sete membros, encarregado da regência de Portugal: o marquês de Abrantes, Francisco da Cunha Meneses, o Principal Castro, Pedro de Mello Breyner, D. Francisco de Noronha, o conde de Sampaio e João Salter de Mendonça. Mais tarde, alguns destes membros da regência foram substituídos.
Junot era maçon, assim como Napoleão I e a maior parte dos oficiais do exército francês.
 |
| Napoleão Antes da Esfinge (c. 1886), por Jean-Léon Gérôme, Hearst Castle. |
Apenas chegado a Sacavém, Junot foi recebido e saudado com a maior deferência por todos. O próprio regente o tinha ordenado antes de partir. A Regência, a Câmara de Lisboa, o Patriarca, o clero, a nobreza, renderam-lhe as suas homenagens. Uma deputação maçónica, composta pelos velhos maçons Luís de Sampaio Mello e Castro, irmão do Grão-Mestre, Tiago José Victor d’Abreu, colector de impostos em Azambuja, José Joaquim de Sampaio Mello e Castro e F. Veloso, consultor na corte, apresentou-lhe as suas saudações no Quartel Mestre General e pediu-lhe que protegesse a Maçonaria. O general recebeu-os de braços abertos e, pelo facto do valor que a Maçonaria já então possuía, tomou a decisão de se servir dela para a sua política de absorção.
Conseguiu que o irmão A. Seabra e Silva ousasse propor numa Loja (habitualmente todas as Lojas possuíam um retrato do soberano reinante) a substituição do retrato do príncipe regente pelo de Napoleão. Vários irmãos mostraram a sua indignação contra esta proposta, que fracassou. Junot procurou insinuar no Grande Oriente Lusitano que a nomeação como Grão-Mestre lhe era devida em virtude do seu alto cargo; mas o Grande Oriente, por unanimidade de votos, recusou, fazendo valer os motivos da sua recusa: “1) Existia um Grão-Mestre, pelo que o lugar não estava vago; 2) Este lugar pertencia de direito a um português; 3) Não era época de eleições; 4) Junot não possuía as eminentes qualidades e as sublimes virtudes indispensáveis ao personagem que ocupa tão alto cargo”. [Memórias, de José Liberato; “Causa dos Frades e dos Pedreiros-Livres no Tribunal da Prudência»].
O entusiasmo patriótico contra os invasores começou a atravessar algumas Lojas onde se faziam brindes ao príncipe regente e ao Exército português do Norte e do Sul.
Tudo isto desagradou a Junot, que ordenou insistentemente ao Intendente de Polícia a perseguição dos maçons.
O duque de Sussex, que Jorge III, seu pai, tinha enviado a Portugal em 1802 e que era maçon, e conhecido como tal nas Lojas portuguesas, contribuiu poderosamente para encorajar os portugueses.
Junot foi empurrado até à fronteira pelo Exército anglo-português. Mas em 1809 as tropas francesas voltaram, comandadas pelo general Soult. Nesse mesmo ano, alguns membros da Maçonaria sofreram grande incómodo em virtude de um facto curioso de que vou fazer o relato. Alguns maçons do Exército inglês, um grupo numeroso, tiveram a ideia de fazer uma procissão maçónica através das ruas de Lisboa; o ponto de partida era o castelo de S. Jorge e, até à Rua do Alecrim, esta procissão, precedida pelo estandarte da Ordem, atravessou a multidão. As sentinelas militares que se encontravam no percurso faziam a saudação militar, não sabendo do que se tratava. O clero, indignado, sabendo do facto, empregou todos os esforços para excitar o povo e fê-lo tão bem que a Regência ordenou a prisão dos maçons portugueses de maior nomeada que na Quinta-Feira Santa, 30 de Março, foram entregues à Inquisição. O subintendente-geral de polícia, conselheiro Jerónimo Francisco Lobo, teve oportunidade de apreender os arquivos da Grande Loja de Inglaterra, que continham o registo, as pranchas, as actas, os diplomas, a Constituição e várias outras peças.
Todas as memórias da época estão de acordo neste ponto: sustentam todas que os arquivos maçónicos foram entregues à Polícia por um maçon, Maurício José Nogueira, natural do Algarve e empregado do comércio na loja de um inglês. Neste mesmo ano, o irmão Fernando Romão d’Ataíde Freire, filho do governador das Armas da Província do Alentejo, sucedeu como Grão-Mestre a Sebastião José de Sampaio Mello e Castro.
Foi então que os reaccionários começaram as suas publicações contra a Maçonaria, mas as primeiras eram apenas traduções. Possuo duas. A primeira, com o título Os Franco-Maçons ou os Iluminados, que se deveriam chamar os Tenebrosos, cujas seitas forneceram membros à pestilencial confraria que se chama Jacobinismo. Este exemplar é uma reedição correcta e aumentada de outra escrita no Rio de Janeiro em 1804 e da qual não se conhece o nome do autor nem o do tradutor. A segunda é devida a José Agostinho de Macedo, baseada na obra de Barruel, com o título: Revelação do segredo ou manifestação do sistema dos Franco-Maçons ou Iluminados e sua influência sobre a fatal Revolução Francesa. Obra extraída das Memórias para a História do Jacobinismo do abade Barruel e publicada em português para a confusão dos ímpios e precaução dos verdadeiros amigos da Pátria, por José Agostinho de Macedo, padre secular – Lisboa, Imprensa Real, ano de 1809.
A Maçonaria portuguesa guardou uma funesta recordação do ano de 1810. A 10 de Setembro, os regentes do reino fizeram deter trinta maçons dos mais importantes da capital. Primeiramente encerraram-nos na Torre de Belém e, mais tarde, expulsaram-nos do continente e, sem julgamento nem processo, transportaram-nos para as ilhas dos Açores. Os regentes pretenderam fazer crer que esta perseguição contra os franco-maçons era devida à sua ligação com as ideias francesas desde a entrada do exército de Massena em Portugal, o que era uma abominável calúnia visto que estamos ao corrente das manifestações patrióticas dos maçons contra as pretensões de Junot.
Publicava-se então em Londres o jornal português O Correio Brasileiro, redigido pelo célebre Irmão Hipólito, (...) e neste jornal, assim como noutros jornais de Londres, o procedimento dos regentes foi severamente criticado; e lorde Greenville, na Câmara Alta, criticou o despotismo do Governo português.
O duque de Sussex empregou todos os seus esforços para proteger ainda os seus Irmãos e, com ajuda da Grande Loja de Inglaterra, conseguiu obter a libertação de vários maçons portugueses. Esta “Setembrada”, assim chamada nas memórias maçónicas da época, conteve durante algum tempo a Maçonaria, mas em breve os associados tomaram coragem com a iniciação de numerosos oficiais do Exército português e de outros personagens de elevado ramo. Pode-se concluir desta exposição que os maçons portugueses, durante os três anos das invasões francesas, de 1807 a 1810, tiveram muito que sofrer. O seu patriotismo enérgico e apurado foi posto à prova, embora os comandantes do exército francês e seu chefe supremo, Napoleão Bonaparte, fossem eles próprios maçons.»
Manuel Borges Grainha («História da Franco-Maçonaria em Portugal
(1733-1912)»).
«Crê-se que Gomes Freire de Andrade tenha sido iniciado na Maçonaria antes de 1785, na Loja Esperança Coroada em Viena, onde atingiu o grau de Mestre Maçon e onde se encontra registado no seu quadro pelo menos até 1790. Já em Portugal, encontramos o seu nome referido em 1801, ano em que recebe em sua casa uma assembleia que se revelou de particular importância para a Maçonaria portuguesa. Em 1802, é eleito dignatário do recém formado Grande Oriente Lusitano. Entre 1801 e 1807, a sua actividade político-militar é significativa, sendo referido como mentor de episódios de agitação política.
(...) Gomes Freire de Andrade, de nome simbólico Porset, foi eleito Grão-Mestre do Grande Oriente Lusitano em 1816, dirigindo-o até 1817, ano da sua morte. Durante este período é notória a expansão da Maçonaria em Portugal, pesem embora as perseguições da Regência através da Intendência da Polícia. Este é um período de acentuada politização da maçonaria, a qual ganhou consciência de que não mais poderia aguardar passivamente o desenrolar da cena política internacional. Por outro lado, haviam perdido todo o sentido os partidos pró-inglês e pró-Francês que existiam antes das invasões francesas, abrindo-se assim um espaço político vazio de intervenientes, ainda que as simpatias dos membros da Regência se inclinassem para o lado inglês, sendo classificado de “jacobino” tudo o que fosse relativamente próximo das ideias francesas.»
António Lopes («Gomes Freire de Andrade – um retrato do homem e da
sua época»).
Guerra Peninsular
Do esforço tenaz de Pombal, firmado numa vontade sem limites e numa fria razão de Estado, pouco restava ao país. D. Maria I era tímida, melancólica, hesitante, com a obsessão de ser piedosa: e durante um espectáculo no Paço de Salvaterra enlouqueceu de forma incurável. Assume o governo o príncipe D. João: enfermiço, triste, quase abúlico, só mais tarde revelaria uma inteligência política e uma percepção das forças em jogo que, no entanto, não seriam servidas por firmeza e energia. Repetindo o erro tantas vezes praticado no decurso de séculos, a corte de Lisboa reincidira antes na política de consórcios peninsulares e ajustara o casamento de D. João com D. Carlota Joaquina, uma Bourbon, e filha mais velha do príncipe das Astúrias. Era princesa de «feições perfeitas», e «muito viva, muito atinada, e tinha havido grande cuidado na sua educação» [1]. Mas o casamento, no espírito do Rei Católico, era acima de tudo, e como sempre, um acto político. E declarava ao embaixador de Portugal: «Estas alianças serão as mais estimáveis porque convinham reciprocamente a ambas as monarquias, e desejava, como sempre tinha desejado, esta tão necessária união»; e que a corte de Lisboa podia olhar para os estados espanhóis «como para os seus porque também nesta parte desejava reciprocidade» [2]. E mais tarde voltava a sublinhar ao embaixador o «desejo que tinha de procurar todos os meios de conservar uma paz perpétua com Portugal, e o muito que estimava esta aliança» [3]. Uma atmosfera estrangeira ia assim invadir a corte portuguesa: entrava-se de novo na fase da política mole: e não se via que qualquer acordo com a Espanha, numa base formal de reciprocidade, joga sempre em desfavor de Portugal dada a desproporção dos dois países. Entretanto a sociedade declinava: liam-se os enciclopedistas, os filósofos revolucionários, os panfletários reivindicativos: e a vigilância de Pina Manique não conseguia suster a onda invasora. Não estava mal, todavia, no contacto com ideias novas e uma cultura mais complexa e em expansão: a tragédia residia no facto de aquelas serem aceites cegamente, sem integração nos quadros nacionais e sem serem postas ao serviço da comunidade portuguesa. Por isso as classes dirigentes de novo se aburguesavam e se dissolviam em abstracções intelectualizadas, em teorias políticas e sociais desgarradas da terra portuguesa, em cosmopolitismo de finas maneiras e de bom tom. Havia a convicção ilusória de que uma era nova e definitiva ia descer sobre a humanidade. José Agostinho de Macedo seria o grande apóstolo do antifrancesismo. Nenhuma preparação tinham, por outro lado, as forças armadas, e haviam-se perdido as virtudes militares. Encontrava-se exaurido o tesouro. Estavam «paralíticos todos os habitantes do país», e a nação «coberta de fome, e pobreza»; o «descontentamento nacional era público»; e os «espíritos frouxos tinham posto o reino em confusão» [4]. Grandes da nobreza estavam corrompidos: o marquês de Abrantes embolsava trezentos mil cruzados, o marquês de Niza obtinha um empréstimo para viver no luxo, um terceiro conseguia cento e cinquenta cruzados. Alguns mais lúcidos, contudo, apercebiam-se de que a paz de Basileia, de 1795, não era o termo das dificuldades do reino. O duque de Lafões solicitava do príncipe que se preocupasse com a reorganização do Exército. O marquês de Ponte de Lima advertia D. João dos perigos internacionais, e em face da situação na França formulava sugestões: «devemos sem perder um momento procurar uma resposta decisiva do gabinete de Londres sobre a nossa situação» porque é de presumir que os franceses «obriguem a Espanha a inquietar-nos, e por isso é absolutamente necessário saber positivamente o que podemos esperar da Inglaterra»; não via inconveniente em que se invocasse o «divino auxílio e a protecção da nossa Padroeira»; mas acrescentava que «depois dos socorros divinos devemos tratar dos meios humanos, que consistem em negociar com muita prudência mas sem mostrar o mínimo de susto, e em cuidar já qual há-de ser o estado do nosso exército no caso de ser indispensável combater» [5]. Segundo D. José Vasques da Cunha, plenipotenciário na Haia, «perante o grande mundo nós fazemos agora uma miserável e triste figura». E a guarnição de Elvas, num manifesto de Maio de 1801, receava que «em pompa fúnebre se fizessem exéquias à glória portuguesa»; insurgia-se contra a Espanha, «nação sobejamente ingrata» que «à sombra das nossas esquadras salvou grande parte dos seus interesses»; e lançava um apelo aos portugueses por ter chegado o «momento de se renovar a cena dos Sertórios e dos Viriatos» [6]. Para além dos cuidados que suscitava o sobressalto no continente europeu, sentiam alguns, na crise que se avizinhava, profundas preocupações com o destino do ultramar português. Como Zurara no século XV, como durante o domínio filipino, como nos da restauração, também agora havia o pavor do que aconteceria além-mar, e depois na metrópole. E o morgado de Mateus, que ocupava posição eminente, escrevia que Portugal «cessaria de o ser (no caso de perder a guerra que se aproximava) pois que as suas vastas e dispersas colónias as perderia para sempre, e assim sem comércio e sem forças seria um escravo de Espanha»; e «que as nossas colónias, abandonadas a si, ficariam à disposição da Inglaterra»; e que, «se as não conquistassem, bastaria que fizessem directamente o comércio delas, e abertos os seus portos uma vez as perderíamos para sempre» [7]. Este era o quadro trágico: e Portugal, como no passado remoto e como havia uma escassa década, ia de novo ser vítima das querelas europeias e «girar no turbilhão das potências beligerantes», como resumia na altura o secretário de Estado Luís do Sousa Coutinho.
Desde a paz de Basileia que continuava precário o equilíbrio europeu. Persistia a animosidade entre a Inglaterra e a França, e esta envidava todos os esforços para separar Portugal daquela. Exerciam os franceses uma guerra de corso sobre os navios portugueses; os ingleses aplicavam um bloqueio a muitos portos espanhóis; e Godoy, o Príncipe da Paz, conduzia um jogo duplo entre a Espanha e a França, por um lado, e a Espanha e Portugal, por outro. As cortes de Madrid e Paris, pelo Tratado de Santo Ildefonso (1796), concluíam-se contra a Grã-Bretanha; e esta, para evitar o restabelecimento da paz entre Portugal e a França, converte Lisboa num foco de agitação política e revolucionária. António de Araújo, hábil negociador, percorre a Europa: compra, intriga, promete, ameaça: e chega a aliciar a amizade de Talleyrand. Mas os interesses em causa são superiores às forças de qualquer enviado. Por 1799, inicia-se o poder de Napoleão Bonaparte, e principia a agressividade da política francesa. Paris deseja que a Espanha ataque Portugal, e declara-se pronta a prestar auxílio: mas Madrid, concordando em invadir-nos, encara com aversão a possibilidade de tropas francesas atravessarem território espanhol [8]. Sem embargo da amizade afirmada ao marquês do Louriçal, por ocasião do casamento de D. Carlota Joaquina com D. João, o Rei Católico tem agora um desabafo diferente: «venderia a minha coroa e a própria camisa que visto» para realizar aquele sonho [9]. Preparando-se para o pior, buscava a diplomacia portuguesa apoio pelo continente europeu: e naquele mesmo ano de 1799 celebrava a Rússia um tratado de amizade. Reage a França: envia Berthier a Madrid: e este anuncia que «chegou a hora de Portugal». Bonaparte insiste ser indispensável que a Espanha anexe Portugal: Godoy, temporariamente substituído por Urquijo, volta de novo ao favor do Rei Católico: realiza negociações com Luciano Bonaparte: e decidem confrontar Portugal com um ultimato, a expirar em 15 dias. Este exige: rompimento da aliança com a Inglaterra; ocupação de uma parte de Portugal por tropas espanholas; compensações no ultramar português, para ulteriormente as oferecer à Inglaterra em troca de apaziguamento na Europa. Talleyrand levantava objecções: a anexação de Portugal fortaleceria por demais a Espanha; a Inglatera procuraria ocupar o Brasil para atacar a américa espanhola; e o facto acabaria por provocar ressentimento em Madrid. Aterra-se a corte de Lisboa, perplexa e frouxa: e formam-se os habituais dois partidos estrangeiros, agora o francês e o inglês, como em 1380 e em 1580 houvera o partido espanhol. Não havia um querer nacional nem um objectivo político firme: desejávamos um acordo com a Espanha e a França: não pretendíamos quebrar a aliança inglesa: e verdadeiramente não havia um partido português. Na realidade, não tínhamos no momento uma visão histórica do equilíbrio europeu nem dos permanentes fluxos e refluxos deste, nem tão-pouco força militar para prosseguir e defender interesses puramente portugueses. Neste estado de confusão e moleza, recebemos novo ultimato: o duque de Frias, embaixador de Espanha, impõe-nos uma decisão clara a favor do seu país sob pena de guerra. E esta é efectivamente declarada: é a campanha de 1801, que recebeu o nome pitoresco de guerra das laranjas [10]. Rendem-se com ignomínia algumas praças fronteiriças [11]: forças portuguesas, com Gomes Freire de Andrade, invadem a Galiza: e os dois exércitos lutam sem ânimo. Na consciência de que eram simples peões no jogo das grandes potências, o duque de Lafões e o general espanhol Francisco Solano interrogam-se: «Para que nos havemos de bater? A Inglaterra nos excita a nós, e a França vos aguilhoa a vós» [12]. Em Junho de 1801 são oferecidas condições de paz à corte de Lisboa: encerramento de portos à Inglaterra; alargamento das fronteiras francesas na Guiana; cedência à Espanha de territórios até ao Guadiana; indemnizações em dinheiro. Mas em Setembro, pelo tratado de Madrid, e em Outubro pelo tratado de Londres, negoceiam-se outros acordos: consignam a integridade dos territórios portugueses, sem prejuízo de indemnização a pagar por nós. Todavia, com conhecimento inglês, insere-se uma cláusula secreta: e esta sanciona a extorsão que se infligia a Portugal. Mais tarde, em 1802, novo instrumento reitera aquela cláusula: foi o resultado das negociações de Amiens. E através destes anos dolorosos a Inglaterra, para evitar que caiam em mãos alheias, ocupa Damão, Dio e Goa, e a ilha da Madeira: são necessários vivos protestos para que ponha termo a esse acto. Nos dez anos que medeiam entre 1792 e 1802, Portugal espiou assim uma série de agressões não provocadas, de que não obteve compensação mínima.
.svg.png) |
| Localização de Goa |
Tudo não era mais do que um armistício. Napoleão Bonaparte entrava no caminho do império: o equilíbrio europeu ia ser resolvido; a hegemonia seria francesa; e o sonho consistia em construir em torno daquela um continente unido. Abater todas as barreiras, de bom ou mau grado, e congregar os estados numa Europa integrada: eram os ventos da história da época. De triunfo em triunfo, pareciam invencíveis as armas francesas: e com o apocalipse que subvertia o continente vacilaram no reino de Portugal os ânimos mais impressionáveis. Na perplexidade do momento, o Príncipe Regente pediu aviso aos seus conselheiros. Deram-lho vários; mas destaca-se o de D. Rodrigo de Sousa Coutinho. Este sustentava uma posição de neutralidade, e insistia em que, para a defender, havia que possuir alguma força militar. No plano externo, recomendava: solicitar socorro ao imperador da Rússia, nos termos do tratado de amizade entre os dois países; diligências enérgicas em Espanha e preparar com esta um golpe contra a França, se esta atacasse; comunicar «sem reserva alguma à corte de Londres» e pedir «alguma cavalaria, alguma infantaria, um general, alguns oficiais de artilharia, algum subsídio» [13]. E dois meses mais tarde, a 16 de Agosto de 1803, D. Rodrigo de Sousa traça o quadro da situação política da Europa e envia-o ao príncipe D. João: o tratado de Amiens deixara «um livre e vasto campo à indefinida ambição» de Bonaparte; tudo vai ser abalado, desde a Rússia ao Império Otomano; a Inglaterra procurará organizar uma coligação contra aquele «disforme e monstruoso colosso»; e os «domínios vastos de Portugal separados nas diversas partes do mundo vão achar-se em circunstâncias críticas». Nestes termos D. Rodrigo de Sousa recomenda «bem conduzidas negociações e uma grande firmeza para resistir à preponderância do governo francês». E ajunta: «Uma enérgica, forte e inesperada defesa é o único meio que ainda resta de assegurar a independência da coroa»; se esta falhar, poderia permitir «em qualquer caso criar no Brasil um grande império e segurar para o futuro a reintegração completa da monarquia lusitana»; e se assim não for, e os franceses entrarem no reino, seguir-se-á «uma opressão fatal» e a perda dos «vastos domínios nas ilhas contíguas à Europa, na América, n’África, e na Ásia, procurada pelos ingleses para se indemnizarem da falta de comércio com Portugal e para se apropriarem das produções de tão interessantes domínios ultramarinos [14]». No mesmo sentido se pronunciava o marquês de Alorna [15]; mas este, num plano emocional, tendia a culpar a Inglaterra; e condenava a aliança luso-inglesa «pois é sociedade leonina a que existe entre Portugal e a Grã-Bretanha» [16]. Todos estes e demais pareceres ponderava D. João; mas não lhe ocorriam, nem ao seu governo, medidas enérgicas; e tendo apego à neutralidade nenhuma providência era tomada para a garantir.
De harmonia com uma tradição de infortúnio, empenhavam-se em Lisboa, numa luta sem quartel, as influências francesa e inglesa. O enviado de Paris, Lannes, mobilizara alguns notáveis: e impôs ao príncipe a demissão de D. Rodrigo de Sousa Coutinho (ministro da Marinha) e D. João de Almeida (ministro dos Estrangeiros), um e outro defensores da neutralidade portuguesa. Foram substituídos por partidários dos franceses: estes passaram a dominar a corte de Portugal. Mas o representante britânico, Robert Fitz-Gerald, não estava inactivo; e como resultado da sua intervenção produziram-se no Verão de 1803 tumultos que quase degeneraram em golpe de Estado. Deu-se uma oscilação na corte: e desta foram afastados alguns francófilos como Alorna, Fronteira, Sabugal. Verdadeiramente, o príncipe regente não se determinava com liberdade. Resolve então despachar a Paris o morgado de Mateus, D. José Maria de Sousa. Avista-se com Bonaparte: mas é recebido friamente: e o imperador apenas lhe formula queixas de mau augúrio. Regressou o morgado de Mateus a Lisboa: a falência da sua missão aumentava a incerteza da corte. António de Araújo Azevedo, cuja habilidade lhe permitiu atravessar todo este período numa posição ou noutra, embora acalentasse simpatias pela França compreendia que apenas uma atitude neutral servia os interesses nacionais: e via que a hostilidade da Inglaterra, inevitável se aquela fosse quebrada, seria a perda do Ultramar. Decide enviar a Paris D. Lourenço de Lima, havido como entusiasta do partido francês. Para aplacar Bonaparte, António de Araújo instruiu D. Lourenço de Lima para informar aquele de que o «príncipe Regente Nosso Senhor, em consequência da resolução que tomou de aderir à causa do Continente, deu ordens para se guarnecer os pontos mais expostos das Costas e o Porto de Lisboa com tropas e artilharia» e que «está firme na resolução de declarar guerra aos ingleses» [17]. Neste momento, porém, interpõe-se uma intriga espanhola: Manuel Godoy, o velho Príncipe da Paz, dissemina junto de Bonaparte o rumor de que os ingleses se propunham desembarcar militarmente em Portugal [18]. Para o recado, serve Junot de intermediário; e o imperador, perturbado de cólera, envia a Lisboa o seu marechal. Este chega em Abril de 1808, e exige uma declaração de guerra à Grã-Bretanha. D. João tenta então recuar, e apela para Bonaparte, e escreve-lhe: «Vossa Majestade sabe que a monarquia portuguesa se compõe de estados espalhados nas quatro partes do globo, que ficariam inteiramente expostos no caso de uma guerra com a Grã-Bretanha». Procurava o príncipe acentuar o carácter unitário mas disperso da nação, e portanto a sua vulnerabilidade: implicitamente vincava os perigos dos ataques de um poder naval a que uma potência continental não tinha meios de se opor: e reclamava deste modo o direito de ser neutral. Através de tudo, no entanto, Godoy conduzia as suas intrigas; a Inglaterra tornava-se mais audaciosa; e navios ingleses reabastecem-se no Algarve ou refugiam-se em Lisboa. António de Araújo protesta, procurando salvar a neutralidade, e consegue que partam. E então precipitam-se os acontecimentos: no Verão de 1807, Bonaparte determina a Talleyrand que convide Portugal a fechar os seus portos à Inglaterra; o ministro quis ainda contemporizar; é substituído por Champigny; e António de Araújo lamenta-se de que Talleyrand «lhe faz muita falta». O Príncipe Regente tenta um arranjo político com a Espanha [19], e ingenuamente propõe uma aliança ofensiva e defensiva; informados, os ingleses bloqueiam Lisboa; e em Agosto daquele ano, e depois de haver humilhado publicamente D. Lourenço de Lima, Napoleão Bonaparte envia um ultimato a Portugal. António de Araújo apela para a Inglaterra; mas recebe na altura resposta evasiva. Sem interesse na luta entre as potências, sem ter cometido falta ou delito – salvo o de haver tratado com descaso a defesa da sua neutralidade – Portugal ia ser violentamente invadido.
.jpg) |
| A Coroação de Napoleão, por Jacques-Louis David (1804). |
D. João interpretara de início a política napoleónica como sendo a «causa do continente» europeu, e aderira ao que parecia ser força irreversível, julgando assim salvar o reino e o ultramar. Mas não era esse o fulcro do pleito: o problema consistia em saber se uma nação conseguiria impor a sua hegemonia à Europa e uni-la sob o seu poderio: e ainda em saber se o potencial marítimo britânico não se oporia a esse objectivo. E afinal verificava-se que a Europa se recusava a ser integrada; e que a Inglaterra, se queria sobreviver, não podia aceitar aquela integração, sob a égide francesa, como não o consentiria sob hegemonia espanhola, nem o iria permitir sob hegemonia alemã. Destas realidades se deu conta por fim o Príncipe Regente; e o manifesto que dirigiu ao reino antes de partir e a ordem que enviou aos governadores, chegado que foi ao Rio de Janeiro, são neste particular documento de importância histórica e significado político. Diz o príncipe ter sido seu desejo conservar a neutralidade e seu «principal cuidado procurar por todos os modos possíveis segurar a independência dos meus domínios e libertá-los completamente do cruel inimigo»; para o efeito «é indispensável conservar com o meu antigo e fiel aliado Sua Majestade Britânica não só a melhor inteligência, mas ainda mostrar-lhe do modo mais evidente que as minhas vistas não são diferentes das que o animou a favor da causa comum»; é preciso, por outro lado, que «Sua Majestade Britânica continue com a mesma eficácia a socorrer Portugal, e toda a Península»; e só deste modo se poderia «destruir radicalmente o vício das coligações, que é o crime entre as Potências que fazem causa comum, e conseguir o fim desejado de obter uma paz segura [20]». Deste documento deduz-se que para o governo do Príncipe Regente: a) a aliança inglesa, não obstante o seu preço político, era fundamental à defesa do reino; b) para que Portugal fosse independente era indispensável que o resto da Península – o documento nunca refere a Espanha – também não estivesse enfeudado a coligações ou integrações europeias; c) apenas a aliança com um poder marítimo poderia ajudar a salvaguardar os domínios; d) só com força militar poderia Portugal aspirar ao respeito da neutralidade; e) finalmente, a paz da Europa nunca poderia ser garantida por coligações, e portanto por integrações ou hegemonias, mas por um equilíbrio europeu que as não consentisse. Somente uma visão histórica e um conhecimento das realidades permanentes permitiriam aos seus autores redigir aquele documento [21], e descobrir quanto teria de ser efémera, embora na altura parecesse definitiva, a tempestade napoleónica que fazia estremecer o continente.
Não foi esmagado o exército da primeira invasão. Junot terá chegado a Lisboa com pouco mais de 10 000 homens; outros tantos teriam ficado dispersos pelo caminho, famintos, doentes, perdidos. Se Portugal houvesse feito algum esforço militar não teria sido inviável bater os franceses: verdadeiramente, rendemo-nos sem luta. Depois entraram também tropas espanholas, e guarneceram algumas cidades e vilas. Mas o objectivo francês era o Porto de Lisboa: este importava a Napoleão acima de tudo. E tinha motivos. Constituía grande porto de tráfego interoceânico: e conduzia com a Inglaterra um vultoso comércio de matérias-primas ultramarinas e mesmo metropolitanas. Destas, e do comércio marítimo, dependia já nessa altura cerca de quarenta e cinco por cento da população britânica: e os navios ingleses reabasteciam-se em Lisboa e noutros portos portugueses. E a situação de Portugal em nada se alterara: pois «era do Atlântico que recebia a prosperidade, a riqueza e a segurança, expressas no amplo comércio colonial que se movimentava nos seus portos; por aí tinha a garantia permanente de poder alcançar auxílio militar com que pudesse fazer face aos perigos da fronteira terrestre» [22]: e desta, e só desta, vinham as preocupações. E a visão de Junot, embora partindo de outro ângulo, era precisamente idêntica. Por isso, na proclamação aos portugueses, dirige os seus ataques à Inglaterra, de que nos vinha libertar, e à Espanha, que acusa de nos querer invadir e de fazer de Portugal uma das suas províncias. Não era portanto puramente estratégica e política a obsessão de Junot com Lisboa: era económica também. No entanto, se era vultoso o nosso comércio com a Inglaterra, também o era com a França: através de Lisboa esta recebia de além-mar muitas mercadorias para as suas manufacturas: e assim o encerramento do porto causou dano de consequência às indústrias francesas. Aliás, pelo que respeita à Inglaterra, nunca o bloqueio continental foi absolutamente eficaz: dispunha em terra, entre mercadores portugueses, de um vasto aparelho comercial estabelecido de longa data: e navios norte-americanos, que começavam a surgir no tráfego mundial, substituíram-se em muitos casos aos britânicos. De resto, e sob outro aspecto, Junot deslumbrara-se com Lisboa: não tinha visto cidade mais rica e os portugueses eram bons auxiliares. Napoleão, com sagacidade genial, de longe o avisava: «todo o povo que está na vossa frente é vosso inimigo».
1883.jpg) |
| Monumento aos Heróis da Guerra Peninsular, na Praça de Entrecampos em Lisboa, Portugal. |
Organizou Junot a ocupação: nomeou um Conselho de Governo; e substituiu pela francesa a bandeira portuguesa. Entretanto, e conforme ao Tratado de Fontainebleau, ia cuidando de dividir Portugal em três estados: o de Entre Douro e Minho, designado por Lusitânia Setentrional, seria atribuído à rainha da Etrúria; o do sul do Tejo, a que se daria o nome de Principado do Algarve, ficaria para Godoy, como paga a serventuário tão útil; e a Beira, Estremadura e Trás-os-Montes ficariam em mão do Imperador, que poderia acaso entregá-lo no futuro à Casa de Bragança. Tudo ia sendo conhecido do povo português; e à passividade inicial sucedia uma revolta colectiva surda. Em 1808 surge uma primeira insurreição popular. Mas as altas classes não pareciam participar desses sentimentos. O marquês de Alorna, figura grada da nobreza, aceita comandar a Legião Portuguesa ao serviço do Imperador, e bate-se na Rússia. Outros grandes vultos dobram-se ao pedido de Junot para irem a Baiona, em comissão, prestar vassalagem a Bonaparte: são bispos de Coimbra e do Algarve; são os marqueses de Marialva, de Valença, de Penalva, de Abrantes; são o conde de Sabugal, o visconde de Barbacena. Bonaparte recebe-os: depois manda-os internar: e em França ficaram até ao fim do Império. E em Lisboa, na recepção do Conselho do Governo, compareciam o alto clero, os representantes da nobreza, o alto funcionalismo. Destas manifestações, e das grandes paradas militares nas ruas, estava ausente o povo da capital.
Foi por fim de revolta aberta o estado de espírito colectivo. Iniciou-se no Norte: Manuel de Sepúlveda, com outros, foi alma da insurreição [23]. Espraia-se por outras cidades: e em Coimbra os estudantes organizam um corpo militar que prestou relevantes serviços. Em 1808 efectiva-se o auxílio inglês: Wellesley chega à Corunha; passa depois ao Porto, onde entra em contacto com o general Bernardim Freire; e desce por mar à Figueira da Foz. Conferencia com o almirante Cotton, que se mantinha em águas portuguesas. De Londres, Castlereagh aconselha prudência: as forças francesas eram ainda poderosas. Mas Wellesley resolve fazer a guerra: dirige-se às suas tropas para sublinhar que estão em país amigo; e ao povo anuncia haver chegado o momento de o libertar e de restaurar no governo o príncipe português legítimo. Iam começar as campanhas peninsulares.
Depois de aceitar a Convenção de Sintra, Junot abandonara Portugal. Em Espanha deflagra também a revolta: não fora frutuosa a entrevista do novo Rei Católico, Fernando VII, com Bonaparte [24]. Mas este, sem embargo da má fortuna que começava a cercar as suas armas, mantém-se disposto a submeter a Península: compreendia que sem o domínio desta não era possível destruir a Inglaterra. Trafalgar não poderia ser apagada de outra forma; nem de outra maneira manter em Espanha a sua dinastia imperial. E assim repete as invasões de Portugal: Soult em 1809, Massena em 1810. Mas eram já vultosas as forças aliadas: e as tropas portuguesas, agora treinadas e experimentadas, tornavam-se eficientes. Da campanha, por entre mil vicissitudes, ficaram na memória dos homens os encontros de Torres e do Buçaco: e em Abril de 1811, junto a Almeida, os franceses eram por fim batidos e expulsos [25]. O reino ficava livre de um pesadelo que, no plano político e no plano militar, se prolongara por uma década. Em homens e em fazenda, foram sem conta os danos: riqueza, propriedade pública e privada, valores artísticos, foram irremediavelmente destruídos: e do ponto de vista social e económico foi grave a convulsão, e profundo o sulco aberto na sociedade portuguesa. De novo havíamos cometido um erro: não nos apercebemos com um mínimo de preparação militar. Se fizermos uma crítica das decisões tomadas, conclui-se que era a política de neutralidade a que mais convinha aos interesses do reino: não tínhamos com efeito nenhum objectivo vital a defender no centro da Europa. Mas, apesar da luta do Príncipe Regente nesse sentido, não conseguimos fazer respeitar aquela neutralidade: não possuíamos sequer um simulacro de força: as classes dirigentes, divididas em partido francês e partido inglês, esqueceram-se de que havia um partido nacional simplesmente: e que este não poderia enfeudar-se à oscilação pendular dos interesses das grandes potências, nem tomar como suas ideias alheias, apresentadas como novas e definitivas mas em si mesmas efémeras, e destinadas a servir desígnios não portugueses. Para liquidar estes anos turbulentos, estivemos em Viena: pouco mais fomos do que espectadores: mas de nada beneficiámos.
 |
| Mapa da Europa após o Congresso de Viena (1815). |
Reuniu-se o Congresso de Viena desde 27 de Setembro de 1814. Todo o contencioso europeu ia ser debatido: o continente estava exangue: e o equilíbrio haveria de ser restabelecido por negociação e compromisso. Estava vencida a França, e contra os coligados na paz, como contra os coligados na guerra, o velho Talleyrand ia mostrar um último clarão da sua habilidade. Arvorou-se em paladino do princípio da legitimidade: a conquista, por si, não era fonte de soberania. Arauto do direito e da moral, Talleyrand procurou dividir os vencedores: negociava separadamente com um e outro: e concluiu com a Inglaterra um tratado secreto de aliança. Estava desfeita a coligação anti-francesa. Tratava-se agora de repetir Westfalia e Utrecht, jogando no aparecimento de novas forças ou no declínio de antigas: conseguir, em suma, um compromisso firmado nas realidades do poder. Desde Pedro, o Grande, que a Rússia acumulava energias: foi uma das triunfadoras de Viena: e obteve a Finlândia (que tomara aos suecos), a Bessarábia (que arrebatara aos turcos), e a maior parte do ducado de Varsóvia, sob a forma de reino polaco vassalo [26]. Depois, a Prússia: recebia a Posnânia, anexava a Pomerânia sueca, a Silésia, o Norte do Saxe, um grupo considerável de territórios no Reno (Westfalia, Grão-Ducado de Berge), uma parte da margem esquerda daquele rio (a Prússia renana). Por fim, a Áustria: estendia-se agora do Adriático à Itália, e incorporava as Províncias Ilírias, o Tirol, o Salzburgo, a Lombardia e a Venécia. Constituía-se o reino dos Países-Baixos, composto por Bélgica e Holanda; formava-se o Reino da Sardenha, englobando a Sabóia, Nice, Piemonte e a República de Génova; e na Europa nórdica a Noruega foi dada à Suécia e separada da Dinamarca que, como compensação, recebia os ducados de Holstein e Schleswig. Formava a Itália uma simples expressão geográfica, contendo sete estados distintos; e a Alemanha erigia-se numa Confederação Germânica, de trinta e nove estados. Mas uma outra grande beneficiada emergia de Viena: a Inglaterra. Apoderava-se de Malta e das ilhas Jónias: com Gibraltar, era o domínio do Mediterrâneo. Engrandecia-se com uma parte da Guiana francesa, Tobago, Trindade e Santa-Lucia. Incorporava Ceilão e a Colónia do Cabo. Arrancara à França a Bélgica. A Inglaterra afirmava-se como a maior potência marítima: e regulava sozinha os seus interesses. Era a abertura do destino imperial britânico.
Portugal esteve em Viena, e representaram-no o conde de Palmela, D. António Saldanha da Gama e D. Joaquim Lobo da Silveira. Eram limitados mas mais do que justos os objectivos portugueses: fixação das fronteiras da Guiana, nos termos que reclamávamos desde 1713; recuperação de Olivença; anulação do tratado anglo-luso de 1810; indemnização. Conseguimos o reconhecimento dos nossos direitos ao Norte do Amazonas, mas tivemos de ceder toda a Guiana; quanto a Olivença era admitido o nosso direito, e comprometiam-se as potências a empregar os seus bons ofícios para que nos fosse restituída; obtivemos a anulação do tratado anglo-luso de 1810, que nos tinha forçado a ceder à Grã-Bretanha os territórios de Bissau e Cacheu por cinquenta anos; e em matéria de indemnização foram-nos atribuídos dois milhões de francos dos setecentos que a França teve de liquidar. Apenas a Inglaterra foi impecável: pelos navios portugueses que apresara e pelos danos causados ao nosso comércio liquidou a soma exacta que os nossos plenipotenciários reclamavam. Os enviados portugueses houveram-se com extremos de habilidade, energia e inteligência das forças profundas em presença; mas o equilíbrio europeu, sanadas as suas querelas, deixa de atribuir a Portugal qualquer atenção que não seja periférica, salvo se estiverem em causa territórios de além-mar. Em Viena, fomos sub-aliados, e assim éramos oficialmente designados.
Compareceram no Congresso de Viena todas as grandes figuras da época. Castlereagh e depois Wellington representavam a Inglaterra. Estava o Tsar Alexadre em pessoa, acolitado de Nesselrode e Capo d’Istria; e Humboldt e Hardenberg, pela Prússia. E estava Metternich pela Áustria: palaciano, sumptuário, vaidoso, contente de si: mas também realista, cínico, já experimentado. Organizavam-se conselhos restritos: o dos quatro, depois o dos oito. Acabou o Congresso por ser orientado efectivamente pelo Conselho dos Cinco: eram os membros permanentes da época [27]. E lançavam-se as cerimónias e as festas galantes e preciosas: o mundanismo e a intelectualidade da Europa colaboravam nos luxuosos palácios de Viena: e Schöenbrun era o limite do esplendor. Conversava-se; fazia-se espírito; discutia-se alta política; intrigava-se; reconciliavam-se os adversários; e Beethoven dirigia pessoalmente a execução da Sétima Sinfonia. Mas o Congresso marcou uma época: reestruturou o continente em bases realistas e de bom senso; soube estabelecer o equilíbrio entre as forças em choque; Castlereagh esperava que aquele durasse pelo menos sete anos; mas, não obstante alguns sobressaltos, o que foi concertado em Viena iria subsistir por um século. Era o ano de 1815.
(In Franco Nogueira, As Crises e os Homens, Livraria
Civilização Editora, 2.ª edição, 2000, pp. 145-157).
[1] Carta do marquês de Louriçal para o reino.
[2] Texto completo em Ângelo
Pereira, D. João VI, Príncipe e Rei,
I, 32.
[3] Texto completo em Ângelo
Pereira, ob. cit., I, 37.
[4] Carta de A. J. Pegado a D. João de Mello e Castro, Setembro de
1800.
[5] Carta do marquês de Ponte de Lima para o príncipe regente.
[6] Texto em Ângelo Pereira, ob. cit., 81.
[7] Texto completo em Ângelo
Pereira, ob. cit., I, 85.
[8] Foi esta mesma Versão, entre
outras razões, que levou em 1939-1945 o general Franco a manter a neutralidade
espanhola, para evitar que tropas alemãs atravessassem a Espanha.
[9] História de Portugal, Barcelos, VI, 277.
[10] Porque Godoy mandou colher em
Elvas uns ramos de laranjeiras que enviou à rainha de Espanha.
[11] Entre outras, Olivença.
[12] História de Portugal, Barcelos, VI, 286.
[13] «Humilde parecer de D. Rodrigo de Sousa sobre comprar a neutralidade à
França».
[14] Parecer de D. Rodrigo de Sousa
Coutinho, 16 de Agosto de 1803.
[15] Este marquês de Alorna era irmão
da célebre D. Leonor de Almeida, marquesa de Alorna (Alcipe), sem dúvida uma
das mulheres notáveis do seu tempo. Como condessa Oeynhausen deixou-nos diários
do maior interesse para conhecimento da política e da sociedade da época. Além,
evidentemente, da sua obra literária.
[16] Carta do marquês de Alorna ao
príncipe, de 19 de Janeiro, 1804.
[17] Instruções de 8 de Outubro de
1807.
[18] Foi exactamente o mesmo rumor que espalharam os espanhóis partidários
da Alemanha, na guerra de 39-45, no intuito de levar Franco a quebrar a
neutralidade e ocupar Portugal para se antecipar aos ingleses.
[19] Na Guerra de 39-45, Oliveira Salazar consegue um Pacto de Não-Agressão
luso-espanhol, que assegurará a neutralidade da Península.
[20] Texto em «No IV Centenário da Fundação do Rio de Janeiro», pp. 704 e 705,
publicação da Fundação Calouste Gulbenkian, compilada por Luís de Matos, 1965.
A política externa definida naquele documento foi exactamente a que, século e
meio mais tarde, Oliveira Salazar praticou com êxito na guerra de 1939-1945.
[21] Este documento confirma a mesma
doutrina que já consta da carta régia expedida ao porto de Lisboa em Outubro de
1807, e onde se afirma: «Houve por bem
aceder à causa do continente, unindo-me a S.M. o Imperador dos Franceses... com
o fim de contribuir para a Paz Marítima». A ideia de que a paz nos oceanos
era vital à manutenção dos domínios, e às ligações e comércio entre estes e o
reino, aparece aqui como essencial. Ver texto em Jorge de Macedo, O Bloqueio Continental, economia e guerra
peninsular, p. 30. Foi rigorosamente aquela a posição do Governo português
na guerra de 39-1945.
[22] Jorge de Macedo, O Bloqueio Continental, Lisboa, 1962, p.
25.
[23] Como é natural, abundam na novelística
portuguesa obras inspiradas nas invasões francesas. Por má fortuna é pouco
conhecido mas é um dos mais belos o romance A
Paixão de Maria do Céu, de Carlos Malheiro Dias.
[24] Também não foi frutuosa a entrevista
do general Franco com Hitler, em Hendaia, durante a guerra europeia de
1939-1945.
[25] Sobre Wellesley, duque de
Wellington, e as campanhas da Península, é do maior interesse a obra de
Elizabeth Longford, Wellington, the Years
of the Sword, Londres, 1969. Embora apresentando o assunto de um ponto de vista
britânico, e tratando de aspectos subjectivos de Wellesley, é todavia livro
objectivo e bem documentado. Na campanha de 1811, recuperámos Olivença; mas Beresford
entregou a vila aos espanhóis.
[26] Compare-se o actual sistema de
satélites na Europa Oriental, obtido por Estaline.

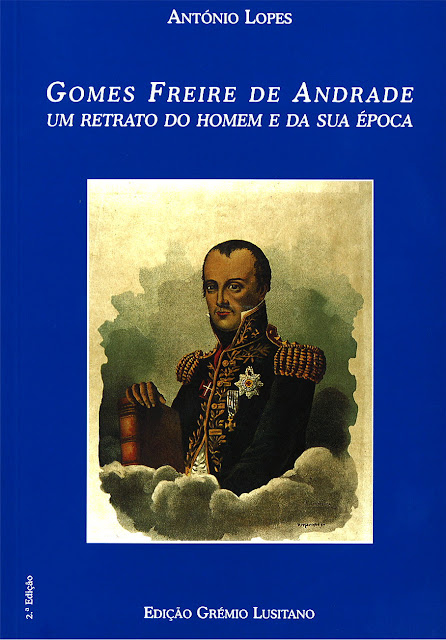





_at_the_age_of_4_-_(MeisterDrucke-1403061).jpg)


.png)
.jpg)

.jpg)

























Nenhum comentário:
Postar um comentário