Quanto ao ataque directo e ao plano de guerra da ONU contra Portugal uno, pluricontinental e multirracial
«Admitido Portugal nas Nações Unidas, o secretário-geral da organização, de harmonia com a prática desta, dirige ao governo de Lisboa uma nota perguntando se este administra algum território nos termos e para os efeitos do Art. 73.º da Carta da ONU (81). É inocente a nota, e singela no seu teor; e parece destituída de gravidade. Salazar estuda-a atentamente, e examina-a com Paulo Cunha; e é dada uma resposta negativa: nesta declara-se que Portugal não é responsável por qualquer território a que seja aplicável o Art. 73.º da Carta da ONU. Nada mais é dito, nem é recebida ou enviada outra correspondência. Nesta simples troca de notas, todavia, Salazar acaba de tomar uma decisão de profundo significado, das mais sérias implicações e extensas consequências. Que querem dizer a atitude de Salazar e a resposta do governo de Lisboa? Indicam às Nações Unidas que as províncias ultramarinas portuguesas não têm vocação para independência separada; sublinham que o governo português se arroga o exclusivo direito de interpretar e aplicar a sua ordem constitucional, e que neste domínio não admite interferências alheias; afirmam que Portugal não submeterá a sua administração ultramarina a qualquer sistema de censura internacional, e que portanto não transmitirá quaisquer informações à comunidade dos países; e finalmente notificam as Nações Unidas de que, se se respeita a letra do Art. 73.º, é repudiada a prática política e processual que à sombra deste a ONU fora estabelecendo gradualmente. Deste modo, Salazar assume uma posição, coerente no plano interno, que desafia a corrente política mundial. Na efectividade das coisas, executa os preceitos constitucionais sobre a unidade da nação, e leva às últimas ilações o conceito territorial, político e sociológico de um ultramar que é Portugal no seu perfil histórico. Dissera-o no discurso de 30 de Maio: os territórios portugueses não têm sequer que se tornar autónomos porque já são independentes com a independência da nação. E no plano internacional, por uma nota de algumas linhas, Salazar rompe as coordenadas em que se está movendo a comunidade de nações; proclama a sua rebeldia perante o anticolonialismo em moda; e afirma que os interesses da nação portuguesa são prioritários, não oscilam ao sabor de decisões de terceiros, e são oponíveis a tudo e a todos.
Enovelada no jogo da política interna, a alta-roda dos homens da situação e mesmo dos oposicionistas não se apercebe da magnitude da decisão de Salazar; e fica alheia a massa da opinião pública. Não é essa, no entanto, a atitude da ONU. Não está em funcionamento a Assembleia Geral, nem as respectivas comissões; mas as delegações permanentes dos países membros, em Nova Iorque, compreendem desde logo todo o alcance da resposta de Lisboa. Ficam perplexos os delegados das nações ocidentais: estas tinham aceite quase passivamente as imposições da Assembleia Geral, que as impelia no caminho do abandono das suas posições fora da Europa: de súbito são surpreendidas com a atitude de um governo do Ocidente que diz não à Assembleia e recusa a prática desta: e ficam embaraçadas entre o receio que sentem da ONU e a atitude de um amigo e aliado. Ficam desnorteados os representantes afro-asiáticos, e possuídos de exaltação emotiva: toda a orientação anticolonial, tenaz e pacientemente executada nos últimos anos, seria posta em causa, e poderia ser destruída, se a atitude portuguesa fosse acatada pela Assembleia: porque nessa hipótese era inevitável que os demais países ocidentais arrepiassem caminho e deixassem de se submeter aos ditames da maioria da ONU: e seria o colapso de toda a política de cerco ao Ocidente. Por estes mesmos motivos, os delegados soviéticos e de países satélites vêem o perigo da posição assumida por Portugal, e no sentido da sua impugnação trabalham intensamente junto dos representantes afro-asiáticos. E num outro dilema se encontram os delegados dos países latino-americanos: assimilando a origem das suas independências a uma sublevação anticolonialista (82), e desejando por interesse assumir uma atitude reivindicativa quanto aos Estados Unidos, sentem-se seduzidos pelas teses dos afro-asiáticos, cujo apoio pretendem conquistar para objectivos puramente latino-americanos; mas pelas raízes e afinidades nutrem pelo Ocidente Europeu, e em particular por Portugal e Espanha, uma simpatia e uma solidariedade que lhes torna constrangedora uma atitude hostil; e perante a resposta de Lisboa vêem-se embaraçados, e divididos.
Para além destes aspectos, a entrada de Portugal nas Nações Unidas tem outra consequência imediata: se não se modifica a substância da política externa portuguesa, é alterado o seu estilo. Gradualmente, aos entendimentos bilaterais, às negociações no segredo dos gabinetes, à discrição nas conversas, vem acrescentar-se uma diplomacia de praça pública, de decisões rápidas, de ambientes indiscretos, de publicidade de atitudes, de tomadas de posição que, não obstante respeitarem a problemas alheios, se reflectem todavia nos interesses portugueses. Dispondo de posições mundiais, da Europa à Ásia, e tendo deixado a Europa de constituir centro exclusivo do poder, o governo de Lisboa fica envolvido nos conflitos de forças e choques de interesses que se produzem pelo vasto mundo, e em que os participantes definem a amizade ou a hostilidade de terceiros pela posição que estes assumirem na luta que os opõe. Do facto resultam pressões sobre Lisboa; mas também resultam possibilidades de, em troca da satisfação de pedidos alheios, obter contrapartidas em favor de desejos portugueses. Disperso por um mundo em tensão e luta, Portugal é vulnerável; mas, ao mesmo tempo, o seu papel adquire relevo porque a sua voz conta em muitos planos.
No conjunto, a entrada de Portugal na ONU confirma o cepticismo e apreensão de Salazar. Não acredita na eficácia da organização, nem na genuinidade dos seus propósitos. Sob uma capa legal, o objectivo é político, e político é o seu comportamento. Reflecte o peso das forças em presença, e destas é um instrumento, que utilizam consoante os desígnios próprios; e o preço há-de ser suportado pelos mais fracos, porque os mais fortes, se impõem as decisões, não pagam os custos materiais e políticos da sua execução. De momento, contudo, o organismo de Nova Iorque desfruta nos espíritos ingénuos de uma aura generalizada: é o governo mundial, o símbolo dos direitos humanos, a garantia da paz e a prosperidade para sempre e em toda a parte, o sacrário dos grandes princípios e dos grandes ideais, o altar onde ajoelham interesses egoístas e ambições de Estados e governos: e as suas decisões, havidas por sagradas, devem ser cumpridas com escrúpulo religioso. Mas para além do instante que passa, Salazar procura esquadrinhar o futuro. Não acreditando que o mundo caminhe para a unidade política e se transforme numa federação universal, e não correspondendo a ONU à estrutura natural da comunidade de nações, o chefe do governo português pensa que o organismo de Nova Iorque é efémero, e que tem um poder apenas mítico, enquanto lho for consentido pelas grandes potências; e está destinado a ir de crise em crise até à decadência. Dentro de vinte ou trinta anos, tudo será diferente. Deste modo, como obedecer a decisões que, emanadas de um organismo de força provisória, afectariam interesses portugueses a título permanente? Como e por que sacrificar esses interesses a umas Nações Unidas que não representam ideais ou princípios estáveis e duradouros, que devam condicionar as perspectivas históricas de um país, mas traduzem a manifestação de ambições e interesses alheios num momento transitório? Por outro lado, as necessidades reais dos países, e da sua colaboração, hão-de impor organizações regionais - o Pacto do Atlântico, a Organização Económica de Cooperação Europeia, outras ainda - como base suficiente para salvaguarda dos interesses legítimos. E nessas e na vontade nacional confia Salazar para se eximir às injunções da ONU. Por isso, a esta dá uma resposta que é um desafio: em matéria de ultramar, Portugal não possui territórios dependentes ou não-autónomos: estes são independentes com a independência da nação: e do que faz, ou não faz, contas nenhumas tem a prestar em Nova Iorque. (...)
Somente em Janeiro de 1957 aborda a Quarta Comissão o problema dos territórios não autónomos. Como previsto, contra a posição portuguesa é lançado o ataque, e é a delegação do Iraque que o desencadeia, logo apoiada pelos blocos afro-asiático e soviético. Afirmam que todas as disposições da Carta são obrigatórias para os Estados membros; e Portugal, que acaba de ingressar na organização, não se pode eximir ao mesmo dever. Ora o art. 73.º impõe aos Estados membros a prestação de informações sobre a forma como administram os territórios não-autónomos sob sua responsabilidade; e Portugal, recusando-se, está a infringir a Carta. E a verdade é que, segundo é geralmente admitido, Portugal possui “colónias”. Não está em causa a legitimidade da soberania portuguesa nesses territórios, nem tão-pouco se impugna a unidade da nação portuguesa, nos termos da sua constituição, que não se pretende discutir. Mas é a própria lei portuguesa que reconhece existir, sob o nome de “indigenato”, uma vasta camada de população que não goza de direitos de cidadania, como se verifica em Angola, Moçambique e Guiné. Desta forma, Portugal tem o dever de prestar à Assembleia, acerca da maneira como administra tais populações, os devidos esclarecimentos, e de os submeter à censura internacional. Perante estas dúvidas, compete à Assembleia examinar criticamente a resposta portuguesa, e para o efeito há que designar uma comissão especial.
Como a Quarta Comissão se mantém aparentemente dentro da legalidade, a delegação portuguesa reage no mesmo espírito. Com efeito, todas as disposições da Carta são obrigatórias, e Portugal não tem intenção de se lhes eximir. Mas o artigo 73.º está subordinado a um título que a Carta descreve como “declaração sobre territórios não-autónomos”. Trata-se, por conseguinte, de uma “declaração” a fazer pelos Estados membros, na plenitude da sua soberania e segundo os seus preceitos constitucionais. Portugal assumiu portanto, e apenas, o dever de fazer essa declaração, e isso cumpriu. No passado, nunca a Assembleia examinara ou discutira qualquer declaração feita pelos Estados membros, e muito menos a impugnara, cingindo-se a “tomar nota”; e iniciar agora um novo procedimento, além de constituir uma violação da própria Carta, representa por parte da Assembleia uma medida discriminatória, que Portugal rejeita. Para mais, sendo reconhecida, como era, a unidade da nação portuguesa, esta não poderia conter uns territórios com um estatuto internacional e outros com estatuto diferente; não o admitia tão-pouco a constituição portuguesa; e a interpretação e aplicação desta, sob pena de poderem ser discutidas as constituições de todos os Estados membros, eram matérias da exclusiva competência de Portugal. De outro modo, estaria a ser infringido o n.º 1 do artigo 2.º da Carta, que estabelece a igualdade de todos os Estados membros, e o n.º 7 do mesmo artigo, que proíbe qualquer interferência da ONU nos assuntos internos daqueles. Finalmente, o próprio artigo 73.º afirmava que quaisquer informes dados à Assembleia estavam sujeitos às limitações constitucionais que os Estados membros entendessem de aplicar. E Portugal não se prestava a entregar a outros ou à ONU a avaliação da amplitude dessas limitações, de que o governo de Lisboa era juiz único.
 |
| Basílica do Bom Jesus (Goa). |
 |
Placa da consagração da Basílica
|
 |
Parte interna do anexo
|
Em Lisboa, a imprensa dá relevo considerável aos debates e a opinião pública acompanha-os com fervor. No ultramar, sobretudo em Angola e Moçambique, é profunda a emoção; e multiplicam-se as manifestações de protesto, os telegramas de desagravo, os actos de adesão à atitude do governo perante a ONU. E Raul Ventura, comentando os acontecimentos ao dar posse ao novo governador de Macau, afirma: “Portugal não tem territórios não-autónomos porque as províncias ultramarinas administram-se por si próprias, tanto como as metropolitanas.”» (83)
E mais adiante, diz-nos ainda Franco Nogueira o que mais importa sobre o internacionalismo invasor particularmente veiculado pela ONU, e, nessa medida, visando a completa destruição do Ocidente radicado na soberania e na independência das nações:
«No contexto das Nações Unidas, na lógica política da contracção europeia, definha a força ocidental; com esta, e para surpresa de Washington, sofre uma erosão a influência dos Estados Unidos, que encontram dificuldade crescente em manipular a ONU; e produz-se um esforço dos blocos afro-asiático e soviético. Muitos vêem nos factos a eficácia da Organização de Nova Iorque. Salazar vê nos factos a alteração do equilíbrio de poderes no mundo, que a ONU reflecte. E quando a União Soviética faz explodir a sua bomba de hidrogénio, num avanço tecnológico que frisa com o dos Estados Unidos, não se modifica por essa circunstância, de súbito, a posição: mas agrava-se, em desfavor do Ocidente, o desequilíbrio psicológico e político. E acentua-se a tendência para levantar no seio da ONU problemas de raiz nacional: a educação, a política económica, a política comercial, os direitos humanos; passa-se ao debate sobre o acesso aos mercados, à distribuição de matérias-primas e seus preços; e discutem-se conflitos internos, problemas de soberania, questões bilaterais. De tudo, são de confirmar as conclusões já tiradas: o anticolonialismo tem por alvo o Ocidente; atacada, a Europa concentra-se sobre si própria; nessa contracção, tem tendência para acreditar na supranacionalidade como defesa; os problemas nacionais são internacionalizados, com enfraquecimento das soberanias; e essa internacionalização, estimulada e explorada pelos novos impérios, conduz a um intervencionismo mundial praticado pelas forças em conflito. Perante esta sociedade que desponta, cabe a pergunta: é definitiva ou efémera? Está-se à beira de uma nova época e de uma nova arrumação da humanidade? Ou enfrenta-se uma vicissitude mais ou menos longa mas passageira? Num caso e noutro, há que tomar decisões diferentes, e todas são vitais para o futuro. Que fazer de Goa, que tanto significa na história de Portugal? E de Timor, que tantos esforços consumiu durante a guerra? E de Macau, uma joia de família? E de África, de tão grande valor e importância? Salazar desabafa com homens de confiança: "Estou na ponte de comando mas em torno só vejo nevoeiro cerrado."» (84)
 |
| Ver aqui |
 |
Brasão de Armas do Timor Português (1935-1975).
|
Portanto, quando Oliveira Salazar declara à Organização das Nações Unidas que Portugal não era decerto responsável por qualquer território que pudesse cair sob a alçada do artigo 73.º da Carta da ONU, tinha, indubitavelmente, inteira razão na medida em que, com base num tal artigo, a Assembleia Geral não podia simplesmente dispor de qualquer competência, fosse ela qual fosse, para declarar não autónomos territórios de qualquer potência (88), até mesmo porque tudo o que se já encontrava disposto num tal artigo estava efectivamente sujeito às limitações que possam ser impostas por razões de segurança ou considerações de ordem constitucional (89). Logo, se em termos constitucionais o capítulo XI da Carta da ONU se não podia, em matéria de facto e de direito, aplicar ao Estado português por ser este um Estado unitário fundamentalmente firmado no princípio da unidade nacional (90), isso já de si entroncava precisamente no perfil histórico de uma Nação que, na inteligente e correcta leitura de Oliveira Salazar, só podia inclusivamente traduzir-se naquela que seria, para todos os efeitos, a mais fiel, fidedigna e patriótica interpretação jurídico-política, a saber: os territórios portugueses não carecem, ao fim e ao cabo, de se tornar autónomos porque já são independentes com a independência da nação (91).
Não poucos têm sido, entretanto, os supostos analistas que, destituídos do mais elementar senso patriótico, apenas chegaram a ver nesta crucial questão uma espécie de litígio entre Portugal e a ONU. Ora, nós próprios, ao invés, sabemos perfeitamente que ela se traduzira, antes de mais e, sobretudo, num ataque deliberadamente urdido contra a presença multissecular portuguesa alicerçada nos mais próximos ou distantes territórios afro-asiáticos de além-mar. Neste contexto, surgira inclusivamente o Relatório dos Seis, aprovado a 15 de Dezembro de 1960, sob a forma de resolução 1541 (XV), como anexo à resolução 1514 (XV), ou seja, à Declaração Anticolonialista, aprovada no dia anterior. Por isso, convém desde logo saber que é também neste relatório que se precisa, de uma forma processual ilegítima e arbitrária, o sentido de obrigação de informações prevista no artigo 73.°, alínea e), da Carta da ONU, passando então a valer o seu carácter vinculativo e não declarativo, jamais consignado naquela Carta, carácter esse, aliás, abusivamente justificado numa alegada obrigação na prestação de informações enquanto responsabilidade internacional a ser simplesmente cumprida em vista do acatamento da lei internacional, sem mais.
Nisto, um premeditado e perpetrado ataque não pode, pois, oferecer qualquer espécie de dúvida por ter sido o mesmo cabalmente desenrolado à sombra de uma suposta “lei internacional” em detrimento das «razões constitucionais e de segurança» já prévia e originalmente dispostas na Carta da ONU. Ainda na esteira do carácter ilegítimo e arbitral da prática processual prosseguida no seio das Nações Unidas, ressaltaria o respectivo sistema de tutela internacional (92), previsto nos capítulos XII e XIII da Carta da ONU, no âmbito do qual surgiriam, aliás, numerosas resoluções complementares da Assembleia Geral, e por entre as quais destacar-se-ia, ora bem, a Declaração sobre a Outorga de Independência aos Países e Povos Coloniais (Resolução 1514 de 14 de Dezembro de 1960). Ora, esta resolução, assente na afirmação do direito à autodeterminação como um “direito humano de terceira geração”, pretendia, de uma forma assaz clara e inequívoca, colocar sob a autoridade da ONU a administração e a supervisão de territórios pertencentes a potências coloniais que assim, sob permanente pressão, passariam, a curto e a médio prazo, a submeter-se a instrumentos de intervenção activa por parte de uma organização em manifesta expansão mundialista.
Portugal é, por consequência, um alvo a ter especialmente em conta, e, se preciso, a liquidar por todos o meios possíveis, ilegítimos e inimagináveis. Entre estes meios, destaca-se igualmente um plano de guerra por parte da ONU contra Portugal, consoante nos deixa entrever Franco Nogueira:
«Nesta atmosfera de tensão, na intolerância da Assembleia Geral da ONU, no ambiente de ódio vesgo e de violência dos debates, reabre-se em Nova Iorque o ataque à posição do governo de Lisboa quanto ao Ultramar. Aprovada na Assembleia anterior a constituição do Comité de Seis para elaborar o estatuto de territórios não-autónomos, as delegações apreciam agora o relatório preparado por aquele Comité, e que recomenda à ONU um novo conjunto de princípios. Em súmula, estes preceituam: o capítulo XI da Carta e seu artigo 73 (93) aplicam-se a territórios de tipo colonial, e encerram uma obrigação internacional, vinculativa para todos os Estados membros; em tese, é território colonial o que estiver geograficamente separado do país que o administra, e for diferente deste no plano étnico e cultural; factores de natureza administrativa, política, jurídica, económica e histórica podem conformar a presunção de que se está perante uma colónia quando o território em causa estiver arbitrariamente numa posição de subordinação; e um território não-autónomo pode autodeterminar-se por transformação em Estado independente e soberano, por associação livre com um Estado independente, ou por integração num Estado independente, entendendo-se que uma e outra são feitas em pé de igualdade, de harmonia com os desejos explícitos do povo respectivo e através de um processo democrático que pode ser fiscalizado pelas Nações Unidas. Em qualquer caso, e quanto a todos os territórios, há a obrigação, para os países que os administram, de prestar informações à ONU e submeter-se à censura internacional. Sobre este ponto se produz um novo choque de Portugal com a Assembleia. Portugal sempre negara o direito de a ONU exigir quaisquer informações sobre a forma por que era administrado o Ultramar, e afirma que este não possui vocação para independência, nos termos impostos pela ONU, porque já era independente com a independência da nação (94). E como no plano dos factos a ONU não está disposta a reconhecer para Portugal qualquer construção jurídica ou política que não se baseie no separatismo, Lisboa rejeita o relatório dos seis e seus princípios. São aprovados por larga maioria os documentos, todavia, com o voto contrário de Portugal (95). Mas estes textos, importantes como são no ponto de vista das Nações Unidas, não bastam ao ataque directo a Portugal. Torna-se indispensável um instrumento de ordem global: este é apresentado como uma Declaração sobre a Concessão de Independência aos Países e Povos Coloniais. Pertence a iniciativa à União Soviética, que se empenha a fundo na sua aprovação. São proclamados os altos e nobres ideais: os valores da Carta da ONU; os direitos básicos; a dignidade do homem; a igualdade de direitos de todos e entre nações; o progresso na mais ampla liberdade; o respeito pela raça, sexo, língua e religião de cada um, sem discriminações. Neste quadro, fazem-se duas promessas solenes: o termo rápido e incondicional do colonialismo sob todas as suas formas; o termo de qualquer intervenção armada ou repressiva contra os povos dependentes, ou contra a integridade territorial de um país, que são havidas em todos os casos como violação da Carta da ONU. E esta moção é proposta à Assembleia no meio da maior truculência: pelo bloco soviético e pelo bloco afro-asiático são brandidas a esmo contra o Ocidente as acusações de rotina e mil outras. Portugal não é poupado e, apesar do carácter abstracto que se pretende atribuir ao debate, constitui um dos alvos mais visados, e apetecíveis, por mais fácil. Sem embargo de tudo, a moção russa é aprovada por unanimidade: ninguém desejava, votando contra, dar a sensação de que era colonialista (96). E Portugal também não votou contra: se se afirmava anti-colonialista, e não possuidor de territórios não-autónomos, que objecções poderia suscitar a condenação do colonialismo? Mas ao aprovar estas duas resoluções – a que define territórios não-autónomos e a que condena o colonialismo sob qualquer forma – a Assembleia não se munira ainda das armas necessárias para um ataque especifico a Portugal. E por isso sente a necessidade de acrescentar àquelas duas resoluções uma outra: a que afirme a aplicabilidade a Portugal de quanto a Assembleia acaba de legislar. E com efeito, com base nos dois textos, afirma-se num terceiro texto que Portugal possui territórios não-autónomos, que se discriminam: “Arquipélago de Cabo Verde; Guiné, chamada Guiné Portuguesa; São Tomé e Príncipe e suas dependências; São João Baptista de Ajudá; Angola, incluindo o enclave de Cabinda; Moçambique; Goa e dependências, chamadas Estado da Índia; Timor e dependências” (97). Nesta resolução, que directamente visa Portugal ainda que pareça cumprimento inocente dos anteriores, há no entanto dois pontos que excedem os textos votados e contêm as mais graves implicações: declara-se que negar a auto-determinação, tal como definida pela ONU, “constitui uma ameaça ao bem-estar da humanidade e à paz internacional” e que as informações sobre a situação nos territórios portugueses, chegadas por outras vias à ONU, são motivo de “preocupação”. Fica assim claramente definido o contorno de um plano de guerra: Portugal detém territórios não-autónomos; a Portugal incumbe a obrigação de se submeter à censura da ONU quanto à administração de tais territórios, que se destinam à independência; se Portugal repudiar esta nova ordem legal estará, por esse próprio facto, a transformar-se numa ameaça à paz internacional, e às Nações Unidas cumprirá assim evitá-lo porque, além de zeladoras dos direitos humanos, têm o dever de ser também zeladoras da paz e da segurança mundiais. E este texto é aprovado, com o voto contrário de Portugal, por esmagadora maioria (98).
Nos debates, a ONU ultrapassa-se em violência. Portugal é alvo principal, e acaso único. Durante semanas, uma delegação após outra lançam aos portugueses e seu governo as acusações mais brutais, as ameaças mais temerosas. Racismo, colonialismo económico, opressão, massacre de populações, genocídio como objectivo político, seriam os traços fundamentais de uma orientação deliberada de Portugal no Ultramar; a miséria, o atraso medieval, a doença, a fome – não há um médico, uma escola, uma estrada – são apontados como formando o quadro de uma situação que Portugal mantém pelo simples gozo de a manter; e tudo isto requer medidas drásticas a impor pelas nações. Portugal surge e é apresentado como réu de crimes contra a humanidade: e à humanidade cumpre punir Portugal, e com dureza.» (99)
 |
O Bazar de Lourenço Marques (Moçambique).
|
 |
Baixa de Lourenço Marques em 1928
|
 |
Vista aérea da Baixa de Lourenço Marques (anos 1950).
|
 |
| A Avenida da República na Baixa de Lourenço Marques, meados do decénio de 1950, com as decorações de Natal. |
 |
A antiga Estação de Bombeiros de Lourenço Marques, na esquina das Avenidas da República e Augusto Castilho (1965).
|
 |
| Na Avenida da República em Lourenço Marques (1967). |
 |
| O Hotel Turismo na Baixa de Lourenço Marques (1970). |
 |
 |
| Auditório do Rádio Clube de Moçambique |
 |
| O Coro Feminino do Rádio Clube com uma das orquestras do Rádio Clube, nas instalações da sua sede (1950). |
 |
Vila Cabral (Moçambique, 1965).
|
 |
| Ver aqui |
 |
Ilha dos Pássaros (anos 1960)
|
 |
Barragem de Cambambe (anos 1960)
|
 |
| Nova Lisboa (anos 1960) |
 |
Salinas sal (Lobito, anos 1930)
|
 |
Lobito (anos 1960)
|
 |
| Lobito (anos 1960) |
 |
| Huambo ("Piscina do Ferrovia", anos 1960) |
 |
Praia de Samba (Luanda, anos 1960)
|
 |
| Praia do Mussulo (anos 1960) |
 |
| Ilha de Luanda (anos 1960) |
 |
Luanda (anos 1960)
|
 |
Sá da Bandeira (anos 1960)
|
 |
Rio Cuanza (anos 1960).
|
 |
Banco de Angola e BCA
|
Um tal quadro, evidentemente falso, é, aliás, o que suscitará no âmbito da pseudo-historiografia do pós-25 de Abril de 1974, a duplamente distorcida e explorada projecção do Império português em termos de puro colonialismo. Ou seja: segundo essa pseudo-historiografia dominante, a ideia de Nação indivisível do “Minho a Timor” não passava essencialmente de uma estratégia que, por um lado, tinha por objectivo furtar-se ao poderoso movimento anticolonialista criado na sequência da Segunda Guerra Mundial, e, por outro, encobrir, na forma jurídica constitucionalmente consagrada, a natureza essencial das relações e vínculos puramente colonialistas da Metrópole face aos povos dos territórios colonizados. Porém, uma tal caracterização particularmente minorativa representa tão-só uma calculada tentativa para, por sua vez, encobrir, ou não deixar que venha ao de cima, a situação histórica muito diversa de Portugal perante os Estados coloniais europeus, como, de resto, Oliveira Salazar pudera devidamente assinalar em momento deveras oportuno:
«Nós somos uma velha Nação que vive agarrada às suas tradições, e por isso se dispõe a custear com pesados sacrifícios a herança que do passado lhe ficou. Mas acha isso natural. Acha que lhe cabe o dever de civilizar outros povos e para civilizar pagar com o suor do rosto o trabalho da colonização. Se fosse possível meter alguma ordem na actual confusão da oratória política internacional, talvez se pudesse, à luz destes exemplos, distinguir melhor a colonização do colonialismo – a missão humana e a empresa de desenvolvimento económico que, se dá, dá, e se não dá, se larga. Muitos terão dificuldade em compreender isto, porque, referidas as coisas a operações de deve e haver, motivos havia para delinear noutras bases a política nacional.» (100)
Quer isto, pois, dizer que, independentemente da coexistência de diferentes grupos étnicos e civilizacionais que Portugal administrava em África ou na Ásia, ou mesmo independentemente dos territórios ultramarinos serem denominados colónias ou províncias ultramarinas, ou ainda mesmo independentemente da adopção num passado histórico de práticas políticas e administrativas mais ou menos descentralizadoras, o que estava realmente em causa era, antes pelo contrário, a natureza e a solidez dos laços que fazem das várias parcelas o Todo nacional (101), posto que entendido este nos termos de uma estrutura constitucional que já de si justamente reflectia uma comunidade ou uma realidade indubitável de sentimentos historicamente expressivos da unidade da Nação Portuguesa. Daí, uma vez mais, nas ponderadas e equilibradas palavras de Oliveira Salazar:
«A surpresa ante o ressentimento do povo português e a reacção que por toda a parte se verificou contra as atitudes e resoluções da ONU, levam-me a crer que os Estados Unidos, cuja política tem sido sempre connosco de inteira compreensão e amizade, se encontraram diante de uma realidade diversa da que tinham pressuposto. Houve manifestamente grave equívoco em considerar o Ultramar português como território de pura expressão colonial; equívoco em pensar que a nossa Constituição Política podia integrar territórios dispersos sem a existência de uma comunidade de sentimentos suficientemente expressiva da unidade da Nação; equívoco em convencer-se de que Angola, por exemplo, se manteria operosa e calma, sem polícia, sem tropa europeia e com a força de 5.000 africanos, comandados e enquadrados por dois mil e poucos brancos, se a convivência pacífica na amizade e no trabalho não fosse a maior realidade do território. E, havendo boa fé, todo o equívoco havia de desfazer-se em face da atitude de homens brancos e de cor que, vítimas de um terrorismo indiscriminado, clamam que não abandonarão a sua terra e que a sua terra é Portugal.
Alguns dos oradores da ONU, sem bem cuidarem dos termos da Carta, deram a entender não desejar outra coisa senão que as populações exprimam claramente a sua opção por Portugal, embora esta esteja feita desde recuados tempos, e constitucionalmente admitida e consolidada. Isso se chama a autodeterminação, princípio genial de caos político nas sociedades humanas. Pois nem assim quero fugir ao exame do problema, e em vez de embrenhar-me em divagações teóricas, restringir-me-ei ao exame prático do caso português...» (102)
E aqui voltamos novamente ao cerne da questão, até porque, mesmo abstraindo do regime que à época era o do Estado Novo, Portugal encontrava-se, infelizmente, sob a mira de uma nova ordem internacional, que, aparentemente democrática e anti-imperialista, jamais estaria disposta a permitir, em nome do Direito Internacional, eventuais formas de integração pluricontinental e pluriétnica que assim pusessem em causa os princípios geopolíticos estabelecidos em Yalta e Bandung, e, nessa medida, assaz perfilhados por Washington e Moscovo. Daí a negação, pura e simples, dos direitos históricos de Portugal, como, por exemplo, no que toca à individualidade de Goa e dos territórios portugueses no Industão, individualidade essa que já existia desde o século XVI, numa altura em que os Estados Unidos nem sequer existiam, quanto mais a União Indiana que só viria finalmente à baila aquando do fim do Império britânico, em 1947. E, assim sendo, não tinha, nem de perto nem de longe, qualquer legitimidade para reclamar e muito menos invadir o Estado Português da Índia.
 |
| Estátua de Afonso de Albuquerque, na Praça do Império. |
 |
Deste modo, assim se impunha um novo mundo regido por ferozes egoísmos, interesses e discursos ideológicos que, em última instância, ora podiam constituir toda uma gama de mecanismos ou instrumentos habilmente usados pelos Estados para condicionar e colonizar forças, governos e partidos os mais diversos, ora pressionar uma opinião pública internacional a ir ao encontro do falso humanitarismo da ONU, como, aliás, nessa ordem de pura e dura percepção, assim nos habituara a ver o nacionalismo realista de um Franco Nogueira. Curiosamente, e por contraste, uma outra versão, mais universalista ou multiculturalista, surgiria, enfim, no seguimento da linha reformista político-administrativa e económica de um Adriano Moreira (103), também apostada na iludida visão da unidade ultramarinista com uma Europa já em passo relativamente acelerado para um super-estado euro-mundialista. Restava, porém, uma terceira via entre a versão realista de Franco Nogueira e a versão tendencialmente globalista de Adriano Moreira (104), que seria a de Oliveira Salazar na base de uma percepção genialmente pragmática apostada não só na defesa intransigente da nação compósita portuguesa euro-africana e euro-asiática, como também mediante a conjugação dos interesses vitais das posições portuguesas com a defesa inteligente, embora geralmente incompreendida, do Ocidente enquanto produto maior da civilização europeia cristã.
É hoje particularmente sabido que o plano de guerra urdido pela ONU contra o Portugal Ultramarino, não se limitou apenas a um litígio de ordem político-diplomática na sequência do artigo 73º da Carta das Nações Unidas. Efectivamente, um tal plano fora essencialmente constituído como parte integrante de uma estratégia global delineada em Nova Iorque pela Organização das Nações Unidas, no âmbito do qual se dera igualmente luz verde, com o devido conhecimento e auxílio de Washington, para o ataque terrorista da UPA às populações do Norte de Angola, nomeadamente a 15 de Março de 1961 (105). Vejamos, pois, a este propósito o que, embora em linhas gerais, importa reter:
«A partir do Congo e no interior de Angola organizou-se a revolta. Não restam dúvidas sobre o papel aglutinador da UPA e o trabalho de campo dos seus membros, confirmado por Holden Roberto (106). Durante uma visita a Túnis, Holden Roberto disse ao seu amigo e mentor Frantz Fanon: “Preste muita atenção a 15 de Março, o dia do debate nas Nações Unidas; coisas muito importantes vão acontecer nesse dia em Angola.” (107) Em 10 de Março, por exemplo, um jovem quadro da UPA, Manuel Bernardo Pedro, incitou uma multidão de 3000 negros, reunidos numa mata perto de Nova Caipemba. As suas instruções foram específicas: destruir plantações, casas, pontes, aeródromos, quebrar enfim o sistema vital dos brancos (108). Este apelo à razia pura e simples decorria da perspectiva tribalista dos seguidores de Holden Roberto. Um investigador da história angolana observou: “a UPA não tinha em 1961 uma estratégia nacional, mas uma estratégia meramente tribal para os povos Bakongo e Dembos.” (109) No dia 15 de Março, Holden Roberto estava em Nova Iorque, a pretexto da sessão do Conselho de Segurança (110). Reclamou para a UPA, em conferência de imprensa, a direcção de 40 000 quadros e mais de 500 000 simpatizantes dentro de Angola.
Na madrugada de 15 de Março, como se esperava em Washington, Bona, Lisboa e outras capitais, o Norte de Angola foi avassalado por uma onda de brutalidade. Grupos negros bakongos, empunhando catanas e canhangulos, armas rudimentares de fabrico nativo, lançaram um ataque generalizado às fazendas e povoações na zona de fronteira com o Congo, na Baixa do Cassange, até às cercanias de Carmona. A violência tribal disseminou-se indiscriminadamente, não poupando crianças e mulheres brancas, pelas plantações de café isoladas, as vias de transporte e os postos de abastecimento. Um escritor famoso calculou que 300 europeus foram assassinados na área de Nambuangongo, outros tantos na região de Dange-Quixete, e 200 mais a norte do distrito do Congo (111). Nos dias seguintes prolongaram-se os actos de fúria radical previstos pela UPA. Richard Beeston, do Daily Telegraph, o único repórter que viajou pelas áreas da violência depois de 15 de Março, contou a David Newsom, primeiro-secretário da embaixada americana em Londres: “Durante uma acção aparentemente organizada, que começou em 15 de Março, 800 portugueses entre uma população total de 10 000 foram massacrados durante três dias” (112). Os ataques tinham um objectivo desertificador: a eliminação dos fundamentos materiais da comunidade branca.» (113)
Entretanto, em resposta ao silêncio particularmente cúmplice das Nações Unidas perante os crimes de guerra e genocídio praticados no Norte de Angola por parte dos terroristas da UPA, bem como ante as acusações ofensivas daquela organização pela defesa entretanto levantada no território avassalado por uma onda de brutalidade inaudita, coubera, de facto, a Oliveira Salazar denunciar qual a verdadeira origem do mal na ordem puramente aparente das relações internacionais:
«O convite às autoridades portuguesas para cessarem imediatamente as medidas de repressão é uma atitude, digamos, teatral do Conselho de Segurança e que ele não tem a menor esperança de ver atendida, tão gravemente ofende os deveres de um Estado soberano. Desde os meados de Março não acharam nem o Conselho nem a Assembleia oportunidade para ordenar aos terroristas que cessassem os seus morticínios e depredações, e tantos dos seus membros o podiam ter feito com autoridade e eficácia. Mas quando intervém a autoridade cuja obrigação é garantir a vida, o trabalho e os bens de toda a população, essa obrigação ou primeiro dever do Estado não haverá de ser cumprido, porque é necessário que os terroristas continuem impunemente a sua missão de extermínio e de regresso à vida selvagem.
A consideração de que a situação em Angola é susceptível de se tornar uma ameaça para a paz e para a segurança internacionais, essa, sim, pode ter algum fundamento, mas só na medida em que alguns dos votantes decidam a passar do auxílio político e financeiro que estão dando, para o auxílio directo com as suas próprias forças contra Portugal em Angola. Tudo começa a estar tão do avesso no mundo que os que agridem são beneméritos, os que se defendem são criminosos, e os Estados, cônscios dos seus deveres, que se limitam a assegurar a ordem nos seus territórios são incriminados pelos mesmos que estão na base da desordem que ali lavra. Não. Não levemos ao trágico estes excessos: a Assembleia das Nações Unidas funciona como multidão que é e portanto dentro daquelas leis psicológicas e daquele ambiente emocional a que estão sujeitas todas as multidões. Nestes termos é-me difícil prever se o seu comportamento se modificará para bem ou não agravará ainda para pior. Se porém virmos este sinal no céu de Nova Iorque, é meu convencimento que estão para breve catástrofes e o total descalabro da Instituição.» (114)
No mais, estas palavras vinham justamente confirmar a existência de todo um movimento internacional dado ao acolhimento e patrocínio de actividades subversivas já anterior ao ataque terrorista no Norte de Angola, também, aliás, oportunamente denunciado por Oliveira Salazar nos seguintes termos:
«Qualquer pessoa de boa-fé pode verificar existirem paz e inteira tranquilidade nos nossos territórios ultramarinos, sem emprego da força e apenas pelo hábito da convivência pacífica. Mas fora delas, no Congo, na Guiné, no Ghana e nalguns outros, não falando já dos países comunistas ou sob a sua direcção, sabemos que se organizam comités, ligas, partidos contra a unidade portuguesa, ao mesmo tempo que emissões radiofónicas de vários lados e servindo-lhes de apoio, tentam perturbar o viver da nossa gente. Estes agitadores dispõem, ao que parece, de fundos importantes e de protecções especiais, e com uns e outras se explicam ainda manifestos e pequenos jornais para exploração da credulidade pública. A gente é pouca mas desdobra-se, para parecer muita, mudando de nome; em todo o caso apresenta-se mesmo em capitais qualificadas e consegue meter pé em imprensa de categoria mundial e considerada responsável. Este ponto é digno de atenção, tanto mais quanto a essa grande imprensa lhe era fácil mandar informar-se localmente da verdade dos factos.
As coisas mudaram muito e mudaram muito em pouco tempo. Havia dantes certo número de regras que pautavam a conduta dos Estados e de certo modo condicionavam a sua admissão na Comunidade internacional. Era admissível asilar políticos em desgraça, mas não se admitia organizar bandos de guerrilheiros, para intervir em território alheio, alimentar programas de difamação, financiar a sublevação de populações pacíficas, fornecer armamento, preparar cientificamente revolucionários. Pois tudo se faz hoje e se apregoa com altiva segurança de estar servindo grandes causas, ao mesmo tempo que se tem como norma sagrada a boa vizinhança e a não intervenção nos negócios internos dos Estados. Está a abusar-se da hipocrisia e do cinismo; com eles desaparece na sociedade internacional o mínimo de confiança e de respeito mútuo, indispensável à vida. Mas é esta a vida que vamos viver alguns anos.» (115)
Tendo, portanto, em linha de conta os crimes e as arbitrariedades já então praticadas em nome do anticolonialismo, não é, pois, de espantar o crescente número de teses universitárias actualmente produzidas que não venha estigmatizar, nos moldes revisionistas de um historicismo acéfalo, toda e qualquer forma de colonização commumente entendida por colonialismo, assim se procurando, por exemplo, justificar, até ao limite do absurdo, a questão africana em termos mais directa ou indirectamente descontextualizados, a fim de mais facilmente se poder atribuir os males do continente perdido à conquista imperialista e à exploração desenfreada por parte do homem branco (116). Por conseguinte, os escrevinhadores de tais teses para consumo geralmente universitário, ignoram, ou fingem ocasionalmente ignorar, que as encomendadas doutrinas da negritude, do anticolonialismo e do pan-africanismo foram especialmente forjadas e fabricadas por intelectuais particularmente comprometidos na revolução comunista mundial, e, como tal, ensinadas e propagadas em universidades europeias, quando não mesmo nos gabinetes ministeriais da Europa por via de cuja actividade subversiva se ia, paulatina mas seguramente, minando o Ocidente. Que o diga, pois, objectivamente, Oliveira e Castro:
«Na opinião da maior parte dos ensaístas e estudiosos, o contexto da "África Negra" restringe-se a três idades: a pré-colonial, a colonial e a descolonizada.
Segundo eles, a África pré-colonial comportava uma civilização própria, perfeitamente individualizada, faltando-lhe só projecção universal por estar fechada sobre si mesma; a colonial seria a da conquista e da exploração dos brancos, que invadiram, dominaram e, portanto, traíram e adulteraram a mesma África; e, por fim, a descolonizada seria a do "retorno" a um passado esfacelado pela Europa, neutralista e apta a reencontrar, na sua unificação, a auto-suficiência económica, política, social e cultural.
 |
Jean-Paul Sartre
|
Segundo o raciocínio, simplista mas propagado, a África deixou de ser África com a chegada do branco para passar a sê-lo outra vez após a sua saída. Não importa saber sequer se é assim ou não; o que interessa é afirmá-lo e fazer crer que é verdade.
Nkrumah, Senghor, Touré, Padmore, Sartre, Marcus, Garvey e Du Bois - estes dois últimos precursores do pan-africanismo, considerado como a extrapolação política da negritude - são unânimes naquele ponto de vista, havido como a espinha dorsal da sua doutrina política.
São de Nkrumah estas palavras: "A colonização europeia é responsável por uma grande parte do crepúsculo da África. Longe de favorecer o progresso, o governo imperialista promoveu um declínio catastrófico do nível de vida do povo africano." (118)
Senghor, por sua vez, exprime-se assim: "As revelações dos navegadores dos séculos XV a XVII forneceram a prova de que a "África Negra", que se estendia ao sul da zona desértica do Sáara, estava em pleno desenvolvimento em toda a vastidão de civilizações harmoniosas e bem formadas. Essa floração, os conquistadores europeus a destruíram, à medida que progrediam. Pode ser que tenha sido necessário o afundar doloroso de uma civilização, de uma vida pujante." (119)
Sekou Touré é mais expressivo ao afirmar: "Quanto à nossa civilização oeste-africana, tão queimada que esteja pelo fogo da conquista europeia, eis que regressa à primavera da era nova, antes mesmo que tenham caído as primeiras chuvas da independência." (120)
Cremos não se tornarem necessárias outras citações para mostrar a coincidência de um pensamento que esteve na base da modificação do panorama político da "África Negra", ocorrida aceleradamente após a segunda guerra mundial.
Apesar de carecer de fundamento, o pensamento expandiu-se e alimenta o pan-africanismo, que, nascido na América do Norte e estratificado na África, é hoje quase - por paradoxal que pareça - mais europeu do que africano.
É que a Europa aceitou a condenação, deixou-se imbuir pelo mesmo conceito negativista e acabou por ser ela própria a dar o substrato àquela megalomania.
Já se disse ter sido Sartre quem teorizou a negritude - tida como a síntese cultural do pan-africanismo e visando a "conservação dos valores intrínsecos da África, para os defender do mundo exterior".
Acrescentamos ter sido, sobretudo, nas assembleias, nos livros e nos gabinetes ministeriais da Europa que o pan-africanismo se divulgou, tomou raízes e adquiriu foros de cidadania.
Era a Europa contra a Europa a pretexto da África, cuja voz só se fazia ouvir por intermédio de meia dúzia de intelectuais e de políticos - eles mesmos formados, na sua maioria, em universidades europeias e em tudo, mentalidade, costumes e sensibilidade, europeus, apesar de negros.
Não se pode esquecer que o movimento contra a presença francesa em África se desenrolou em Paris, com grande relevo para o papel desempenhado pela revista Présence Africaine, cujo primeiro número saiu em Novembro de 1947, assinado por Camus, Gide, Mounier e Sartre.
Isto é elucidativo para acentuar que o pan-africanismo resultou principalmente do enfraquecimento do Ocidente, minado pela subversão comunista e pelo seu próprio cansaço. É também importante de considerar quando a Europa torna a ser chamada a África para a salvar da noite escura da aventura que experimentou.» (121)
Depois, aliada à propaganda terceiro-mundista da União Soviética, estivera, sem sombra de dúvida, a já conhecida campanha anticolonialista da ONU, bem como a ajuda financeira da Europa nórdica, protagonizada pela Suécia, pela Noruega e pela Dinamarca, fornecida ao movimento terrorista da FRELIMO, em Moçambique. Nisto, até a UNESCO, enquanto agência especializada da ONU para a educação, a ciência e a cultura, chegou ao ponto de, a coberto de um programa de assistência aos refugiados de guerra, prestar auxílio a elementos terroristas da FRELIMO e do PAIGC. Enfim, o resultado disto tudo viria, então, infelizmente, na forma horrenda do genocídio, ou dos crimes de guerra e contra a humanidade, a que não foram certamente estranhos ora estrangeiros ora portugueses hoje bem identificados, porquanto directa ou indirectamente responsáveis pela entrega do Ultramar português no pós-25 de Abril de 1974, e, nessa mesma medida, impulsionadores de um processo de alta-apostasia e alta-traição que culminou em centenas de milhares de mortos, assim como na generalização da ruína, da miséria, do sofrimento e da desgraça para um número incontável de portugueses fugidos ao incêndio ultramarino (122).
 |
Vala comum dos antigos combatentes africanos das Forças Armadas Portuguesas assassinados às ordens de Luís Cabral.
|
 |
Acordo do Alvor
|
 |
| Ver aqui, aqui e aqui |
 |
Quartel-General da UNESCO. Ver aqui
|
 |
|
|
 |
| Mário Soares apresenta à ONU a entrega do Ultramar português, enquanto ministro dos Negócios Estrangeiros (23 de Setembro de 1974). |
 |
Costa Gomes na ONU (Outubro de 1974).
|
 |
Melo Antunes na ONU (1975).
|
«Houve portugueses honestos que, por equívoco imenso, por teimosa ligação a conceitos imperialistas ultrapassados, por falso sentido do progresso ou por limitações pessoais, com predomínio para o desconhecimento das teses, situações e práticas, se opuseram à Política Ultramarina Portuguesa e, deste modo, contribuíram, em menor ou maior grau, para a guerra no Ultramar Português, para o golpe revolucionário de "25 de Abril" e para a descolonização. Foi erro inconsciente, mas foi erro maior que cometeram.
Mas houve, também, outros portugueses que fizeram deliberadamente tudo o que lhes foi possível para impulsionar a agressão anti-portuguesa em África, para que Portugal e as suas Forças Armadas fossem ali derrotadas, para a eclosão e o sucesso do golpe revolucionário de "25 de Abril" e para a efectivação da descolonização. Uns, motivados pela ânsia obstinada de derrubarem o regime dos Presidentes Salazar e Caetano, situaram, em atitude de apostasia, ideologias e conveniências de política interna acima do interesse nacional, acima da Nação. Outros, em obediência oportunista ou fanática ao imperialismo comunista, colocaram, em termos de traição, as premissas e os objectivos daquele imperialismo acima da integridade da Pátria, acima da própria Pátria. Foi igualmente erro maior, mas agora consciente, e foi, também, crime premeditado de alta-apostasia e de alta-traição.
Erro e crime que atingiram o seu cúmulo de gravidade com o conceito, a preparação e a execução da descolonização, na qual se produziram centenas de milhares de mortes e onde se feriu, extensa e profundamente, a essência da Nação, o âmago da Pátria - sobretudo na sua amputação territorial de mais de dois milhões de quilómetros quadrados, e humana em perto de doze milhões de portugueses africanos, e sobretudo na destruição da sua estrutura pluricontinental e textura multirracial, esta única no Mundo. Tudo na ignorância das populações de quaisquer dos seus territórios e de quaisquer etnias, que não foram ouvidas e muito menos consultadas, e tudo por decisões dogmáticas, que foram tomadas por minorias ou mesmo por número diminuto de pessoas.
São, em verdade, estes portugueses, errados, apóstatas e traidores, os responsáveis maiores pelo desastre nacional.
Seria natural que se procurasse averiguar, e se averiguasse, a identidade desses responsáveis maiores. E seria natural e normal que tivesse lugar o seu julgamento perante e pelo País. Contudo, é bem possível que essa averiguação e esse julgamento apenas venham a competir à História e a Deus.
A este respeito transcreve-se um texto do livro "15 Anos da História Recente de Portugal (1970-1984)" coordenado pelo Dr. F. A. Gonçalves Ferreira:
No dia 18 de Dezembro de 1979, foi apresentada na Secretaria da Polícia Judiciária uma queixa por um grupo de 18 cidadãos portugueses por nascimento e na plenitude dos seus direitos legais, encabeçado pelo General na reserva, Silvino Silvério Marques, e constituído por militares, professores, jornalistas e outros profissionais, contra:
- Mário Soares, que foi Ministro dos Negócios Estrangeiros;
- António de Almeida Santos, que foi Ministro da Coordenação Interterritorial;
- Ernesto Augusto de Melo Antunes, que foi membro do Conselho de Estado e do Conselho da Revolução;
- Francisco da Costa Gomes, que foi Presidente da República;
- António Alva Rosa Coutinho, que foi presidente da Junta Governativa de Angola;
- Vítor Manuel Trigueiros Crespo, que foi Alto-Comissário em Moçambique;
- Otelo Nuno Romão Saraiva de Carvalho, que foi comandante-adjunto do COPCON;
- Pires Veloso, que foi Alto-Comissário em S. Tomé e Príncipe;
- Vicente de Almeida d'Eça, que foi Alto-Comissário em Cabo Verde;
- António da Silva Cardoso, que foi Alto-Comissário em Angola;
- Leonel Cardoso, que foi Alto-Comissário em Angola;
- Os membros da Junta de Salvação Nacional, que deram pareceres favoráveis aos Acordos da "descolonização";
- Os membros do Conselho de Estado, que deram pareceres favoráveis aos mesmos Acordos;
- Os membros dos governos provisórios que deram pareceres favoráveis aos mesmos Acordos;
- Os membros do Conselho de Estado, autores da Lei Constitucional n.º 7/74.
- Outros indivíduos que tiverem tido participação activa nos factos criminosos que vão ser denunciados.» (123)
Entretanto, da Polícia Judiciária a queixa (124) fora enviada ao 3.º Juízo Criminal, junto ao qual concluíra o magistrado Dr. Eduardo Maia da Costa ser «evidente a inexistência de matéria-crime», pelo que o procedimento criminal, não obstante recurso interposto, seria finalmente extinto. Os algozes da Pátria sairiam assim totalmente impunes, como já seria de esperar num contexto inteiramente dominado pelo socialismo revolucionário. Alguns ainda acalentaram que a «História» viesse um dia dizer como as coisas realmente se passaram (125), porventura se esquecendo que a «História», tal como hoje a conhecemos, é a maior prostituta das ciências reinantes. E como é a máquina universitária que normalmente se encarrega de fazer a «História», já pode o leitor minimamente avisado saber o que o espera nos traiçoeiros e tenebrosos dias de hoje.
Epílogo
Filhos, sabei: O Inimigo
Que vos leva à perdição,
Passou fronteiras e portas:
Entrou-vos no coração!
Entrou nas almas, sedentas
De vão prazer, mando e orgulho,
Como, na fruta, as lagartas,
Ou, no celeiro, o gorgulho…
Viriato Lusitano
Notas:
(81) (...) caberá aqui resumir o art. 73.º da Carta. Este inclui-se num capítulo da Carta – o Cap XI – intitulado Declaração Sobre Territórios Não-Autónomos, e em essência estabelece: a) os membros da ONU, responsáveis por territórios cujos habitantes não hajam atingido governo próprio, reconhecem que os interesses daqueles são prioritários; b) comprometem-se a assegurar o desenvolvimento político, económico, social e educativo dos povos respectivos, e promover governo próprio, tendo em conta as suas aspirações políticas, e a colaborar para aquele efeito com as agências especializadas das Nações Unidas; c) e os membros da ONU têm ainda a obrigação de transmitir ao secretário-geral, para fins de informação, dados estatísticos e outros elementos técnicos sobre as condições nos territórios, tudo ficando sujeito às limitações que possam ser impostas por razões de segurança ou considerações de ordem constitucional. (Itálicos meus).
(82) Na base desta posição dos latino-americanos esteve um equívoco político-sociológico fundamental: é que a independência dos povos da América Latina foi feita pelos colonizadores, que criaram nações; enquanto a nova independência de África seria feita pelos colonizados, a quem era estranho o conceito de nação e de pátria. No fundo, estes últimos eram, na altura, peões de interesses alheios.
(83) Franco Nogueira, Salazar, IV, O Ataque (1945-1958), Livraria Civilização Editora, 1985, pp. 422-426 e 439-442.
(84) Franco Nogueira, op. cit., pp. 452-453.
(85) Cf. Maria do Céu Pinto, op. cit., p. 263.
(86) Neste sentido, diria oportunamente Oliveira Salazar: «(...) em todos os casos considerados e dadas as actuais circunstâncias, sempre que as Nações Unidas advogam a autodeterminação como acesso possível a soluções diversas só podem de facto chegar à independência dos territórios, e, quando conseguissem a independência destes, ser-lhes-ia vedado querer outra coisa diferente da sua integração noutros Estados, isto é, a transferência da soberania para algumas delas. Ora, sendo esta a questão, devo dizer, sem arriscar confrontos desagradáveis, que em qualquer das hipóteses não podemos ser considerados nem menos dignos, nem menos aptos para o Governo, nem menos predispostos que outros para a influência civilizadora sobre os povos de raças diferentes que constituem as Províncias de além-mar. Tentar despojar-nos dessa soberania seria um acto injusto, e, além de injusto, desprovido de inteligência prática.» (in «O Ultramar Português e a ONU», Discurso Proferido por sua Excelência o Presidente do Conselho, Prof. Doutor Oliveira Salazar, na Sessão Extraordinária da Assembleia Nacional, em 30 de Junho de 1961, SNI, pp. 13-14).
(87) A seu tempo, diria ainda Oliveira Salazar: «É nossa convicção que estamos a defender a Europa nos últimos redutos em que ainda pode ser defendida. Se esta tese não é unanimente acolhida porque se entreveja como possível a defesa ocidental nos pequenos espaços europeus ou por força de espúrias combinações diplomáticas, um aspecto há que muito particularmente nos respeita e em que não pode ser-nos negada competência nem legitimidade de juízo – é que estamos ali a defender Portugal.
Só não se ter em conta o que representam na história e nos direitos de um povo a descoberta e a ocupação de territórios praticamente desabitados; só o desconhecimento das possibilidades dos povos de África de elevarem-se por si sós a níveis de civilização; só o desprezo da obra do branco, mau grado as suas imperfeições e deficiências, em relação a outras etnias ou culturas, empreendida nos continentes onde trabalhou ou se estabeleceu; só a incongruência, o ilogismo, a confusão em que vivemos podem explicar os discursos proferidos em altas assembleias contra os direitos de Portugal, em línguas puras da Europa, em termos clássicos de formação europeia, se bem que infelizmente rescendendo a teorias de mestres também nossos mas transviados.» («Defesa de Angola – Defesa da Europa», Discurso Pronunciado por sua Excelência o Presidente do Conselho e Ministro da defesa Nacional, Doutor Oliveira Salazar, na Cerimónia Efectuada no Palácio da Cova da Moura, em 4 de Dezembro de 1962, SNI, pp. 4-5).
(88) Neste particular, assevera Oliveira Salazar: «Todos os nossos territórios estão abertos à observação de quem quer e o Governo e os Serviços publicam dados suficientes para se saber em cada momento como marcha a administração. A posição que havemos tomado, e manteremos, não vem pois de pretendermos ocultar seja o que for mas de que nos é impossível aceitar para as nossas províncias ultramarinas, que fazem parte da Nação, situação equivalente à de territórios tutelados pela ONU e destinados a subsequente secessão, bem como prestar contas ali de como os Portugueses entendem governar-se na sua própria casa. É ilegítimo da parte das Nações Unidas resolver discriminatoriamente contra Portugal; a Assembleia Geral não tem competência para declarar não autónomos territórios de qualquer potência. Esta é a interpretação juridicamente correcta e que sempre foi dada aos princípios da Carta. Nesses termos fomos admitidos e, se outro fosse o entendimento dos textos, é certo que não nos teríamos apresentado a fazer parte da Organização» (in Oliveira Salazar, «Portugal e a Campanha Anticolonialista», Discurso Pronunciado por sua Excelência o Presidente do Conselho, Professor Doutor Oliveira Salazar, na Sessão da Assembleia Nacional de 30 de Novembro de 1960, SNI, pp. 16-17).
(89) Cf. Franco Nogueira, op. cit., p. 422. Em súmula: o artigo 73.º estabelece unicamente princípios de ordem geral, ficando a eventual execução dos mesmos ao critério dos Estados-membros; a Assembleia Geral não dispõe de nenhuma competência para exigir a transmissão de informações por parte dos Estados-membros, tal como já assim efectivamente acontecera no passado; logo, não é de todo admissível a criação de novos princípios sobre um assunto que, na sua esfera legítima, apenas incumbe aos Estados-membros capacitados para o julgar.
(90) «(...) a estrutura actual da Nação portuguesa é apta a salvar de um irredentismo suicida as parcelas que a constituem e que outra qualquer as poria em risco de perder-se não só para nós mas para a civilização.
A estrutura constitucional não tem aliás nada que ver, como já uma vez notei, com as mais profundas reformas administrativas, no sentido de maiores autonomias ou descentralização, nem com a organização e competência dos poderes locais, nem com a maior ou menor interferência dos indivíduos na constituição e funcionamento dos orgãos da Administração, nem com a participação de uns ou de outros na formação dos orgãos de soberania, nem com as alterações profundas que tencionamos introduzir no regime do indigenato. Só tem que ver com a natureza dos laços que fazem das várias parcelas o Todo nacional.» (Oliveira Salazar, «O Ultramar Português e a ONU», pp. 20-21).
(91) Cf. Franco Nogueira, op. cit., p. 423. Maria do Céu Pinto, um pouco à semelhança do já habitualmente praticado pelos seus congéneres universitários, tratou de designar por dúbia uma tal argumentação jurídico-constitucional (p. 266), quando, de facto, manifestamente duvidosa e assaz ilegítima fora, antes pelo contrário, a tentativa da ONU em enveredar por uma prática política e processual que, estritamente baseada no assalto à soberania alheia, assim se fora gradualmente estabelecendo à sombra da letra do art. 73.º da Carta da ONU.
(92) «O sistema de tutela abarcava três categorias de territórios: os Mandatos vindos da I Guerra; os separados dos Estados inimigos como resultado da II Guerra e os voluntariamente colocados nesse sistema pelos Estados responsáveis pela sua administração. Em 1945, a maior parte dos Mandatos já tinham alcançado a independência, mas ainda restavam doze nessas condições. Estes doze territórios foram colocados sob o sistema de tutela da ONU. A Assembleia Geral convidou os Estados que administravam os mandatos a realizar um acordo de tutela, para que os territórios integrassem o sistema de tutela internacional da ONU.» (in Maria do Céu Pinto, op. cit., p. 264).
(93) Dou aqui como conhecidos todos os antecedentes desta questão, e do longo e complexo debate em torno do artigo 73. Ver designadamente vol. IV, págs 422 e seg. e págs 439 e segs.
(94) Fórmula encontrada por Salazar ao comentar o conceito de território não-autónomo, quando pela primeira vez se desencadeou o ataque na ONU. Ver vol. IV, págs 418 e seguintes.
(95) Votaram contra, também, a Espanha e a África do Sul. Estou aqui a referir-me ao debate na IV Comissão. Os textos apenas se transformaram em resolução oficial da ONU quando aprovados formalmente em plenário (15-XII-60).
(96) Também aprovada depois em plenário na data de 15-XII-60.
(97) Aprovada em plenário em igual data. As três resoluções receberam os números, respectivamente, de 1514, 1541, 1542.
(98) Votaram também contra a resolução, e portanto apoiaram Portugal, outros países: França, Bélgica, Espanha, Brasil, União Sul-Africana. Abstiveram-se a Inglaterra e os Estados Unidos.
(99) Franco Nogueira, Salazar, V, A Resistência (1958-1964), Livraria Civilização Editora, 1984, pp. 170-173.
(100) Oliveira Salazar, «O Ultramar Português e a ONU», p. 14.
(101) Idem, pp. 20-21.
(102) Idem, p. 8.
(103) «O sentido ecuménico do Ocidente não deveria consentir em que se contrarie a formação de grandes espaços, onde a unidade do poder político, estruturado em função da evolução das várias comunidades, guiado pela justiça e respeitador das exigências das várias etnias isoladamente inviáveis, assegura a contribuição de todos para o bem comum da humanidade. Este ponto de vista era aceite, antes da última grande guerra, pelos partidos políticos europeus mais avançados, e foi necessário que a Europa perdesse muito do seu espírito pioneiro e revolucionário para se deixar ultrapassar pelo reaccionarismo que fez de novo triunfar, sob a protecção de frágeis mitos, a regra da luta pelos mercados e pelas matérias-primas. E, todavia, é o sentido ecuménico europeu que melhor serve o interesse de todos, porque pelo menos os territórios portugueses estão abertos aos capitais e à técnica de todos os ocidentais, e isso já não acontece com a generalidade dos territórios que a inabilidade reaccionária fez entrar na órbita dos nossos competidores. Se o dinheiro e os esforços com que até os ocidentais têm contribuído para sustentar o terrorismo fosse somado ao que nos obrigaram a gastar na defesa, e tudo se aplicasse no desenvolvimento dos territórios, os direitos do homem teriam recebido um benefício que nunca poderá ser proporcionado pela oratória fácil dos chefes de empresa que andam pelo Mundo a fazer de estadistas. Por outro lado, poderíamos certamente responder ainda com melhores resultados às perguntas que constantemente nos fazem sobre a evolução da nossa acção em África e teríamos consolidado enormemente a efectividade do princípio da autonomia das províncias. Porque, se nós entendemos que não podem estabelecer-se calendários, nem também modelos, para condicionar a evolução das instituições, igualmente temos a clara noção de que a autonomia é alguma coisa mais do que uma palavra. A autonomia só existe quando as instituições podem dispor dos meios necessários para a satisfação das suas necessidades administrativas, e por isso temos procedido, com a celeridade possível, à reforma dos serviços provinciais, de modo a habilitá-los para uma acção eficiente. Mas não basta abrir caminho a uma estrutura moderna dos serviços, na saúde, na instrução, nas obras públicas, na administração, e assim por diante, porque o tempo é um ingrediente necessário, a respeito do qual a única coisa que está na nossa mão é não o perder. E também é de notar que tudo se faz em função dos orçamentos sobrecarregados com a forçada tarefa da segurança pública, enfrentando correspondentes dificuldades de financiamento em todos os campos e suportando repercussões na economia global do País que não são despiciendas.
Em face de todas estas dificuldades, a maior parte delas devidas exclusivamente a acções do exterior, mais evidente se torna um pressuposto em que há anos insistimos, e é que a nossa força reside essencialmente na coesão de todas as etnias. Sem essa coesão, apoiada no auxílio da Metrópole, nem africanos de origem europeia poderão escapar à ameaça racista que caracteriza a conjuntura internacional, nem as populações de raiz tribal escaparão ao retrocesso que infelizmente se verifica já em extensas regiões da África. Também por isto, e não apenas porque é justo, se tem procurado acelerar o processo de integração que esteve na base da revogação do Estatuto dos Indígenas, orientação em que se inclui a reforma dos serviços geográficos e cadastrais, a criação dos Institutos do Trabalho, a criação dos Institutos de Serviço Social, a introdução das escolas de magistério primário, a promulgação do novo Código do Trabalho Rural e ainda a imensa tarefa de execução em que se têm afadigado os Governos das províncias. É claro que uma certa mentalidade milagreira que infelizmente caracteriza muitos pensadores sem responsabilidades não está à altura de apreciar a esgotante tarefa que recai sobre os servidores dos quadros ultramarinos, nem preparada para entender os esforços tremendos que sempre serão exigidos por qualquer intervenção nas estruturas sociais. Mas tenho a certeza de que lhes basta que os entenda a Nação, porque no Ultramar ninguém está ao serviço de outros interesses.» (in «Geração Traída», Conferência Proferida pelo Ministro do Ultramar Prof. Dr. Adriano Moreira na Casa do Infante, no Porto em 11 de Maio de 1962, Agência-Geral do Ultramar).
(104) Neste sentido, é, pois, particularmente significativo o trecho que se segue: «O Subsecretário de Estado do Ultramar [Adriano Moreira] serviu na delegação de Portugal nas Nações Unidas, entre 1957 e 1959, e diz que a permanência em Nova Iorque influenciou-o para a vida: “As Nações Unidas deram-me a noção de que o Mundo se transformara num único teatro de operações, onde se impunha redefinir o conceito clássico de soberania nacional.” Franco Nogueira, de quem Adriano Moreira se tornou amigo íntimo e depois rival na corrida para a sucessão de Salazar, observa: “Adriano Moreira, uma alta inteligência, era extremamente ambicioso. Em Nova Iorque costumava brincar aos governos, distribuindo as pastas, mas deixando sempre vago o lugar de chefe, para si próprio. Só que o velho Salazar sabia mais daquilo tudo a dormir do que nós acordados.” Mesmo assim, Adriano Moreira esperava que Salazar dormisse.» (in José Freire Antunes, Kennedy e Salazar. O leão e a raposa, Difusão Cultural, 1991, p. 95). Mais recentemente, ficámos ainda a saber, pela mão de Adriano Moreira, até que ponto vai o seu afã pelo mundo transformado num único teatro de operações: «(...) há uma leitura obrigatória para os governos de todo o mundo, e também para os ricos e pobres da Europa, que é a Declaração Adotada [sic] pela Assembleia Geral da ONU, com o número 66/228, intitulada O Futuro que nós queremos, documento resultante da Conferência da ONU sobre o desenvolvimento durável. Talvez, ajude, entre nós, a reconhecer que, além da Constituição da República Portuguesa, e da suposta sabedoria da troika, existe o paradigma global da ONU, ao qual todos os países da organização estão obrigados.» (in Futuro com Memória. Lições da Vida e da História, Clube do Autor, 2016, pp. 322-323).
(105) «O 15 de Março (...) ultrapassou em ferocidade tudo quanto é lícito supor: homens, mulheres, crianças esquartejados, queimados e serrados vivos; filhos mortos perante os pais, mulheres mortas diante dos maridos... crianças mortas, espostejadas nos seus berços, etc, etc... Intuito de tamanha selvajaria, que acompanha a implantação do comunismo - o socialismo científico - em todo o mundo: afastar os portugueses europeus e mestiços, em especial, de Angola, pela violência, pelo medo. Na ONU sabia-se com antecedência do que iria acontecer e esperava-se uma vitória rápida e segura dos amotinados... Vê-se quem tinha a mão por baixo.
De outra parte, os terroristas foram armados, municiados, drogados e fanatizados com promessas de todo o género por estrangeiros, como sobejamente se sabe. O facto de a violência indescritível ter caído também sobre os trabalhadores bailundos é denunciador do desejo do bakongo - a tribo revoltada - vir a governar Angola... Não é nada de admirar: em África a solidariedade entre tribos não existe.» (in Pinheiro da Silva, pref. a Carlos Alves (Cave), «A Epopeia de Mucaba», NEOS, pp. 10-11).
(106) Entrevista: Álvaro Holden Diasiwa Roberto.
(107) World Outlook (Paris), vol. 2, Nº 9 (28 de Fevereiro de 1964), p. 19.
(108) Marcum, Angolan Revolution, p. 141.
(109) René Pélissier, “The Armed Revolt of 1961” in Douglas L. Wheeler/René Pélissier, Angola (West-port, Connecticut: Greenwood Press, Publishers, 1971). p. 178.
(110) "Statement of Mr. Holden Roberto, President of the Union of the Population of Angola", New York, March 15, 1961 (mimeo), citado por Marcum, Angolan Revolution, p. 142.
(111) Hélio Falgas, Guerra em Angola (Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1961), p. 33.
(112) London 160. Memorandum of Conversation. July 25, 1961. Subject: “Situation in Angola”. Participants: Mr. Richard Beeston, Mr. David D. Newsom. CONFIDENTIAL. Records of G. Mennen Williams. National Archives (Washington DC).
(113) in José Freire Antunes, Kennedy e Salazar, Difusão Cultural, 1991, pp. 187-188. Ainda, a título de complemento, nas palavras de Pompílio da Cruz: «O 4 de Fevereiro de 1961, em que hostes do MPLA atacaram, de madrugada, a Casa de Reclusão, a Cadeia de São Paulo e a 7.ª Esquadra da PSP, na estrada do Catete, causando mortos em condições crudelíssimas, foi mais um aviso desprezado de um flagelo desmesuradamente maior: o genocídio praticado pela UPA.
Em 15 de Março, hordas de assassinos irromperam por todo o Norte de Angola, matando, violando, saqueando, com uma ferocidade indiscritível. Não descerei a pormenores da tragédia que se abateu sobre a colónia, abrindo um capítulo de barbaria na sua História. Um capítulo de horrores, em que crianças de tenra idade foram decapitadas; em que se arrancaram, à catanada, os fetos do ventre de suas mães; em que se cortaram sexos a sangue frio; em que se esmigalharam cabeças a pontapé ou atirando os corpos das vítimas contra as paredes; em que o sangue espirrava até ao tecto das habitações e corria em rio caudaloso.» (Angola: Os Vivos e os Mortos, Editorial Intervenção, 1976, p. 65).
(114) Oliveira Salazar, «O Ultramar Português e a ONU», 1961, pp. 21-22.
(115) Oliveira Salazar, «Portugal e a Campanha Anticolonialista», 1960, pp. 17-18.
(116) Leia-se, por contrapartida, o que a este respeito nos tem a dizer Pompílio da Cruz: ««Em toda a minha vida no Ultramar Português sempre verifiquei fora de qualquer dúvida, que podia haver compreensão e amor entre as raças. O pensar negro - o fanatismo pró-negro e anti-branco - de alguns extremistas antes do 25 de Abril de 1974, tornou-se muito diferente nos demagogos do pensamento negro, dos coléricos extremistas, dos nacionalistas do "pé descalço", das massas ululantes e cruéis do "poder popular", açuladas pelos slogans importados, bombásticos, mas vazios de conteúdo e calor humano. Relembro os dizeres de um negro americano: "Se há uma dívida com o negro do passado, ele também tem uma dívida. Essa dívida é para com os homens que viveram antes dele, para com aqueles que o ajudaram pessoalmente e para com os muitos que o ajudaram tomando posições quando era preciso e não se negando a comprometer-se. Deve-se-lhes não ceder à violência e à cólera, deve-se isso a uma porção de homens que ainda não nasceram. Deve-se a si mesmo ser um homem, um ser humano, em primeiro e último lugar, senão sempre". E tudo isto derruiu ante a invasão dos interesses "imperialistas". Foram eles - e não o esqueçamos - os responsáveis pela violência e pela guerra psicológica de desmoralização dos "brancos". E tudo serviu para que tantos fossem acusados de tudo, amesquinhados, ridicularizados, para colocá-los em condições de não poderem defender os supremos bens da vida, a começar pelo maior de todos eles, que é o da Liberdade.
Angola era para nós uma catedral de Devoção e Amor. Era uma floração de Portugal. Era a nave sagrada onde reboavam os cânticos do Trabalho e do Progresso. E os partidários dessa teoria que massacrava e escravizava o homem tudo derruíram. Só deixaram ruínas e o fervilhar do ódio.» (Angola: Os Vivos e os Mortos, pp. 23-24).
(117) Vide Eduardo dos Santos, A Negritude, in Revista Ultramar, n.º 22, p. 117.
(118) Kwame Nkrumah – I Speak of Freedom.
(119) Léopold Sedar Senghor – Nation et Voi Africaine du Socialisme.
(120) Sékou Touré – La Guinée et l’Émancipation Africaine.
(121) Oliveira e Castro, A Nova África, Edição do Autor, 1967, pp. 48-51.
(122) «Com a independência, o MPLA tornou-se ainda mais intransigente. Mais cruel. Mais desonesto... Impediu a saída de viaturas e haveres que considerava não pertencerem aos seus legítimos donos, mas a Angola. Máquinas de costura, tornos portáteis, pneus, ferramentas, um ferro eléctrico, passaram a ser do Estado angolano (ou de qualquer dos seus maiorais, como é o meu caso: o recheio da minha habitação conforta, hoje, um dos líderes do MPLA).
Durante este período, principalmente depois da chegada dos cubanos e das confrontações dos movimentos de libertação, quase toda a gente foi dominada pela psicose do medo, a par da obsessão da fuga, desordenada e sem atender às condições em que era empreendida. Das águas de Luanda, do Lobito, de Benguela e, principalmente, de Moçâmedes e Porto Alexandre, traineiras superlotadas levantaram ferro para a África do Sul, na maior parte para Walvis Bay. Houve naufrágios, nos quais muitos pereceram. Outros, arrojadamente, aventuraram-se a cruzar o Oceano, para Portugal e para o Brasil.
De Silva Porto, de Nova Lisboa, do Luso, grupos mais ou menos numerosos embrenharam-se na mata e calcorrearam a distância que os separava da África do Sul, onde os alojaram em campos de concentração e os trataram com humanidade. Para o norte foram os que queriam atingir Kinshasa. A etnia negra preferiu, em regra, acolher-se à Zâmbia e ao Zaire, pedindo às autoridades transporte para Lisboa, porque não queriam perder a cidadania portuguesa. Caminhadas dramáticas, sem alimentos e sob a intempérie. Em média, morreram oito crianças por dia.
É difícil calcular o tal dos fugitivos, até porque há que contar com o número indeterminado dos desaparecidos. Contudo, no Zaire, estiveram mais de vinte mil negros; na África do Sul, cinquenta mil pessoas, entre brancos, negros e mulatos, incluindo os que vieram de Moçambique; na Zâmbia, vinte mil.
Falei [já] nos mortos causados pela descolonização: trezentas mil pessoas. Acrescento agora que, ou foram pura e simplesmente assassinadas, nos centros populacionais; ou tombaram, durante a fuga, às balas dos movimentos "libertadores" e das tropas estrangeiras (leia-se cubanas e russas); ou por doença e inanição; ou porque a má-sorte os colocou no meio dos combates que o MPLA, a FNLA e a UNITA travavam.
Um exemplo, ao acaso, do genocídio angolano. Em Moçâmedes, quando homens, mulheres e crianças procuravam ir para bordo de rebocadores, de traineiras, de pequenos barcos a remos ou à vela, foram atacados por forças da UNITA, que se deram ao luxo de incendiar tudo o que estava no cais, viaturas e caixotes. Se alguns se salvaram, devem-no à intervenção dos guerrilheiros da FNLA.
(...) Um milhão e quatrocentos mil refugiados é o cômputo que faço do êxodo dos angolanos. Em Portugal, um milhão e duzentos mil. Os restantes distribuídos pela África do Sul, pela Rodésia, pela Zâmbia, pelo Zaire, pela Austrália, pelo Brasil, por vários países mais.
Em Angola, quedaram-se no máximo, vinte mil pessoas da etnia branca: aderiram ao MPLA, por oportunismo ou convicção. Quase todas, no entanto, por oportunismo. Há cidades despovoadas de brancos. Outras têm dois ou três. De qualquer maneira, a etnia branca em Angola dispersa-se, principalmente, por Luanda, Benguela e Lobito.
Esses, os que ficaram, aceitaram um quotidiano de subserviência e enxovalhos. As raparigas (por informações dignas de confiança) sujeitaram-se às maiores indignidades, para captarem a simpatia dos aderentes do MPLA.
No que me toca, fui, repetidamente, ameaçado de morte. Resisti, enquanto pude, às angustiadas súplicas de minha mulher. Acabei por ceder, receando que ela enlouquecesse». (in Pompílio da Cruz, Angola: Os Vivos e os Mortos, pp. 235-238).
(123) Kaúlza de Arriaga, Guerra e Política. Em Nome da Verdade: Os Anos Decisivos, Edições Referendo, 1987, pp. 106-108.
(124) «O crime imputado aos participados é o previsto no artigo 141.º do Código Penal (intentar por qualquer meio violento ou fraudulento separar da mãe-Pátria qualquer território português), a que corresponde a pena de prisão de vinte a vinte e quatro anos.» (in Kaúlza de Arriaga, op. cit, p. 108).
(125) Fica, entretanto, mais este elucidativo testemunho de Pompílio da Cruz, desta feita sobre o significado iniludível de uma «Revolução» feita por e para facínoras de toda a espécie e feitio: «"Patriotismo", para Otelo, era sentimento obsoleto e traduzia-se por Democracia e Descolonização! Este, o princípio e fim, da Revolta militar, numa homenagem hipócrita do Vício à Virtude. Eufemisticamente, apelidaram a repressão à violência do terrorismo de "Guerra Colonial". Esta a maior hipocrisia! O Governo do antigo-regime, apodado de fascista, não encontrou meios de impedir o empolamento do militarismo, vício dum exército que se virava para político e que se mostrava sem espírito militar.
Na verdade as Forças Armadas Portuguesas não foram vencidas! Foram traídas, por uma minoria de palhaços fardados e políticos partidários, alcunhados de progressistas, tão insignificante que poderíamos em linguagem matemática, compará-lo ao DX - o menor factor de uma equação. Todavia, esta minoria conduziu Portugal à anarquia, à desordem, à ruína. Ao povo vendeu-se uma imagem que depois, dolorosamente a realidade desmentiu. Mas, o povo, na doce enbriaguês da "Democracia", deixou-se alienar pela "Suave Mentira" e manifestou-se, vivamente, em alarido, num tipo de reacção delirante. Delírio que levou ao suicídio, porque a Verdade foi profundamente prejudicada. Os "capitães de Abril" apareceram, catapultados por duas razões: "reivindicações de classe" e por "fuga de medrosos das comissões no Ultramar", imbuídos já da adesão a ideologias fanatizadoras e exóticas.
 |
 |
|
|
 |
Ver aqui
|
(...) E o que criou a "Revolução"? Para além de agravar os problemas sociais e económicos, forjou, sim, a mediocridade, a indisciplina, o absentismo, a incompetência. Mas, fez neste pobre e pequeno País, uma larga sementeira de ódios! Preocupados com a socialização dos meios de produção e a eliminação da burguesia e dos grandes proprietários esqueceram-se da Nação! Com a fúria de acelerar a estatização dos meios de produção e a apropriação pelo Estado dos métodos capitalistas, as ocupações selvagens, a desordem agrária, o esbanjamento rápido das reservas de ouro, conclamam-se, histericamente, senhores das conquistas da Revolução, das amplas liberdades! Para mim, que não sou nem nunca fui "fascista" - até hoje os democratas-progressistas não definiram o que é um fascista - das "amplas liberdades" recebi umas "cacetadas amplas", que me provocaram inconsciência durante seis horas, no Hospital de S. José!
(...) Não se pode nem será mais fácil para a maioria dos portugueses dizer adeus a oito séculos de História. A crónica política da "Descolonização" é uma galeria de génios da destruição, de virtuosos da dissimulação, de despudorados mistificadores e de mágicos da ubiquidade!
Não tanjo fados de saudade nem procuro a balbúrdia do exagero das palavras. Não desço às espertezas políticas que puderam alterar o fluxo dos problemas sociais e detonar os instintos primitivos, tal como aconteceu com os feiticeiros do "Processo Original", criando condições à mais feroz barbária e originando um clima de terror, logo transformado em pânico, em sacrificadas populações indefesas. Nem pretendo já argumentar "se um Presidente da República provisório e um Governo provisório, desacompanhados de orgãos representativos eleitos, podiam, com legitimidade amputar diabolicamente, uma Nação". Afirmo, sim, convictamente, que para o Crespo, o Costa Gomes, o Rosa Coutinho, o Melo Antunes, o Almeida Santos e outros da prateleira do etc., aumenta, sem surpreendente verificação, o valor da conta que a História sempre resgata aos traidores! Estes homens, aos olhos dos ultramarinos, qualquer que seja a sua etnia, responderão perante esta geração e perante a História! Já chorei de sofrimento, de desespero e de vergonha! Senti todos os transes da Humilhação. A única vitória dos chamados "colonos" foi a sua sobrevivência! Se é difícil criticar um "processo" qualquer, enquanto ele ainda está a decorrer, neste "original" caso, tudo se previu! Angola, tinha caído no vulcão danoso da traição!» (in Angola: Os Vivos e os Mortos, pp. 14-15; 17; 21-22).
 |
| Ver aqui |






























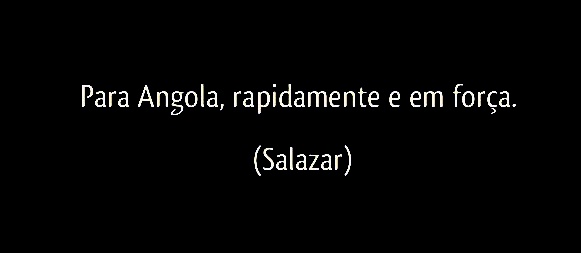















































Nenhum comentário:
Postar um comentário