«Despite the historic Brexit vote and soaring anti-European Union sentiment across the bloc, unelected EU bosses are moving forward with a plot to create a continental military force answerable only to the unaccountable superstate. In a throwback to the days of European imperialism, EU policymakers are already plotting to use their newly approved EU military headquarters in Brussels to provide more help to globalist institutions such as the United Nations as they occupy various African nations under the guise of “peace.” And despite British voters demanding that ties with the superstate be severed, efforts are being made to ensnare the United Kingdom's armed forces in the latest EU military scheme.
The latest shoe to drop in the EU's quest to usurp national militaries was approved last week. Essentially, the move, approved by senior ministers, will establish a headquarters of EU military work that will be called the “Military Planning and Conduct Capability (MPCC) facility.” It will be located in the same EU building in Brussels that currently houses the “EU Military Staff.” Starting next month, the new “facility” will run three EU military missions in Africa helping to train, among other forces, globalist “peace” troops serving the EU-backed African Union currently being imposed on Africans by Brussels and the mass-murdering regime in Beijing.
But that is just the start, as EU officials have already made clear. An unnamed “senior EU official” speaking to the online EU Observer declared that, for now, the EU military HQ in Brussels would handle EU military missions' “logistical, medical, legal, and communications' needs.” By next year, though, the outfit might “take charge of military missions that have a combat element.” One example provided of EU military combat missions includes a scheme known as “Sophia,” described as an “EU naval operation designed to fight human smugglers in the Mediterranean Sea.”
The announcement of the new scheme came just days after unelected EU Commission boss Jean-Claude Juncker, who leads the hybrid executive-legislative branch of the superstate, called for what amounts to an EU military. In a white paper published just a week before the latest news, Juncker and his cohorts called for EU states to “pool” their military resources and buy equipment together as further “integration” is pursued. The document even pitched the idea of creating a “European Defence Union” (sic) where the unelected EU would basically take control of military, law enforcement, and intelligence. Russia, ISIS, and other real and imagined boogeymen are serving as the pretext.
The news also comes amid the creation of a dizzying array of multinational military and policing schemes, some led by the EU, some by the UN, and some made up of multiple EU member states but without the superstate's involvement. Last summer, for example, The New American reported on an EU plot to create a transnational military-police force. The EU “Gendarmerie,” as the force is known, is charged with putting down protests and civil unrest, raiding illegal political meetings, propping up foreign governments, and even confiscating weapons. Police and troops from numerous African and Middle Eastern nations were involved in the controversial EU force's latest EU-funded training exercises.
At the same time, various European military units are being merged with units from other nations, creating transnational military units that analysts say could help serve as the “nucleus” of the widely anticipated future EU military. First, German and Dutch forces were merged into a unified command. More recently, in what British media described as a throwback to Germany's National Socialist (Nazi) alliances, German units were also being integrated with Romanian and Czech units. In February, officials from multiple EU nations announced a plan to create a transnational air force.
 |
| Ver aqui e aqui |
 |
| Ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 |
Separately, after helping engineer the migrant tsunami by bombing foreign countries and then offering tax money to everyone who showed up, EU bosses also exploited the chaos they caused to unleash a new EU “border force.” The controversial agency was given the power to intervene militarily in nations, even without their consent. Simultaneously, the EU is working to unleash what is being described as a “private army” to protect top EU bosses from alleged threats — a powerful force accountable to nobody but the unaccountable and unelected leaders of the EU.
Some unelected EU bosses denied that their latest scheme for an EU military HQ was the genesis of a full-blown EU military. EU Foreign Affairs boss Federica Mogherini, for instance, claimed the scheme is “not a European army.” “I know there is this label going around, but it’s a more effective way of handling our military work,” she added, expressing “pride” that the EU had decided to take the next step on the road to military integration. “We are progressing steadily towards strengthened defense cooperation and we will continue to do more.”
Other EU leaders, though, described the EU military headquarters as a “first step,” with the “European army, maybe later.” Former Belgian Prime Minister Guy Verhofstaht, a fanatical globalist who has openly demanded a federal superstate regime to rule Europe, described the new scheme as a “step in the right direction.” The end destination, though, was a “fully fledged EU military HQ” with responsibility for broader “defense” of the unelected, unaccountable superstate being imposed on the peoples of Europe.
As has been the case with every additional surrender of sovereign powers to the regime in Brussels, multiple top officials contradicted other officials and denied that they were doing what they were clearly doing. “This is not a precursor to a European army,” claimed Austrian Defense Minister Peter Doskozil, who was either misinformed or lying, if his colleagues are to be believed. “I don't think we are in a situation where nations ... want to give up elements of their sovereignty.”
Of course, with a few minor exceptions such as Brexit, “nations” and the people within them were never actually consulted on the subversion of their sovereignty by the establishment insiders behind the creation of the EU. But European governments have proven that they are more than willing to give up the sovereignty and self-government of those they ostensibly represent, all while lying to the public about what they are doing. The lies and the subversion of sovereignty have been going on for more than 60 years when it comes to the EU.
French and German officials were more open about the significance of the move and did not deny the real agenda. “We took a very important step toward a European security and defense union, because we have become very concrete,” radical German Defense Minister Ursula von der Leyen was quoted as saying. French Foreign Minister Michael Ayrault, who serves a Socialist Party-dominated government, also equated the latest scheme with “progress,” as has become typical every time new powers are usurped by the EU. “It's necessary that we make progress [on defense] in a world of uncertainties,” he said.
Despite the firm rejection of the EU by voters in Britain, the EU is also openly hoping to ensnare even non-EU members such as the United Kingdom in its military scheme. The German defense minister, for example, said Britain would be welcome and encouraged to participate despite voting last year to throw off the superstate's shackles. “For those who are not members of the European Union, like for example Norway or the British, there will be the possibility to join in selectively with certain projects or missions,” the minister said. “The Norwegians have great interest in this, the British have great interest in this.”
But for British leaders involved in Brexit, the whole charade is another example of why the EU is dangerous and out of control. “The EU has the same response to the vote for Brexit as a toddler has to the word no,” said Bill Etheridge, the defense spokesman for the pro-Brexit U.K. Independence Party (UKIP). “We have suffered years of the Blair-Clinton internationalism, we've been involved in conflicts that were none of our business while politicians pushed their soft power strategy, which sees us give billions abroad and underfund our own military. It doesn't work.” Indeed, EU boss Juncker declared this month that “soft power” was no longer enough, hence the alleged need for an EU military program.
Etheridge and other British leaders were particularly outraged about EU and European efforts to keep the United Kingdom entangled with the globalist forces in Brussels. “If France wants to be part of some EU military colonialism, that's up to them but the UK voted no to this,” the UKIP official said. “I am sure there are also millions who voted Remain who would be against this — perhaps having believed the lies there would be no EU army. Our military should be for the defense of our nation.” Other British leaders worried that the EU's militarization would pose a threat to NATO.
The latest EU scheme to usurp new powers is simply one more step on the long road to abolishing self-government and nationhood while centralizing power in the hands of unaccountable establishment globalists. Like the previous steps, it involves deceiving voters and citizens. And like the previous steps, it is all geared ultimately toward creating a totalitarian global system composed of totalitarian regional regimes such as the EU. But if Brexit and the surging support for anti-EU, anti-globalist political parties all across Europe is any guide, the peoples of Europe are waking up to the scam, and the EU's days may be numbered».
Alex Newman («Despite Brexit, Globalist EU Expands Transnational Military», in The New American, 14 March 2017).
«Ora a Nação é a transposição da paixão para o plano colectivo. A bem dizer, é mais fácil senti-lo do que explicá-lo racionalmente. Toda a paixão, dir-se-á, pressupõe dois seres e não se vê a que é que se pode dirigir a paixão assumida pela Nação... Sabemos, porém, que a paixão de amor, por exemplo, é no fundo um narcisismo, uma auto-exaltação do amante, bem mais que relação com a amada. O que Tristão deseja é mais a queimadura do amor do que a posse de Isolda. Porque a queimadura intensa e devoradora da paixão o diviniza e, como Wagner viu, o iguala ao mundo. "Meu olhar deslumbrado cega (...) Estou só - Eu, o mundo..."
A paixão quer que o eu se torne maior que tudo, tão só e poderoso como Deus. Ela quer (sem o saber) que para além dessa glória a sua morte seja verdadeiramente o fim de tudo.
O ardor nacionalista é também uma auto-exaltação, um amor narcisista do Eu colectivo. É certo que a sua relação com os outros se declara raramente como um amor: quase sempre é o ódio que surge em primeiro lugar e que se proclama. Mas este ódio do outro não estará sempre presente nos transportes do amor-paixão? Há portanto e apenas um deslocamento de ênfase. E depois, que pretende a paixão nacional? A exaltação da força colectiva só pode conduzir a este dilema: ou o imperialismo triunfa - é a ambição de se igualar ao mundo - ou o vizinho a isso se opõe energicamente - e é a guerra. Ora observa-se que uma nação no seu primeiro impulso passional raramente recua, frente a uma guerra mesmo sem esperança. Manifestando assim, sem o declarar, que prefere o risco da morte e a própria morte a abandonar a sua paixão. "Liberdade ou morte" gritavam os jacobinos no momento em que as forças inimigas pareciam vinte vezes superiores, no momento em que liberdade e morte estavam bem próximo de terem o mesmo sentido...
Assim, a Nação e a Guerra estão ligadas como o Amor e a Morte. Agora o facto nacional será o factor dominante da guerra. "Aquele que escreve sobre a estratégia e sobre a táctica devia limitar-se a defender apenas uma estratégia e uma táctica nacionais, únicas susceptíveis de serem proveitosas à nação para a qual escreve". Assim se exprime o general von der Goltz, discípulo de Clausewitz, que nunca deixou de afirmar que toda a teoria prussiana da guerra devia basear-se na experiência das campanhas da Revolução e do Império.
 |
| Tristão e Isolda |
A batalha de Valmy foi ganha pela paixão contra a "ciência exacta". É ao grito de Viva a Nação! que os sans-culottes repelem o exército "clássico" dos aliados. É famosa a frase de Goethe, na noite da batalha: "Deste lugar, deste dia, data uma nova era na história do mundo". E Foch comenta assim essa frase famosa: "Inaugurou-se uma nova era, a das guerras nacionais com aspectos desenfreados porque iam consagrar à luta todos os recursos da nação: porque iam propor-se como finalidade não um interesse dinástico, mas a conquista ou a propagação de ideias filosóficas (...) de vantagens imateriais (...), porque iam pôr em jogo sentimentos, paixões, quer dizer, elementos de força até então inexplorados"».
«[...] parecia terminada a conquista de Goa, dois anos depois de Santa Catarina, em 1510. Quando Albuquerque contemplava a cidade do alto da torre da fortaleza, não podia deixar de comparar o triste espectáculo daquelas ruínas com a visão luminosa que tanto o maravilhara outrora, ao descobri-la dos terraços do palácio de Adil Xá. Para o atropelo de interrogações que ia no espírito, só encontrava, como resposta, o messianismo cristão e as referências aos grandes conquistadores da Antiguidade. Como outros homens do tempo, sentia-se dividido entre os imperativos de um e a admiração que lhe inspiravam os outros. Mas ele era o primeiro a avançar na senda de Alexandre, e até a ultrapassá-lo, nas margens da Ásia.
Destruir Goa para de lá expulsar definitivamente o Islão, reconstruí-la depois para fazer dela a cidade ideal, implantar aí o cristianismo, criar uma sociedade sem distinções de raça nem de origem (à semelhança do que fizeram os colonos romanos), embora inserida nas estruturas administrativas e religiosas de um império, não era trabalhar no sentido do projecto imperial manuelino?
Sobre os vestígios da cidade "ímpia", e em vez de forum e templos, já delineava mentalmente o quadrado da cidade e as primeiras capelas. Ver ali rezar os casados e suas esposas não lhe fazia evocar as bodas de Susa, quando o grande Albuquerque celebrou o casamento entre os seus guerreiros e as cativas orientais, para integrar as novas conquistas?
Entretanto, por mais fascinante que fosse, a realidade não correspondia ao sonho de D. Manuel quando refazia mentalmente o mundo, nem este mundo era o mesmo que os Antigos haviam conhecido. O grã-capitão tinha de erguer sozinho o que ninguém ainda conseguira fazer antes dele.
Levantado aos primeiros gritos das gralhas, o governador ia à missa e montava a cavalo para inspeccionar as tropas. Agradava-lhe treinar alegremente com a gente de ordenança, ao som dos pífaros e tambores. Depois regressava à fortaleza para dar ordens, ler os pedidos a que logo respondia, para trabalhar com os intérpretes sobre as cartas que lhe enviavam os homens de Estado asiáticos. Quatro jovens secretários seguiam-no por toda a parte. Punha-os duramente à prova, chamando-os a qualquer hora do dia e da noite. Um deles, Gaspar Correia - que viria a ser mais tarde um dos maiores cronistas da Ásia portuguesa -, testemunha que o governador ditava sem parar, por vezes até quando estava a cavalo, e assinando ordens sobre o joelho. Os escribas ainda tinham de recopiar as cartas dirigidas ao rei D. Manuel em quatro exemplares, confiados a navios diferentes, para restringir ao máximo os riscos do mar.
Com um chapéu de palha, camisa com aberturas, coberta com um longo mantelete sem mangas, o governador ia visitar as famílias de casados que enchia de presentes, favorecendo deste modo o retomar dos casamentos mistos. Preocupado em manter auxílio à população hindu, via na ocupação muçulmana um episódio desastroso e esforçava-se por instalar de novo a ordem no respeito pelas instituições tradicionais, substituindo a autoridade do rei de Portugal à dos rajás de antanho. Uma das suas prerrogativas era a concessão de terras, o que permitiu a Albuquerque distribuir as dos Mouros sem provocar escândalo. Os proprietários de terras hindus não perderam nada com a troca de chefes. Ao receber um terço dos lucros, a administração portuguesa impunha-lhes taxas menos pesadas do que os rajás de Vijayanagar ou o Adil Xá. Este cobrava, além disso, tributos, cuja natureza não era revelada com receio de que não fossem repostos. Os Brâmanes continuaram a beneficiar dos proventos dos templos e as assembleias de aldeia voltaram às reuniões periódicas debaixo das figueiras asiáticas para gerirem os recursos do seu domínio.
[...] Afonso de Albuquerque tinha perfeita noção de a que ponto é incompreensível a experiência da Ásia para quem a não conhece. Todavia, ia prevenindo o rei de que a fidelidade à palavra dada não tinha o mesmo valor na Índia que em Portugal e não procedia da mesma ética: "Cuida Vossa Alteza de segurar com boas palavras paz e seguros, sendo mouros senhores de muita gente, muitos cavalos e muito dinheiro"... Efectivamente, os Mouros só tinham respeito pela força. E Albuquerque continua: "Como chego com armada sobre os seus portos, a principal coisa que logo trabalham é em saberem quanta gente temos, que armas trazemos. E se nos vêem força com que eles não possam, então nos recebem bem e nos dão as suas mercadorias e tomam as nossas de boa vontade, e se nos vêem fracos e poucos crede, senhor, que aguardam a derradeira determinação e se poem a tudo o que possa acontecer". E acrescenta: "A amizade que assentardes com qualquer rei ou senhor da Índia, se a não segurardes, tende por certo que volvendo-lhe as costas os tendes logo por imigos... Não ponhais o côvado na amizade dos reis e senhores de cá, porque não entrastes vos com querela em Índia para vos assenhorardes o trato deles com branduras nem concerto de pazes, nem vos faça nonguém lá [em Portugal] entender que é isto dura coisa de acabar e acabando-o que vos obrigara a muito"».
Geneviève Bouchon («Afonso de Albuquerque. O Leão dos Mares»).
«Muito antes das guerras, Portugal viu o desenvolvimento e o crescimento do transporte como a chave para conduzir uma campanha de contra-insurreição no ultramar. Desenvolveu as infra-estruturas importantes de estradas, aeródromos e portos antes dos conflitos de 1961 e começou a expandir antecipadamente este trabalho, à medida que o conflito tomava forma. Começou também as Campanhas com um quadro de logísticos treinados e expandiu este grupo nos anos imediatamente após 1961. Encontrou soluções para os problemas das grandes distâncias entre a metrópole e os teatros e evitou com sucesso a difícil situação da França na Indochina, onde as linhas de comunicação logísticas desde a Europa eram demasiado longas. A França tinha enfrentado também uma infra-estrutura local muito rudimentar para apoiar uma extensa campanha contra-insurrecional, sem recursos para a melhorar. Portugal previu este problema e já o tinha resolvido na sua estratégia.
Nas operações logísticas, Portugal foi rápido a pôr de lado o transporte das tropas por mar, após a corrida inicial, em favor dos aviões, embora tenha sido menos rápido a elevar esta decisão ao nível dos transportes a jacto. Esta acção contrastou com a dos britânicos na Malásia, que mantiveram os navios de transporte para levar o pessoal, apesar de mesmo os mais rápidos já estarem obsoletos. Em 1957, uma passagem marítima de uma pessoa para Singapura custava 120 libras. A tarifa aérea para o mesmo trajecto era de 45 libras. Esta relutância em mudar era incongruente num país que em 1950 desenvolvera o primeiro turbo-hélice, o Vickers Viscount, e dois anos mais tarde, o primeiro turbo-jacto, o DeHavilland Comet. Era ainda mais curioso o facto de que, viajando por mar, o soldado ficava afastado das suas funções durante talvez três semanas, comparado com as quarenta e oito horas que demoraria por ar [Kenneth Macksey, For Want of a Nail: The Impact on War of Logistics and Communications (Londres: Brassey's, 1989), 158-167].
Ao fazer a transição dos aeródromos e portos principais dos teatros para a distribuição local, Portugal desenvolveu um sistema minucioso de transporte por terra baseado numa vasta rede de estradas, em comboios protegidos e em procedimentos de desminagem testados. Estas medidas foram concebidas para derrotar as tentativas dos guerrilheiros de criar rupturas e para apoiar as tropas portuguesas. A resposta médica dos portugueses ficou entre as melhores dos conflitos após a Segunda Guerra Mundial, ultrapassando todos os esforços, excepto o do envolvimento norte-americano no Vietname. Tinha aplicado os recursos adequados imaginativamente para chegar a estes resultados e, paralelamente, para fornecer assistência médica à população. As fortes inovações neste campo, como o uso de helicópteros e de enfermarias pára-quedistas em evacuações médicas, aumentou a eficácia desta assistência. Em suma, os portugueses foram capazes de ultrapassar a ameaça de o ultramar esmorecer no final de uma longa e lenta via de comunicação marítima. Estabeleceram um sistema adequado ao conflito e suficientemente flexível para assegurar um elevado grau de sustentabilidade. A Comissão para o Estudo das Campanhas (1961-1974), criada pelo Chefe do Estado-Maior do Exército, observou no seu relatório: "Todos os que participaram nas Campanhas, qualquer que fosse o Teatro de Operações, concordaram que nunca faltou uma ração, um medicamento, uma peça de uniforme, uma munição, uma arma. Não havia grandes necessidades nem grandes abundâncias, mas o essencial, o fundamental, esse nunca faltaria..." [Subsídios para o Estudo da Doutrina Aplicada nas Campanhas de África, 198]. De tempos a tempos, havia escassez nalgumas áreas remotas, devido à acção da guerrilha contra os comboios terrestres; no entanto, em caso algum a interrupção foi mais do que um incómodo. A logística portuguesa era atempada e adequada nas suas entregas, e o resultado desta eficácia foi uma capacidade militar sustentável».
John P. Cann («Contra-Insurreição em África. O Modo Português de Fazer a Guerra, 1961-1974»).
«Os ensaios de Sun Tzu sobre "A Arte da Guerra" constituem os primeiros tratados conhecidos sobre o assunto, mas nunca foram ultrapassados em termos de alcance e profundidade de conhecimento. Podemos perfeitamente considerá-los a essência concentrada da sabedoria da conduta da guerra. De entre todos os pensadores militares do passado, somente Clausewitz é comparável, e até mesmo ele está mais "desactualizado" do que Sun Tzu, e em parte antiquado, embora escrevesse mais de dois mil anos depois. Sun Tzu tem uma visão clara, um conhecimento mais profundo e uma vivacidade eterna.
A civilização poderia ter sido poupada a muitos dos danos sofridos nas guerras mundiais deste século se a influência dos monumentais tomos de Clausewitz, Sobre a Guerra, que moldaram o pensamento militar europeu na era que precedeu a Primeira Guerra Mundial, tivessem sido unidos e harmonizados com a exposição de "A Arte da Guerra", de Sun Tzu. O realismo e a moderação de Sun Tzu formam um contraste em relação à tendência que Clausewitz tem para enfatizar a ideia lógica e "o absoluto", que os seus discípulos utilizariam para desenvolver a teoria e prática da "guerra total" para além de todos os limites do senso comum. "Introduzir na filosofia da guerra um princípio de moderação seria um absurdo - a guerra é um acto de violência levado ao limite extremo". No entanto, ele qualificaria subsequentemente esta afirmação admitindo que "o objecto político, enquanto motivo original da guerra, deveria ser o padrão para determinar o objectivo da força militar assim como a quantidade de esforço a ser realizado". Além disso, a sua conclusão lógica foi a de que para perseguir o extremo lógico exigia-se que "os meios perderiam toda a relação com o fim".
Os efeitos nocivos dos ensinamentos de Clausewitz tiveram principalmente origem na interpretação demasiado superficial e extrema dos seus discípulos, que negligenciaram as cláusulas de qualificação, mas ele contribuiu para esta interpretação errada explicando a sua teoria de forma demasiado abstracta e complexa para que os soldados de mente mais concreta pudessem seguir o curso do seu raciocínio, desviando-se com frequência da direcção que parecia levar. Impressionados e desorientados, agarraram-se às expressivas frases principais e esqueceram a tendência subjacente do seu pensamento - que não era muito diferente das conclusões de Sun Tzu, como poderia parecer superficialmente.
A clareza do pensamento de Sun Tzu poderia ter corrigido a obscuridade de Clausewitz. Infelizmente, Sun Tzu só foi conhecido no Ocidente por intermédio de uma tradução resumida de um missionário francês, pouco antes da Revolução Francesa, e embora agradasse à tendência racional do pensamento sobre a guerra no século 18, a sua promessa de influência foi engolida pelo movimento emocional da Revolução e subsequente efeito intoxicante das vitórias napoleónicas sobre adversários convencionais e respectivas tácticas demasiado formalizadas. Clausewitz iniciou o seu pensamento sob a influência dessa intoxicação, e morreu antes de conseguir concluir a revisão da sua obra, o que deu origem a "infindáveis interpretações erradas" que ele tinha previsto na sua nota testamentária. Na altura em que as traduções posteriores de Sun Tzu foram produzidas no Ocidente, o mundo militar estava sob a influência dos extremistas de Clausewitz, e a voz do sábio chinês produziu pouco eco. Nenhum soldado ou estadista deu atenção ao seu aviso: "Nunca houve uma guerra prolongada com a qual um país tenha beneficiado"».
B. H. LIDDELL HART (Prólogo a Sun Tzu, «A Arte da Guerra», TASCHEN, 2007).
DA NATUREZA DA GUERRA
O QUE É A GUERRA?
1. Introdução
Propomos, em primeiro lugar, uma análise individual e separada dos elementos do nosso assunto. Em seguida, cada ramo ou parte, e, por último, o todo em todas as suas relações - avançar, portanto, do simples para o complexo. É, todavia, necessário começarmos por lançar um olhar sobre a natureza do todo, isto porque é fundamental que na análise de qualquer uma das partes a sua relação com o todo seja sempre mantida debaixo de olho.
2. Definição
Não abordaremos o assunto através de nenhuma das definições obscuras usadas pelos publicistas. Restringir-nos-emos à essência da coisa em si, ou seja, a um duelo. A Guerra não é mais do que um duelo numa vasta escala. Se concebêssemos à unidade os inúmeros duelos que compõem uma Guerra, fá-lo-íamos melhor imaginando dois lutadores.
Cada um deles tenta através da força física coagir o outro a submeter-se à sua vontade: cada um deles procura derrotar o seu adversário, e torná-lo assim incapaz de mais resistência.
A Guerra é, então, um acto de violência com vista a coagir o nosso adversário a submeter-se à nossa vontade.
A violência arma-se com as invenções da Arte e da Ciência para combater a violência. Acompanham-na as restrições auto-impostas, quase imperceptíveis e pouco dignas de serem mencionadas, práticas designadas pela Lei Internacional que, essencialmente, não enfraquecem o seu poder. A violência, ou seja, a força física (pois não existe força moral sem a noção de Estados e Lei) é, portanto, o meio. A necessária submissão do inimigo à nossa vontade é o objectivo final. Para atingirmos inteiramente este objectivo, o inimigo deve ser desarmado, e o desarmamento torna-se assim, em teoria, o objectivo imediato das hostilidades. Toma o lugar do objectivo final, e coloca-o à parte como algo que podemos eliminar dos nossos cálculos.
3. O máximo uso da força
Nesta altura, os filantropos imaginam, quase de certeza, que existe um método engenhoso de desarmar e vencer um inimigo sem causar um grande derramamento de sangue, e que isto é a predisposição correcta da Arte da Guerra. Por muito plausível que isso possa parecer, é um erro que deve ser extirpado. Em assuntos tão perigosos como a Guerra, os piores erros são os que provêm de um espírito benevolente. Dado que o uso do poder físico até à sua máxima extensão não exclui, de modo algum, a cooperação da inteligência, daí resulta que todo aquele que usa a força com prodigalidade, sem fazer alusão ao derramamento de sangue envolvido, deve obter uma superioridade se o seu adversário usar menos vigor na sua aplicação. O primeiro dita então a lei para o segundo, e ambos avançam para extremidades onde as limitações são apenas as que são impostas pela quantidade de força neutralizante de cada um dos lados.
É assim que este assunto deve ser encarado, e não vale a pena, chega mesmo a ser contra os próprios interesses de cada um, virar as costas à verdadeira natureza do assunto porque o horror dos seus elementos provoca repugnância. Se as Guerras das pessoas civilizadas são menos cruéis e destrutivas do que as dos selvagens, essa diferença surge da condição social de ambos os Estados e das relações entre si. É desta condição social e das suas relações que se desencadeia a Guerra que é sujeita a condições, controlada e modificada. Mas isto não pertence à Guerra em si; são apenas condições fornecidas; além disso, seria um absurdo introduzir na filosofia da própria Guerra um princípio de moderação.
Há dois motivos que conduzem os homens à Guerra: hostilidade instintiva e intenção hostil. Na nossa definição de Guerra, escolhemos o último destes elementos como sua característica, por ser o mais geral. É impossível imaginar a intensidade do ódio da descrição mais violenta, limitando-nos apenas ao instinto, sem a combinar com a ideia de intenção hostil. Por outro lado, as intenções hostis podem muitas vezes existir sem que haja qualquer acontecimento de extrema hostilidade de sentimentos. Entre os selvagens predominam as opiniões que emanam dos sentimentos, e entre as nações civilizadas predominam as que emanam do entendimento; mas esta diferença surge das circunstâncias, das instituições, etc., e, portanto, não se encontra necessariamente em todos os casos, embora prevaleça na maioria. Em suma, mesmo as nações mais civilizadas podem consumir-se no fogo do ódio de uma pela outra.
Daqui podemos ver a falácia que seria referirmo-nos à Guerra de uma nação civilizada inteiramente como um acto inteligente vindo da parte do Governo, e imaginá-lo a libertar-se cada vez mais de todo o sentimento de paixão de uma tal forma que, por fim, já nem os combatentes físicos seriam necessários; na realidade, bastariam apenas as suas relações - uma espécie de acção algébrica.
A teoria estava a encaminhar-se nesta direcção quando os factos da última Guerra a fizeram mudar de ideias. Se a Guerra é um acto de força, também pertence necessariamente aos sentimentos. Se não tem origem nos sentimentos, reage, em maior ou menor escala, sobre eles e a extensão desta reacção não depende do grau de civilização, mas da importância e da duração dos interesses envolvidos.
Consequentemente, se pensamos que as nossas nações civilizadas não condenam à morte os seus prisioneiros, não devastam cidades e países, isso é porque a inteligência exerce uma grande influência na forma como conduzem a Guerra, e lhes ensinou meios mais eficazes de aplicar a força para além desses rudes actos provenientes do instinto. A invenção da pólvora, o constante progresso e aperfeiçoamento das armas de fogo, são provas suficientes de que a tendência para destruir o adversário, que reside na base do conceito da Guerra, não se alterou nem modificou através do progresso da civilização.
Repetimos assim que a Guerra é um acto de violência levado ao extremo; visto que um lado dita a lei ao outro, daí nasce uma espécie de acção recíproca que, logicamente, deve conduzir a um extremo. Esta é a primeira acção recíproca, e o primeiro extremo com que nos deparamos (primeira acção recíproca).
4. O objectivo é desarmar o inimigo
Já dissemos que o objectivo de toda a acção na Guerra é desarmar o inimigo e, agora, demonstraremos que isto é, pelo menos teoricamente, indispensável.
Se é preciso que o nosso adversário seja coagido a obedecer à nossa vontade, devemos colocá-lo numa posição que seja para ele mais cruel do que o sacrifício que lhe exigimos: mas as desvantagens desta posição não devem ser, obviamente, de natureza transitória, pelo menos em aparência, caso contrário, o inimigo, em vez de mostrar submissão, irá resistir com a perspectiva de uma reviravolta. Qualquer alteração nesta posição, produzida por uma continuação da Guerra, deveria então ser para pior. E o pior que pode acontecer a um beligerante é ser completamente desarmado. Se, todavia, a intenção é reduzir o inimigo à submissão mediante um acto de Guerra, ele deve ser absolutamente desarmado ou ameaçado com essa possibilidade. Daqui resulta que, desarmar ou derrotar o inimigo, o que quer que lhe chamemos, deve ser sempre o objectivo da Guerra. Mas a Guerra é sempre o choque de dois corpos hostis em colisão, não a acção de um poder vivo sobre uma massa inanimada, e um estado de resistência ilimitado não seria fazer Guerra; portanto, o que acabámos de dizer em relação ao objectivo da acção na Guerra aplica-se a ambas as partes. Aqui temos então um outro caso de acção recíproca. Enquanto o inimigo não estiver derrotado, pode derrotar-me. Nesse caso, deixarei de ser senhor de mim mesmo; ele ditar-me-á a lei, tal como eu lhe ditei a ele. Esta é a segunda acção recíproca, que conduz a um segundo extremo (segunda acção recíproca).
5. O máximo uso de poderes
Se o que pretendemos é derrotar o inimigo, então devemos ajustar os nossos esforços aos seus poderes de resistência. Isto é expresso pelo produto de dois factores que não podem ser separados, nomeadamente, a soma dos meios disponíveis e a força da vontade. A soma dos meios disponíveis pode ser calculada por uma escala, já que depende (embora não inteiramente) dos números. Mas a força da vontade é mais difícil de determinar, e apenas pode ser calculada até um certo ponto pela força dos motivos. Seguros de que obtivemos assim uma aproximação à força do poder que vamos enfrentar, podemos deitar os olhos sobre os nossos próprios meios e, das duas uma, ou os aumentamos de modo a obtermos uma preponderância, ou, no caso de não possuirmos recursos para tal, procuraremos desenvolvê-los o melhor que pudermos. Mas o adversário faz exactamente o mesmo; portanto, deve criar um esforço revigorado em direcção a um extremo. Este é o terceiro caso de acção recíproca, e o terceiro extremo com que nos deparamos (terceira acção recíproca).
6. Modificação na realidade
Raciocinando assim no abstracto, a mente não pode chegar perto de um extremo porque tem de lidar com outro, com um conflito de forças entregues a si mesmas que obedecem apenas às suas leis internas. Se procurássemos deduzir da concepção pura da Guerra um ponto absoluto para o objectivo que iremos propor e para os meios que iremos aplicar, esta constante acção recíproca envolver-nos-ia em extremos, que não passariam de um jogo de ideias produzido por uma sucessão quase invisível de subtilezas lógicas. Se, aderindo rigorosamente ao absoluto, tentarmos evitar todas as dificuldades com um golpe de escrita e insistirmos com rigor lógico que em todos os casos o extremo deve ser o objectivo, e que o máximo esforço deve ser efectuado nesse sentido, tal escrita seria uma mera lei em papel, de modo algum adaptada ao mundo real.
Mesmo supondo que esta tensão extrema de forças era um absoluto que facilmente poderia ser determinado, temos ainda assim de admitir que a mente humana muito dificilmente se submeteria a esta espécie de quimera lógica. Haveria, em muitos casos, um desnecessário desperdício de poder, que estaria em oposição com outros princípios de governação; seria exigido um esforço da vontade desproporcionado ao objectivo proposto, que, portanto, seria impossível de realizar, uma vez que a vontade humana não deriva de subtilezas lógicas.
Mas tudo toma uma forma diferente quando passamos do campo das abstracções para a realidade. Aqui tudo deve ser tema de optimismo e devemos imaginar tanto um lado como o outro a lutar pela perfeição e, até mesmo, a atingi-la.
Poderá isto algum dia acontecer na realidade? Poderá se,
(1) A Guerra se tornar num acto completamente isolado, que surge de repente, e que não está de forma alguma ligado com a história passada dos estados combatentes.
(2) Se está limitada a uma única solução, ou a várias soluções simultâneas.
(3) Se contém em si mesma a solução perfeita e completa, liberta de qualquer reacção que possa recair sobre ela, mediante um cálculo antecipado da situação política que se seguirá.
7. A Guerra nunca é um acto isolado
Em relação ao primeiro ponto, nenhum dos dois adversários é uma pessoa abstracta para a outra, nem sequer em relação àquele factor no cálculo da resistência que não depende das coisas objectivas, nomeadamente, a vontade. Esta vontade não é uma quantidade totalmente desconhecida; prevê o que será amanhã pelo que é hoje. A Guerra não aparece assim repentinamente, não atinge o seu auge num instante; cada um dos dois adversários pode, portanto, formar uma opinião do outro, em grande medida pelo que ele é e pelo que faz, em vez de o julgar pelo que ele, estritamente falando, deveria ser ou deveria fazer. Mas, actualmente, o homem, com a sua defeituosa organização encontra-se muito abaixo da linha da perfeição absoluta. Assim, estas imperfeições, tendo uma influência em ambos os lados, tornam-se um princípio modificador.
8. A Guerra não consiste num único golpe instantâneo
O segundo ponto levanta as seguintes considerações: Se a Guerra terminasse numa única solução, ou em várias soluções simultâneas, então, naturalmente, todos os preparativos para a mesma teriam uma tendência para o extremo, já que uma omissão jamais poderia ser reparada; então, o extremo que o mundo da realidade nos poderia fornecer como guia seriam os preparativos do inimigo, até ao ponto em que os conhecemos; tudo o resto cairia no domínio do abstracto, Mas se o resultado derivar de vários actos sucessivos então, naturalmente, aquele que antecede com todas as suas fases pode ser tomado como uma medida para o que se segue e, desta maneira, o mundo da realidade toma, mais uma vez, o lugar do abstracto e modifica assim o esforço em direcção ao extremo.
Contudo, todas as guerras se resolveriam necessariamente numa única solução, ou numa soma de soluções simultâneas, se todos os meios exigidos para a luta fossem aplicados ao mesmo tempo, ou pudessem ser aplicados ao mesmo tempo. Se um resultado adverso reduz forçosamente os meios, então se todos os meios tivessem sido aplicados no primeiro, seria impossível imaginar um segundo. Todos os actos hostis que se poderiam seguir pertenceriam obrigatoriamente ao primeiro, e apenas fariam parte da sua duração.
Mas acabámos de ver que mesmo nos preparativos para a Guerra o mundo real toma o lugar da mera noção abstracta - um padrão material toma o lugar da hipótese de um extremo: que, portanto, dessa forma, ambas as partes, pela influência da reacção mútua, permanecem abaixo da linha do extremo esforço e, portanto, as forças não são todas aplicadas ao mesmo tempo. Reside também na natureza destas forças, e na sua aplicação, o facto de não poderem ser postas todas em actividade ao mesmo tempo. Estas forças são os exércitos a pé, o país com toda a sua superfície, a população, e os aliados.
Na realidade, o país, com toda a sua área de superfície e a população, para além de ser a fonte de toda a força militar, constitui uma parte integrante das quantidades eficazes na Guerra, fornecendo o palco da Guerra ou exercendo uma considerável influência sobre ele.
É possível pôr em actividade todas as forças militares móveis ao mesmo tempo, mas não as fortalezas, os rios, as montanhas, o povo, etc. - em resumo, não se pode fazê-lo com o país todo, a não ser que seja tão pequeno que seja abrangido pela primeira acção da Guerra. Mais, a cooperação dos aliados não depende da vontade dos beligerantes; e esta cooperação, devido à natureza das relações pessoais entre os dois estados só é frequentemente acordada depois da guerra ter começado, ou pode ser aumentada para restaurar a balança de poderes.
Mais à frente demonstraremos mais detalhadamente que esta parte dos meios de resistência, que não podem ser todos postos em actividade em simultâneo, constitui, em muitos casos, uma parte do todo maior do que à primeira vista poderíamos supor e que, frequentemente, restaura a balança dos poderes seriamente afectada pela força crucial da primeira decisão. Aqui e agora é suficiente demonstrar que uma concentração integral de todos os meios disponíveis num dado momento é contraditória com a natureza da Guerra. Isto, em si mesmo, não é razão para afrouxarmos os nossos esforços com vista a acumularmos forças para vencermos o primeiro resultado. É certo que um resultado desfavorável é sempre uma desvantagem a que ninguém se exporia de livre vontade, e também porque a primeira decisão, embora não sendo a única, é a que tem uma maior influência nos eventos subsequentes.
Mas a possibilidade de ganhar um resultado final faz que os homens se refugiem nessa expectativa, devido à repugnância que está na mente humana de se fazerem esforços sucessivos. E, portanto, na primeira decisão não são concentradas as forças, nem são tomadas as medidas com aquela energia que, caso contrário, seria empregue. O que quer que um beligerante omita por fraqueza, torna-se para o outro um motivo objectivo para limitar os seus próprios esforços e, assim, mais uma vez, através desta acção recíproca, tendências extremas são reduzidas a esforços numa escala limitada.
9. O resultado na Guerra nunca é absoluto
Por último, até mesmo a decisão final de toda uma guerra não deve ser sempre encarada como absoluta. Na maioria das vezes, o Estado conquistado apenas vê nela um mal passageiro, que pode ser reparado mais tarde, através de acordos políticos. O quanto isto deve modificar o grau de tensão e o vigor dos esforços realizados, é por si só evidente.
10. As probabilidades da vida real tomam o lugar das noções de extremo e de absoluto
Desta forma, a acção na Guerra é, no seu todo, afastada da rigorosa lei de forças exercidas até ao extremo. Se o extremo já não é nem procurado nem temido, deve-se deixar que o julgamento determine os limites para os esforços a serem desenvolvidos no seu lugar, e isto apenas pode ser feito com os dados fornecidos pelos factos do mundo real, pelas leis da probabilidade. A partir do momento em que os beligerantes deixam de ser meras noções, mas Estados e Governos individuais, a partir do momento em que a Guerra deixa de ser um ideal, mas um procedimento substancial definido, então a realidade irá fornecer os dados para se calcularem as quantidades desconhecidas que é necessário encontrar. A partir do carácter, das medidas, da situação do adversário e das relações circundantes cada lado irá retirar as suas conclusões através da lei da probabilidade relativamente às intenções do outro, e actuar em conformidade.
11. O objectivo político reaparece
Aqui a questão que colocámos de parte reaparece para que a analisemos, nomeadamente, o objecto político da Guerra. A lei do extremo, a visão de desarmar o adversário, de subjugá-lo, usurpou até esta altura e, em certa medida, o lugar deste objectivo ou finalidade. Da mesma forma que esta lei perde a sua força, também o objectivo político deve reaparecer. Se a análise no seu todo é um cálculo da probabilidade baseada em pessoas definidas e relações, então o objecto político deve ser um factor essencial no seu resultado. Quanto menor for o sacrifício que pedimos ao nosso adversário, menores serão, espera-se, os meios de resistência empregues por ele. Mais, quanto menor for o nosso objectivo político, menor será o valor que lhe atribuímos e mais facilmente seríamos induzidos a desistir de tudo.
Assim, portanto, sendo o objectivo político o motivo original da Guerra, será o padrão para determinar tanto a finalidade da força militar como o esforço total a ser empregue. Isto não pode existir só por si, mas existe relativamente a ambos os Estados beligerantes, pelo facto de estarmos preocupados com realidades e não com meras abstracções. Um mesmo objectivo político pode produzir efeitos totalmente diferentes em pessoas diferentes ou até mesmo nas mesmas pessoas em épocas diferentes; podemos, portanto, admitir o objectivo político apenas como a medida, considerando-o nos efeitos que tem sobre as massas a atingir e, consequentemente, a natureza dessas massas também deve entrar em consideração. É fácil de verificar que o resultado pode ser muito diferente de acordo com o espírito que anima estas massas e se infunde ou não vigor na sua acção. É bem possível que existindo um tal estado de espírito entre dois estados, um motivo de guerra insignificante vá produzir um efeito muito desproporcionado - na verdade, uma autêntica explosão.
Isto aplica-se aos esforços que o objectivo político exigirá dos dois Estados, e à finalidade que a acção militar prescrever para si mesma. Por vezes, pode até mesmo ser essa finalidade, como por exemplo, a conquista de uma região. Noutras vezes, o objectivo político em si não se adequa à finalidade da acção militar; nesse caso, deve ser escolhida uma que lhe seja equivalente e que tome o seu lugar relativamente ao estabelecimento da paz. Mas também nisto devemos ter em atenção o carácter dos Estados em questão. Há circunstâncias em que o equivalente deve ser mais poderoso do que o objectivo político, de forma a garanti-lo. O objectivo político será tanto mais o padrão da finalidade e do esforço, e terá tanto mais influência sobre si mesmo, quanto mais as massas forem indiferentes e quanto menor for a existência de um sentimento de hostilidade entre os dois Estados por outras causas. Há casos, portanto, em que o objectivo político por si só será decisivo.
Se a finalidade da acção militar for equivalente ao objectivo político, essa acção irá, em geral, diminuir, à medida que o objectivo político diminui e num grau ainda maior quanto mais forte for o domínio do objectivo político. Assim está explicado como, sem qualquer contradição, podem existir Guerras de todos os graus de importância e de energia, desde uma guerra de extermínio até ao mero uso de um exército de observação. Isto, todavia, conduz-nos a outra espécie que teremos de explicar e desenvolver daqui para a frente.
12. Uma suspensão na acção da guerra não explicada por nada do que foi dito até agora
Por muito insignificantes que sejam os avanços nas pretensões mútuas, por muitos que tenham sido os meios empregues, por muito fraca que seja a finalidade para a qual está dirigida a acção militar, poderá esta acção ser suspensa ainda que só por um momento? Esta é uma questão que penetra profundamente na natureza do assunto.
Para que qualquer transacção seja realizada é preciso um certo tempo ao qual chamamos a duração. Este tempo pode ser mais longo ou mais curto, consoante o desembaraço da pessoa envolvida.
Acerca disso não temos de nos preocupar nesta fase. Cada pessoa age à sua maneira. Mas a pessoa lenta não prolonga uma actividade por desejar dedicar-lhe mais tempo, mas antes porque pela sua natureza necessita de mais tempo e se aplicasse uma maior celeridade não faria as coisas tão bem. Este tempo, portanto, depende de causas subjectivas e pertence à chamada duração da acção.
Se admitirmos isto em cada acção na Guerra, então devemos assumir, pelo menos à primeira vista, que cada prolongamento do tempo para além da sua duração, ou seja, cada suspensão de acção hostil, parece um absurdo. Relativamente a isto, não podemos esquecer-nos de que neste momento estamos a referir-nos não ao progresso de cada um dos dois adversários, mas antes ao progresso geral de toda a acção da Guerra.
13. Há apenas um motivo que pode suspender a acção e isto parece ser apenas possível num dos lados
Se duas partes se armaram para um conflito então é porque algum sentimento de animosidade as levou a isso; enquanto continuarem armados, ou seja, enquanto não chegarem a um acordo de paz, este sentimento continua a existir. Somente um motivo conduzirá a uma imobilização: qualquer um dos lados está a aguardar um momento mais favorável para a acção. À primeira vista, parece que este motivo só pode existir de um lado, porque poderá ser prejudicial ao outro. Se um tem interesse em agir, então o outro deve ter interesse em esperar.
Um completo equilíbrio de forças nunca pode produzir uma suspensão na acção, pois durante esta suspensão, aquele que possui o objectivo definido (ou seja, o atacante) vai continuar a avançar; pois, se imaginarmos um tal equilíbrio, aquele que possui o objectivo definido, ou seja, o motivo mais forte, pode ao mesmo tempo comandar apenas os meios menores, de modo que a equação é conseguida através do produto entre o motivo e o poder, e então devemos dizer, que se não for esperada nenhuma alteração no equilíbrio desta condição, então as duas partes devem estabelecer a paz. Mas se for esperada uma alteração, esta apenas pode ser favorável para um dos lados e, portanto, o outro possui um interesse óbvio em agir sem mais delongas. Verificamos que a ideia de um equilíbrio não pode explicar a suspensão das armas, mas que desemboca na questão da probabilidade de um momento mais favorável.
Suponhamos que um dos dois Estados possui um objectivo definido, como, por exemplo, a conquista de uma região do inimigo - que será utilizada durante o acordo de paz. Após esta conquista, o seu objectivo político encontra-se cumprido, cessa a necessidade de acção e, para ele, segue-se uma pausa. Se o adversário também se contentar com esta solução, estabelecer-se-á a paz, caso contrário, aquele deverá agir. Agora, se supusermos que dali a quatro semanas ele estará em melhores condições para agir, então ele possui motivos suficientes para protelar o tempo da acção.
Mas a partir desse momento o percurso lógico para o inimigo parece ser agir como se não pretendesse dar à parte conquistada o tempo desejado. Claro que, de acordo com este modo de pensar, é necessário efectuar-se uma profunda análise do estado das circunstâncias de ambos os lados.
14. Como uma continuação na acção decidirá qual deles irá avançar para o clima
Se realmente existisse esta continuidade imperturbável de operações hostis, tudo seria novamente conduzido para um extremo; pois, independentemente do efeito de tal actividade incessante na inflamação dos sentimentos, na inspiração de um extraordinário grau de paixão e uma poderosa força elementar, também decorreria deste prosseguimento da acção uma estrita continuidade, uma conexão mais estreita entre causa e efeito e, assim, cada acto isolado adquiriria uma maior importância e, consequentemente, estaria mais repleto de perigos.
Mas nós sabemos que o decorrer da acção na Guerra raramente ou nunca tem esta continuidade inquebrável, e que houve muitas Guerras em que a acção ocupou, de longe, a porção mais pequena do tempo total, sendo que o tempo restante foi consumido na inacção. É impossível que isto seja sempre uma anomalia. A suspensão na acção da Guerra deve, portanto, ser possível, não há aqui nenhuma contradição. Vamos agora prosseguir e demonstrar como é isto possível.
15. Nesta altura é requisitado o princípio da polaridade
Tal como supusemos que os interesses de um General são sempre contrários aos interesses do outro, assumimos uma verdadeira polaridade. Reservamos uma explicação mais completa acerca disto num outro capítulo, fazendo apenas aqui a seguinte afirmação.
O princípio da polaridade é válido apenas quando pode ser concebido numa única e mesma coisa, quando o positivo e o seu oposto (o negativo) se anulam completamente. Numa luta, cada um dos lados esforça-se para conquistar o outro; nisso há uma verdadeira polaridade, pois a vitória de um dos lados aniquila a vitória do outro. Mas quando falamos de duas coisas diferentes que possuem uma relação comum exterior a si próprias, então não são as coisas mas as relações entre elas que possuem a polaridade.
16. O ataque e a defesa são coisas de espécies diferentes e de força desigual. A polaridade, portanto, não se aplica a nenhum deles
Se existisse apenas uma forma de Guerra, isto é, o ataque do inimigo e não existisse defesa, ou, por outras palavras, se o ataque se distinguisse da defesa meramente pelo objectivo definido que um possui e o outro não, mas os métodos de cada um fossem precisamente os mesmos: então, neste tipo de luta, cada vantagem ganha por um dos lados seria uma desvantagem correspondente para o outro, e existiria uma verdadeira polaridade.
Mas a acção na Guerra divide-se em duas formas, ataque e defesa, o que, como iremos explicar mais em pormenor, são muito diferentes e de força desigual. A polaridade, portanto, reside naquilo que ambos partilham, que constitui uma relação entre ambos, e que é a decisão.
Se um General deseja adiar uma solução, o outro deve desejar apressá-la, mas apenas pela mesma forma de acção. Se for do interesse de A não atacar de imediato o seu inimigo mas daí a quatro semanas, então é do interesse de B ser atacado, não daqui a quatro semanas mas já. Este é o directo antagonismo de interesses, mas daqui não resulta de forma alguma que seja do interesse de B atacar o inimigo imediatamente. Isso seria algo completamente diferente.
17. O efeito da polaridade é frequentemente destruído pela superioridade da defesa sobre o ataque, e assim se explica a suspensão da acção na guerra
Se o modo de defesa é mais forte do que o do ataque, tal como iremos demonstrar mais à frente, levanta-se a seguinte questão: será a vantagem de uma decisão protelada tão poderosa de um lado quanto a vantagem da forma defensiva do outro? Se assim não for, então ela não pode através do seu contrapeso equilibrar a segunda e assim influenciar o progresso da acção na guerra. Verificamos, portanto, que a força impulsiva existente na polaridade de interesses pode perder-se na diferença entre a força da ofensiva e da defensiva, e tornar-se assim ineficaz.
 |
| Ver aqui |
 |
| Ver aqui |
Se então o lado para o qual o presente está a ser favorável é demasiado fraco para prescindir da vantagem da defensiva, deve aguentar as perspectivas desfavoráveis que o futuro lhe reserva; pois será muito melhor lutar numa batalha pela defensiva, ainda que num futuro pouco promissor, do que assumir uma ofensiva ou estabelecer de imediato a paz. Agora, estando convencidos de que a superioridade da defensiva (bem entendido) é muito grande, e muito maior do que pode parecer à primeira vista, pensamos que a maior parte daqueles períodos de inacção que ocorrem na guerra estão assim explicados sem haver nenhuma contradição. Quanto mais fracos forem os motivos para a acção, mais facilmente esses motivos serão absorvidos e neutralizados por esta diferença entre ataque e defesa, e mais frequentemente, portanto, irá a acção na guerra ser interrompida, tal como nos ensina a experiência.
18. Um segundo motivo consiste no conhecimento imperfeito das circunstâncias
Mas ainda existe um outro motivo que pode levar a uma paragem na Guerra, nomeadamente, uma visão incompleta da situação. Cada General apenas pode conhecer profundamente bem a sua posição. A posição do seu adversário só pode ser conhecida mediante relatórios, os quais podem ser incertos. Ele pode, portanto, formar um julgamento errado em relação a essa posição segundo os dados dessa descrição, e, em consequência desse erro, pode supor que o poder de tomar a iniciativa reside no seu adversário quando realmente reside em si mesmo. Essa necessidade de um perfeito conhecimento pode certamente ocasionar uma acção fora de tempo, assim como uma inacção fora de tempo e, desse modo, tanto pode contribuir para atrasar como para acelerar a acção na Guerra. Ainda assim, deve ser sempre encarada como uma das causas naturais que pode levar a acção na Guerra a uma paragem sem envolver uma contradição. Mas, se pensarmos no quanto estamos sempre muito mais inclinados e induzidos a calcular o poder dos nossos adversários como sendo superior e não inferior ao nosso, porque é próprio da natureza humana, temos de admitir que o nosso conhecimento imperfeito dos factos em geral deve contribuir em muito para atrasar a acção na Guerra, e para modificar a aplicação dos princípios durante a nossa liderança.
A possibilidade de uma paragem traz à acção na Guerra uma nova modificação, visto que dilui essa acção com o elemento do tempo, trava a influência ou a sensação de perigo no seu curso, e aumenta os meios de se restabelecer o equilíbrio de força perdido.
Quanto maior for a tensão dos sentimentos que desencadearam a Guerra, maior será, portanto, a energia com que ela é levada a cabo, e assim o período de inacção será menor. Por outro lado, quanto mais fraco for o princípio de actividade bélica, mais longos serão estes períodos, pois motivos poderosos aumentam a força da vontade, e isto, como sabemos, é sempre um factor no produto da força.
19. Frequentes períodos de inacção na guerra afastam-na cada vez mais do absoluto e faz com que ela seja mais um cálculo de probabilidades
Mas quanto mais lentamente a acção na Guerra avançar, mais frequentes e longos serão os períodos de inacção e, desta forma, mais facilmente será repetido algum erro. Assim, quanto mais arrojado for um General nos seus cálculos, mais depressa ele os mantém abaixo da linha do absoluto, e irá construir tudo sobre as probabilidades e conjecturas. Assim, consoante o decurso da Guerra é mais ou menos lento, mais ou menos tempo será permitido para aquilo que exige a natureza de um caso específico, ou seja, o cálculo da probabilidade baseado em determinadas circunstâncias.
20. Portanto, o factor acaso apenas pretende fazer da guerra um jogo, e esse factor não lhe falta
Verificamos pelo que foi dito o quanto a natureza objectiva da Guerra faz dela um cálculo de probabilidades; ora, existe um único elemento que pretende fazer dela um jogo, e esse elemento não lhe falta: o acaso. Não existe nenhuma outra matéria do foro humano que mantenha uma conexão tão estreita e regular com o acaso como a Guerra. Mas juntamente com o acaso, também o inesperado e a boa sorte ocupam aqui um lugar de grande importância.
21. A Guerra é um jogo tanto objectiva como subjectivamente
Se deitarmos agora um olhar sobre a natureza subjectiva da Guerra, ou seja, àquelas condições sob as quais é levada a cabo, ela vai parecer-nos mais como um jogo. Em primeiro lugar, o elemento central das operações de Guerra é o perigo; mas qual é no perigo a primeira das qualidades morais? A coragem. Certamente a coragem é bastante compatível com o cálculo prudente, mas ainda assim são coisas de espécies diferentes, são essencialmente qualidades da mente diferentes; por outro lado, confiar na boa sorte, no arrojo e na impetuosidade, são apenas expressões de coragem e todas estas tendências da mente procuram o fortuito (ou o acidental), porque é esse o seu elemento.
Vemos, portanto, como desde o início o absoluto, o matemático como é chamado, não encontra em parte alguma uma base segura nos cálculos na Arte da Guerra; e que desde o início há um leque de possibilidades, probabilidades, boa e má sorte, que estende os fios finos e ásperos da sua teia, e faz com que de todos os ramos de actividade humana a Guerra seja a mais parecida com um jogo.
22. Como este está mais de acordo com a mente humana em geral
Embora o nosso intelecto sinta sempre uma inclinação para a evidência e para a certeza, a nossa mente sente, frequentemente, uma atracção pelo incerto. Em vez de tecer o seu percurso como o entendimento ao longo do estreito caminho das investigações filosóficas e das conclusões lógicas, de modo a, quase inconsciente, chegar a locais onde se sente uma estranha e onde parece separar-se de todos os objectos perfeitamente bem conhecidos, prefere permanecer com a imaginação nos reinos do acaso e da sorte. Em vez de ficar a viver além na indigência, revela-se aqui na riqueza das possibilidades. Animada desta maneira, a coragem toma então asas e o desafio e o perigo são o elemento no qual se lança tal como um nadador destemido se lança no rio.
Irá a teoria deixar o assunto por aqui, e continuar satisfeita consigo mesma e com as conclusões absolutas e as regras? Se assim é não tem qualquer aplicação prática. A teoria deve também ter em conta o elemento humano; deve conceder um lugar à coragem, ao arrojo, até mesmo à impetuosidade. A Arte da Guerra tem de lidar com o real e com as forças morais, a consequência disto é que ela nunca atingirá o absoluto e o concreto. Há, portanto, em toda a parte uma margem para o acidental, tanto nas coisas grandes como nas pequenas. Tal como existe, por um lado, espaço para o acidental, deve haver, por outro, coragem e autoconfiança na proporção do espaço que resta. Se estas qualidades estiverem disponíveis num grau elevado, a margem deixada pode igualmente ser extraordinária. A coragem e a autoconfiança são, portanto, princípios essenciais para a Guerra; consequentemente, a teoria deve apenas estabelecer tais regras permitindo um vasto campo de acção para todos os graus e variedades destas mais nobres e necessárias de todas as virtudes militares. No desafio deve ainda existir sabedoria, assim como prudência, só que ambos são avaliados num padrão de valores completamente diferente.
23. A Guerra é sempre um meio sério para se atingir um objectivo sério. É a sua definição mais específica
Assim é a Guerra. Assim é o General que a comanda. Assim é a teoria que a regulamenta. Mas a Guerra não é nenhum passatempo; não é uma mera paixão para nos aventurarmos e vencermos. Não é fruto de um livre entusiasmo. É um meio sério para se atingir um objectivo sério. Toda aquela aparência que lhe é dada pelas mais variadas tonalidades da sorte, tudo aquilo que assimila das oscilações da paixão, da coragem, da imaginação, do entusiasmo, são apenas propriedades específicas destes meios.
A Guerra de uma comunidade - de todas as Nações e, particularmente, das Nações civilizadas - nasce sempre de uma condição política e é invocada por um motivo político. É, portanto, um acto político. Se fosse uma expressão de força perfeita, sem restrições e absoluta, como deduzimos da sua mera concepção, então, no momento em que é invocada pela política, tomaria o seu lugar e, como algo independente que é da política, pô-la-ia de parte e seguiria apenas as suas próprias leis, tal como uma mina que no momento da explosão não pode ser guiada em nenhuma outra direcção senão naquela que lhe foi dada pelas disposições preliminares. Isto é como a coisa tem sido vista até agora, sempre que um desejo de harmonia entre política e a condução da Guerra levou a distinções teóricas do género. Mas não é assim e a ideia é totalmente falsa. A Guerra, no mundo real, como tivemos oportunidade de constatar, não é algo que termine de um momento para o outro. É uma operação de poderes que não se desenvolvem todos da mesma maneira e na mesma medida, mas que a uma dada altura se expande suficientemente para vencer a resistência oposta pela inércia ou pela fricção. Enquanto que, noutra altura, esses poderes estão demasiado fracos para produzirem um efeito. A Guerra é, portanto, numa certa medida, a vibração de uma força violenta mais ou menos veemente, por conseguinte, fazendo as suas baixas e exaurindo os seus poderes com maior ou menor rapidez - por outras palavras, seguindo com maior ou menor rapidez para o seu objectivo, mas demorando-se sempre o suficiente para admitir que houve alguma influência no seu percurso, a dar-lhe esta ou aquela direcção. Em resumo, que foi alvo da vontade de uma inteligência que a guiou. Agora, se pensarmos que a Guerra tem a sua raiz num objectivo político, então, naturalmente, este motivo original que a fez nascer, deveria prosseguir a primeira e a mais elevada reflexão da sua conduta.
Todavia, o objectivo político não é, a esse respeito, nenhum legislador despótico. Deve acomodar-se à natureza dos meios, e embora as mudanças nestes meios possam envolver uma modificação no objectivo político, o último retém sempre um direito prévio para consideração. A política, portanto, encontra-se entrelaçada com toda a acção da Guerra, e deve exercer sobre ela uma influência contínua até onde a natureza das forças libertadas por ela o permitirem.
Verificamos, portanto, que a Guerra não é um acto meramente político, mas que é também um verdadeiro instrumento político, uma continuação do intercâmbio político, uma realização do mesmo por outros meios. Tudo o que exista para além disto, que seja estritamente peculiar da Guerra, está relacionado apenas com a natureza peculiar dos meios que ela utiliza. Que as tendências e as visões da política não sejam incompatíveis com estes meios poderá exigir a Arte da Guerra em geral e o General em cada caso específico, e esta exigência não é uma exigência frívola. Mas ainda que isto possa reagir muito poderosamente sobre as visões políticas, nalguns casos particulares, deve ser encarado apenas como uma modificação sobre elas; pois a visão política é o objectivo, a Guerra é o meio e, na nossa mente, o meio deve incluir sempre o objectivo.
25. Diversidade na natureza das guerras
Quanto mais fortes e poderosos forem os motivos de uma Guerra, mais ela afectará toda a existência de um povo. Quanto mais violenta fora a excitação que antecede a Guerra, mais ela se aproximará da sua forma abstracta, mais direccionada estará para a destruição do inimigo, mais os objectivos militares e políticos coincidirão e mais a Guerra irá parecer menos política e puramente militar; mas quanto mais fracos forem os motivos e as tensões, menos a direcção natural do elemento militar - ou seja, a força - será coincidente com a direcção que o elemento político sugere; tanto mais, portanto, a Guerra se verá afastada da sua direcção natural, o objectivo político desviado da finalidade de uma Guerra ideal, e a Guerra parecerá política.
Mas para que o leitor não forme aqui nenhuma ideia falsa, devemos observar que por esta tendência natural da Guerra, apenas nos referimos ao filosófico, ao estritamente lógico, e de forma alguma à tendência das forças realmente envolvidas no conflito, no qual seria suposto incluir todas as emoções e paixões dos combatentes. Não há dúvida que nalguns casos isto pode também ser levado até um ponto em que é difícil restringir e confinar à estrada política; mas na maioria dos casos, não existirá uma tal contradição porque a existência de tais esforços tenazes implicaria um grandioso plano em harmonia com eles. Se o plano estiver dirigido para um objectivo insignificante, então os sentimentos entre as massas também seriam insignificantes, de modo que estas massas necessitariam mais de ser estimuladas do que reprimidas.
26. Todos eles podem ser encarados como actos políticos
Regressando agora ao assunto principal, embora seja verdade que num tipo de Guerra o elemento político parece quase desaparecer, enquanto que noutro tipo ele ocupa um lugar muito proeminente, podemos ainda assim afirmar que um é tão político quanto o outro. Se encararmos a política de Estado como a inteligência do Estado personificado, então entre todas as constelações do céu político, cujos movimentos ela tem de controlar, devem estar incluídos os que surgem quando a natureza das suas relações impõe a necessidade de uma grande Guerra. Só se entendermos por política não uma verdadeira apreciação dos assuntos em geral, mas o conceito convencional de um estratagema cauteloso, subtil e também desonesto, adverso à violência, é que o último tipo de Guerra pode pertencer mais à política do que o primeiro.
27. Influência desta visão sobre o correcto entendimento da história militar, e na criação da teoria
Verificamos, portanto, em primeiro lugar que sob todas as circunstâncias a Guerra deve ser encarada não como algo independente, mas como um instrumento político. É apenas ao optarmos por este ponto de vista que podemos evitar encontrar-nos em oposição com toda a história militar. Este é o único meio de destrancarmos o grande livro e de o tornar inteligível. Em segundo lugar, esta visão mostra-nos o quanto a Guerra deve diferir em carácter de acordo com a natureza dos motivos e das circunstâncias de onde provêm.
Ora, o primeiro julgamento, o mais forte e o mais decisivo que o Estadista e o General fazem é exactamente compreender, a este respeito, a Guerra em que se envolvem, não tomá-la por outra coisa qualquer ou desejar que ela seja outra coisa qualquer. Esta é, portanto, a primeira, a mais compreensível de todas as questões estratégicas. Falaremos disto em mais pormenor quando entrarmos no plano da Guerra.
Por agora, damo-nos por satisfeitos por termos trazido o assunto até este ponto, e termos desta forma fixado o ponto principal de onde a Guerra e as suas teorias podem ser estudadas.
28. Resultado para a teoria
A Guerra é, portanto, não só como um camaleão, pelo facto de mudar as suas cores, em certa medida e em certos casos, como é também, em relação com as tendências predominantes que nela existem, uma espantosa trindade, composta pela violência original dos seus elementos, o ódio e a animosidade, e que podem ser denominados por instinto natural; do jogo das probabilidades e do acaso que fazem dela uma actividade livre da alma; e da natureza subordinada de um instrumento político, através do qual ela pertence à razão.
A primeira destas três fases diz mais respeito ao povo; a segunda ao General e ao seu exército; e a terceira, ao Governo. As paixões que irrompem na Guerra devem ter já uma existência latente nos povos. O alcance que a exibição de coragem e a aptidão irão ter na esfera das probabilidades e do acaso depende das características especiais do General e do seu exército, mas os objectivos políticos pertencem apenas ao Governo.
Estas três tendências, de que parecem gostar tantos legisladores diferentes, estão profundamente enraizadas na natureza do assunto e, ao mesmo tempo, variam em intensidade. Uma teoria que deixaria qualquer um deles fora de consideração, ou estabeleceria uma relação arbitrária entre eles, envolver-se-ia imediatamente numa tal contradição com a realidade que a destruiria imediatamente.
O problema é, portanto, que a teoria se manterá de alguma forma indecisa entre estas três tendências de atracção.
A forma como este difícil problema pode ser resolvido irá ser examinada no capítulo "Teoria da Guerra". Em todo o caso os aspectos, a noção da Guerra, como aqui foi definida, será o raio de luz que nos revela a verdadeira criação da teoria, e que primeiro separa as grandes massas permitindo-nos distingui-las uma da outra («Da Natureza da Guerra», Coisas de Ler, 2007, pp. 9-38).























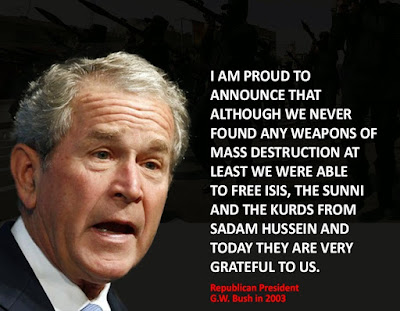

































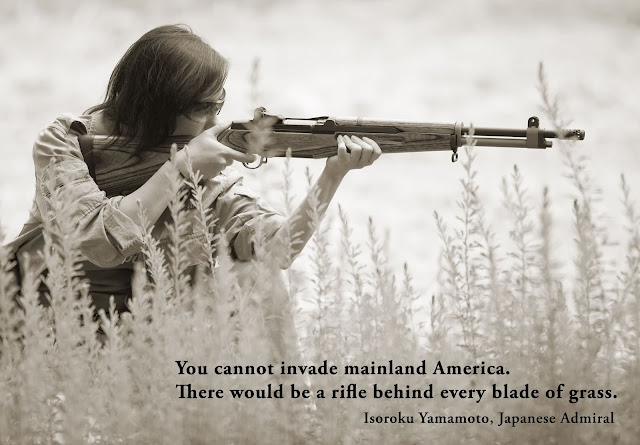









































Nenhum comentário:
Postar um comentário