 |
| Vasco Garin e Franco Nogueira nas Nações Unidas (1960). |
 |
| Vasco Garin |
«... é lançado nas Nações Unidas novo ataque contra a posição portuguesa. Está em curso a XII Assembleia Geral da Organização, e como nos termos regulamentares qualquer assunto, ainda que decidido no ano anterior, pode ser retomado no ano seguinte, a Assembleia reabre o exame da resposta do governo de Lisboa sobre territórios não-autónomos. Na origem do debate estão as mesmas forças políticas: o bloco afro-asiático, o bloco soviético, a União Indiana. É duplo o seu objectivo: anular se possível o voto favorável a Portugal, obtido na Assembleia precedente; em qualquer caso, ir corroendo a posição portuguesa, não só retirando-lhe progressivamente apoios como pela erosão da opinião portuguesa, que se procura cansar. Mas agora os adversários da posição assumida por Portugal modificam a sua táctica. Para evitar que possam ser acusados de discriminação contra Portugal, generalizam o debate, e dão a este um carácter abstracto e de questão de princípio; e para frustrar a alegação, feita por Portugal, de que se a Assembleia era competente para examinar as declarações produzidas voluntariamente, não o era para compelir os governos a fazer declarações contra a sua lei constitucional, os adversários da posição portuguesa procuram levar a Assembleia a afirmar a sua própria competência activa. Neste particular encontram receptividade: todos os orgãos favorecem sempre o empolamento do seu poder e atribuições: e muitos delegados à ONU, em particular os do terceiro mundo e do bloco latino-americano, vêem no alargamento das funções da Assembleia possibilidades de desempenhar um papel que lhes atribua uma fama e uma importância que não têm no seu país. Nesta linha de ataque, os adversários de Portugal apresentam um projecto de resolução que reivindica para a Assembleia o estabelecimento dos critérios a que os países membros têm de obedecer na definição do que sejam os territórios não-autónomos; como alguns desses países têm expresso opiniões divergentes, a Assembleia deve eleger uma comissão de seis membros para examinar o problema e recomendar um critério uniforme e obrigatório; e convidam-se os Estados membros a submeter por escrito os seus pontos de vista, para consideração pela Assembleia. Em torno deste projecto de resolução se desencadeia o debate.
Por parte dos adversários, o tom do debate é aparentemente moderado. Não desejam qualquer discriminação contra Portugal. Não põem em dúvida a sinceridade da posição portuguesa; reconhecem à política de Lisboa o seu carácter não racista. Simplesmente, está-se perante uma questão de princípio; e para evitar que seja tratada no plano político convém examiná-la somente no plano jurídico e processual. Para o conseguir, não se descobre melhor maneira do que realizar um estudo imparcial, objectivo, desapaixonado, dos preceitos legais aplicáveis, da doutrina dos tratadistas. E por isso se propõe que o secretariado faça uma compilação da doutrina e que a comissão a eleger seja formada por três membros ocidentais, com responsabilidades de potências administrativas, e três membros que as não tenham. Pode exigir-se maior isenção de atitude? Mas nem o governo de Lisboa, nem a delegação portuguesa em Nova Iorque se deixam iludir. Sob o aspecto da moderação, destinada a conquistar apoio e a retirar aos delegados latino-americanos os motivos que os haviam levado a alinhar com Portugal, os objectivos prosseguidos são rigorosamente idênticos aos que se buscavam na sessão anterior: impugnar a resposta portuguesa, internacionalizar o problema português africano, decretar que Portugal possui colónias com estatuto análogo às de outros países coloniais, e que tais territórios hão-de ser declarados independentes [Convém mencionar nesta altura que a Espanha, que nenhuma resposta dera de início, declarou depois que, embora não administrasse territórios não-autónomos, estava pronta a fornecer informações sobre as suas províncias ultramarinas, para esclarecimento do secretário-geral. Esta atitude espanhola, foi também rejeitada pela Assembleia, e a Espanha passou a ser atacada. Esta se encarregou assim de dar uma resposta aos que em Portugal afirmavam que, se fornecesse informações à ONU reservando ao mesmo tempo o carácter unitário da Nação portuguesa, Portugal não seria atacado]. Do lado português, todavia, a defesa também foi feita no plano dos princípios. Sublinharam os delegados portugueses que a nova proposta contrariava as cláusulas do artigo 73.º da Carta, e a interpretação que a Assembleia lhes dera desde o início sem desvios; uma nova comissão, além de se sobrepor à Assembleia, é desnecessária, e não pode conduzir a resultados úteis; e além disso, atendendo ao contexto em que é proposta e seria criada, constitui discriminação contra um Estado membro. Em qualquer hipótese, o problema era de importância maior, consoante na sessão anterior e nesta fora afirmado pelos que atacavam a atitude do governo de Lisboa; e por isso, nos termos regulamentares, a nova proposta teria de ser também aprovada por uma maioria qualificada de dois terços. Neste último ponto, abre-se novo debate: os autores da proposta mantêm que o estabelecimento de uma comissão é assunto de rotina, a ser decidido por maioria simples; Portugal replica que uma comissão destinada a dar nova interpretação à Carta e a firmar novos princípios compulsivos não é matéria de rotina, mas do mais alto significado e consequência, impondo voto qualificado.
Já entra o mês de Novembro de 1957, e na Quarta Comissão e no Plenário da Assembleia ainda se arrastam os debates. Portugal defende sempre a separação entre os aspectos processuais e os de substância. É uma táctica parlamentar que encerra um objectivo: permite aos países que querem apoiar o ponto de vista português uma saída que não atinge os seus princípios anticolonialistas: ao considerarem e votarem que o problema é importante e requer dois terços dos votos, e sabendo que o governo de Lisboa dispõe de votos que excedem o terço bloqueador, estão a apoiar Portugal; ao votarem depois em favor da proposta, são fiéis aos seus princípios, e não podem ser acusados de incoerentes. Este recurso táctico revela-se decisivo para obter o auxílio dos latino-americanos, que ao mesmo tempo, são anticolonialistas e não desejam hostilizar Portugal. Submetida ao Plenário a proposta portuguesa para que seja aplicado o princípio dos dois-terços, é aprovada por 38 votos contra 36. Submetida depois a proposta dos adversários de Portugal é aprovada por 41 votos contra 30, com 10 abstenções. Está derrotado o projecto de resolução afro-asiático e soviético.
(...) Quando Humberto Delgado, ao iniciar a sua campanha, se refere a Salazar e diz que se eleito o demitirá - obviamente, demito-o - abre-se uma nova época no Estado Novo. Para uns, a frase é de um louco: como tem a ousadia de afrontar a autoridade incontestada de Salazar, o seu prestígio sem mácula, o seu vulto intocável? Para outros, é uma frase audaz que afinal reduz o chefe do governo às proporções de homem comum: acaso Salazar é sacrossanto ou eterno? De súbito, pelo país além, tudo parece posto em causa: está quebrada a redoma em que o Estado se diria envolto, vê-se apeado o andor em que se diriam transportados os governantes, parece que são frágeis as instituições que se diriam de bronze. É outra a atmosfera da nação, do povo. Não é a figura de Delgado que impressiona: nos homens esclarecidos, mesmo entre os oposicionistas, não há ilusões quanto ao seu primarismo, falta de bom senso, incoerência, demagogia, incapacidade de encarar os problemas no plano superior do Estado. Encontrando-o no seu pouso da Livraria Bertrand, depois da campanha, pergunta Santos Costa ao seu amigo Aquilino Ribeiro: "Mas você acha que aquele homem tem as condições para exercer algum dia, com proveito para a nação, as funções de Presidente da República?" Responde o mestre escritor: "É evidente que não, meu caro amigo! É a política! Nós precisamos acima de tudo alguém que nos abra a porta. O resto se verá depois!" Mas a candidatura de Delgado, conduzida como o foi, rompe os moldes estabelecidos, derruba padrões assentes; e a sociedade portuguesa é batida por uma rajada que a faz estremecer até aos seus fundamentos. Em si, o acontecimento transcende o candidato, que se transforma em instrumento. E os reflexos projectam-se sobre Salazar. São os seus sessenta e nove anos, e a conclusão de que está necessariamente gasto e ultrapassado; são as suas três décadas de governo, e a idade de que abafa tudo e todos; é o mundo salazarista, de repente visto como camarilha que, em nome de interesses pessoais, rodeia e domina o chefe do governo; e é a erosão inerente ao exercício do poder, reflectida nos homens e nas instituições. No fascínio de Salazar, que cega amigos e desespera adversários, há uma quebra; e o seu carisma tem uma fractura. Salazar não se apresenta como vulto a que tudo é reconduzido, nem parece afinal constituir o centro único de decisão e de poder. Cruamente, pergunta-se que força efectiva tem Salazar, e em que se apoia? E os observadores mais atentos não encontram resposta. Não tem partido político que o apoie: porque a União Nacional não pode ser considerada como partido e, ainda que o fosse, não teria eficácia política bastante para o sustentar. Não dispõe de uma guarda pretoriana, militar ou militarizada, que pela sua fidelidade e efectivos possa constituir base do poder: nem as Forças Armadas se dispõem a desempenhar esse papel, nem as corporações para-militares de ordem pública ou a Legião Portuguesa, apagada e esquecida, contam para o efeito. Não comanda interesses económicos ou financeiros que sejam determinantes pela sua influência: justamente entre aqueles encontram-se alguns dos seus críticos mais aguerridos. E do seio da Igreja Católica, de que fora militante destacado e cujo apoio contribuíra para a sua ascensão ao poder, erguem-se hoje algumas vozes de discordância, e muitas que preconizam o descomprometimento. E no plano internacional, porque a política portuguesa se choca com a de terceiros, encontra hostilidade de uns governos, e a frieza de outros. E no entanto Salazar está e continua. Como? Porquê? Por quanto tempo?
 |
| Oliveira Salazar |
(...) Em que são compatíveis o mundo das novas ideias e o mundo expresso na criação estética com o mundo de Salazar? Para este, o mundo baseia-se nas sociedades nacionais, no patriotismo, no cristianismo de matriz, na hierarquia de valores, na autoridade que administre a liberdade, nas classes que colaboram e ascendam por mérito e trabalho, no engrandecimento de Portugal, na defesa do seus valores e do seu património. Como se conciliam os dois mundos? Na aparência e para os coevos, não se conciliam: os homens de visão histórica desentendem-se com o presente. No momento em que se inicia um novo mandato presidencial, e em que a sociedade portuguesa atravessou um sobressalto, e em que o chefe do governo se avizinha dos setenta anos, e em que cumprira trinta anos de poder sem interrupção - o mundo e o universo de Salazar erguem-se ao arrepio das grandes correntes, das grandes ideias-forças que mobilizam os homens, e parece em escombros. Está à vista o fim da sua vida política. Depois de alguma experiência do novo chefe do Estado, não se imagina que Salazar possa continuar no governo. Está desgastado, puído por mil trabalhos; e para mais, desiludido, amargurado. Afigura-se claro o seu futuro a curto prazo: decerto quererá, antes de cumprir setenta anos, ministrar algum curso na Faculdade de Direito de Coimbra, e assim regressar às origens, fechar o círculo de uma vida intensa; e depois descansar enfim entre as árvores e as latadas do Vimieiro, praticando com as irmãs da sua pequena lavoura e com o pedreiro Ilídio de muros e portais, e contemplando à distância um mundo em que interveio, que lhe parece enlouquecido, e que já não é o seu. É uma questão de tempo, e pouco: quanto?».
Franco Nogueira («Salazar. O Ataque - 1945-1958», IV).
«A proibição em 1962 da realização do Dia do Estudante (...) marcou definitivamente a ruptura do regime com as futuras elites. Basta cotejar os nomes dos dirigentes associativos desse ano com as personalidades políticas actuais para concluir que a memória do Dia do Estudante de 1962 nunca mais se apagou, mesmo nos [presumíveis] sectores da direita política (...). Jorge Sampaio, Medeiros Ferreira, Eurico de Figueiredo, António Sousa Franco, Diogo Freitas do Amaral, Marcelo Rebelo de Sousa, uns à esquerda, outros ao centro demo-cristão, todos eles desempenharam um papel nessa contestação ao regime de Salazar».
António Melo («Crise Académica: a Greve da Fome», in «Os Anos de Salazar», 19).
 |
| O agitador universitário Jorge Sampaio em 1962. |
«Na Universidade de Lisboa, sustenta Irene Pimentel [universitária apostada na desfiguração histórica do Estado Novo], as prisões de 20 de Janeiro de 1965 representam "um verdadeiro terramoto". "A estrutura estudantil do PCP", explica a historiadora, "desabou, gorando-se anos de trabalho persistente, de alargamento, de reforço da influência política, precisamente por efeito das denúncias de um dos que, tendo trabalhado praticamente desde o início nessa construção, a renegou completamente".
Entre os presos, cujo número terá atingido cerca de meia centena, estão Luís Salgado Matos, Fernando e Filipe Rosas, Aguinaldo Cabral, Antonieta Coelho, Sara Amândio, Gina Azevedo, Paula Massano e Fernando Baeta Neves - todos eles destacados dirigentes dos estudantes.
(...) Dois dias depois das prisões, uma concentração com cerca de 300 estudantes impede o reitor, Paulo Cunha, de discursar no Dia da Universidade. "Aos gritos de 'assassinos', os manifestantes invadem o salão nobre e denunciam as cumplicidades entre as autoridades académicas e o regime", contam Gabriela Lourenço, Jorge Costa e Paulo Pena...
(...) Só nos jornais de 18 de Janeiro surge a primeira declaração do regime sobre as prisões: "A organização ilegal denominada Partido Comunista Português tem procurado, nos últimos tempos, penetrar mais intensamente nos meios estudantis, com dois objectivos essenciais: preparar, se possível através de uma universidade comunizada, os futuros dirigentes do País, e afectar a coesão das Forças Armadas pela infiltração nos seus quadros de elementos comunistas, alunos das escolas militares ou sargentos e oficiais milicianos". "Assim", assume-se, finalmente, "a PIDE [Polícia de Intervenção e Defesa do Estado] teve de proceder recentemente à detenção de certo número de estudantes, inteiramente identificados como militantes da referida organização subversiva, os quais estavam a distribuir tarefas concretas de organização, cujo extenso programa se encontra na posse daquela entidade"».
João Mesquita («Uma crise estudantil quase desconhecida. Na origem da "crise estudantil" de 1965 está uma onda repressiva contra os líderes dos estudantes [ou melhor: na origem da onda repressiva da "crise estudantil" de 1965 estão os líderes comunizados dos estudantes]», in «Os Anos de Salazar», PDA, 2008, vol. 21).
«É certo que nem todos os membros das direcções de Estudantes e nem todos os directores de secções eram militantes do Partido Comunista e, reciprocamente, nem todos os estudantes comunistas ocupavam cargos de relevo nas Associações, mas a sobreposição ocorria nos casos principais e deve dizer-se que o Partido Comunista formava então a espinha dorsal do movimento estudantil.
(...) A ultrapassagem do corporativismo académico, virando os alunos universitários para os problemas sociais do País, acentuou-se nos anos seguintes e deu lugar a uma enorme explosão política de 1967/68 em diante. A partir de então, o movimento estudantil confundiu-se com a preparação maciça de militantes contra a guerra colonial. Concluídos os cursos, os recém-chegados iam prestar serviço militar como oficiais do Movimento das Forças Armadas, que nascera com objectivos estritamente corporativos. Foram muitos os factores que levaram as lutas sociais a progredirem velozmente após o 25 de Abril de 1974, mas entre eles conta-se sem dúvida o facto de desde os primeiros dias os delegados enviados pela Junta de Salvação Nacional para resolverem os mais variados problemas serem jovens oficiais influenciados por um movimento estudantil radical e atento às questões da sociedade. Depois, consolidada a democracia capitalista e já sem quaisquer motivos para contestar o quer que fosse, esses antigos estudantes rebeldes integraram-se alegremente na nova ordem dominante que haviam ajudado a edificar, e na qual constituem hoje os quadros dirigentes. Mas ainda hoje aqui a politização e a compreensão dos problemas sociais lhes serviu de muito, embora com um desfecho oposto àquele que candidamente haviam imaginado há quarenta anos atrás».
João Bernardo («Universidade de Lisboa, 1965. O testemunho de um dos protagonistas da crise estudantil de 1965, membro das comissões de apoio aos estudantes presos», in «Os anos de Salazar», PDA, 2008, vol. 21).
 |
| Américo Tomás e José Hermano Saraiva (Ministro da Educação entre 1968 e 1969). |
 |
| Coimbra, 17 de Abril de 1969: Américo Tomás interpelado pelo agitador universitário Alberto Martins, após ter sido interdita qualquer interpelação. Resposta de Américo Tomás: «Bem... bem, mas agora fala o sr. Ministro das obras Públicas». |
 |
| Ver aqui |
 |
O cómico alemão: Herman José |
 |
| Mário Soares |
«Os alunos que desejam, na realidade, estudar e cooperar com espírito ordeiro na melhoria da Universidade, e são, felizmente, a grande maioria, têm sido acautelados da agitação que se instalou em diversos estabelecimentos de ensino?
E os pais e encarregados de educação, muitíssimos deles suportando encargos pesados e lutando com dificuldades de toda a ordem para assegurarem o futuro dos filhos, têm sido ouvidos num processo em que, como partes legítimas e altamente interessadas, também devem participar?
Há poucos dias, o presidente Pompidou, que à eminente posição política junta o prestígio da inteligência e do título de "normalien", depois de aludir às enormes despesas com as Universidades, afirmava que ele e os ministros tinham de prestar contas à Nação do sacrifício que a esta custam os seus estudantes, considerando intoleráveis as perturbações que impedem de trabalhar quem não deseja outra coisa, as injúrias a professores e os estragos nos edifícios e material escolar.
Apetece perguntar onde está a Universidade autónoma ou o Estado intervencionista (quando a ordem pública é afectada, o termo do dilema pouco importa) que ponha cobro a uma situação alarmante para o País e afrontosa para a juventude que se bate nas frentes africanas. Não se diga que exagero, pois continua por aí às escâncaras, através de livros, folhetos e cartazes, de canções ou baladas, e até de colóquios contra a nossa luta no Ultramar, realizados em estabelecimentos universitários, a propaganda que defende a ideia de se pôr termo, pelo abandono ou pela entrega, à guerra travada pela Nação em obediência a irrefragáveis imperativos de honra e de sobrevivência, e movida, pelos vistos, não apenas de fora, pelos verdadeiros colonialistas, mas também de dentro, pelos seus servidores.
O Sr. ALBERTO DE MEIRELES: - Muito bem!
O ORADOR: - Os mortos na Guiné, em Angola e em Moçambique hão-de clamar sempre menos contra as balas que os prostraram do que contra as campanhas e os conluios inqualificáveis que na retaguarda visam tornar inútil o seu sacrifício».
Henrique Veiga de Macedo («Intervenções na sessão de 17 de Abril de 1970», in «Problemas da Universidade»).
«Algum tempo antes do 25 de Abril, constava a nível público que determinada legislação criara um diferendo entre os oficiais do quadro permanente e os do quadro complementar, pelo facto de os primeiros se considerarem prejudicados nas promoções.
Um problema, como vemos, aparentemente, de natureza puramente militar que gerou, entre os que se consideravam prejudicados, descontentamento generalizado, como é perfeitamente compreensível. Este conflito deu origem como era natural a reuniões clandestinas de oficiais, certamente, a princípio, para discutirem o problema que os afectava e procurarem uma saída para a sua resolução.
Não surpreende que a partir daquele descontentamento, outros descontentamentos se lhe tenham juntado. Motivos não faltavam e no mundo da política há sempre quem esteja atento às oportunidades que possam servir os seus interesses, pelo que não custa a acreditar que o conhecimento deste descontentamento, aliás bastante público, tenha despertado a atenção dos inimigos, internos e externos, do regime vigente, para o seu possível aproveitamento.
Nas forças armadas não deviam faltar elementos comprometidos e simpatizantes com forças adversas ao Estado Novo, muito especialmente da política ultramarina seguida pelo Governo, que logo se devem ter aproveitado da oportunidade para se aproximarem do descontentamento desses oficiais, com espírito de colaboração mas com secretas intenções, estranhas, se não hostis, aos objectivos patrióticos [???] do Movimento.
 |
| Estandarte da Legião Portuguesa |
 |
| Bandeira da Legião Portuguesa |
 |
| Bandeira da Mocidade Portuguesa |
 |
| Bandeira da Mocidade Portuguesa Feminina |
 |
| Guião de grupo de castelos da Mocidade |
A solidariedade destes novos descontentamentos vinha dar ao descontentamento inicial uma nova força transformando as reuniões clandestinas para resolver um problema militar, em empolgantes preparativos de uma revolta política.
Pensavam, com certeza esses oficiais, mas erradamente, que este alargamento numérico os iria beneficiar, mas o que aconteceu, porém, foi os seus iniciadores terem perdido, a partir daí, o comando do que quer que fosse e passarem a ser, sem o saberem, comandados por políticos escondidos atrás dos Melos Antunes e dos Costa Gomes, entretanto infiltrados.
Como sempre tem acontecido os militares iam uma vez mais ser traídos pelos políticos, fardados ou à paisana.
Esta facção estava atenta e bem apoiada na CIA e no KGB, dois poderosos instrumentos ao serviço do Projecto Global.
O Embaixador Fernando Neves, no seu livro "As Colónias Portuguesas e o seu futuro", refere-se a um documento a que tivera acesso em que se preconizava, em relação a acções a levar a cabo em Portugal, "... elevar a formas superiores, e na base dos princípios do internacionalismo proletário, a luta no seio do exército colonialista português para a vitória das guerras de libertação dos povos africanos. O Exército colonialista deve ser minado pelo interior através de um trabalho de agitação e propaganda maciço que tem por objecto a organização da subversão nos quartéis", o que, como é sabido, veio a acontecer.
Não, naturalmente, por excitação democrática da soldadesca, mas, como se vê, devidamente comandado.
Por outro lado, era igualmente do conhecimento público que interesses hostis aos nacionais, especialmente de matriz americana e soviética, se empenhavam havia muito e abertamente, em acções de vária natureza, com o objectivo de ocupar, com os seus interesses, o vazio que uma vez expulsos dos territórios, ali deixaríamos. Desta maneira acrescentariam alguns ricos e extensos territórios da África Negra ao seu impiedoso neocolonianismo, ao insaciável apetite dos grandes grupos económico-financeiros em jogo. Os portugueses que ali tinham nascido e ali viviam, de todas as cores e credos, apenas ficariam privados, segundo o seu frio ponto de vista, daquilo que havia 500 anos lhes tínhamos dado — uma nacionalidade e com ela uma convivência fraterna que nenhum outro povo europeu soube dar aos povos de cor.
Por outro lado, com excepção da África do Sul, Angola e Moçambique apresentavam índices de crescimento económico e social sem paralelo com quaisquer outros territórios africanos, o que representava um verdadeiro escândalo mundial, devidamente propalado, com laivos de humana indignação, pela corte desses malvados da inteligência que durante décadas esconderam a realidade do regime soviético ao público ingénuo que os seguia, atrás do rótulo de intelectuais, o que lhes dava uma falsa autoridade ante os ignorantes.
Estas realidades transformaram as nossas províncias africanas num escândalo que não podiam tolerar, por pôr claramente em cheque os autores da libertação de muitos povos africanos e os governos locais por eles ali implantados contra-natura, para servirem os seus interesses, como está hoje à vista de todos os que não negam evidências, resultado de uma descolonização motivada por interesses exclusivamente económicos, totalmente estranhos a qualquer tipo de objectivo humanitário.
Promovida em nome da dignidade humana, esta cínica ironia, resiste, na mentalidade pública, mesmo perante a evidência de guerras fratricidas, da corrupção, da incompetência, da fome e das doenças em que conscientemente se lançaram impiedosamente milhões de indivíduos, por mero interesse económico e de poder, na selva política internacional.
A estes interesses, nada importam as destruições materiais e os milhões de mortos e de estropiados que, nestes últimos trinta anos, têm ensanguentado países como a Nigéria, Etiópia, Moçambique, Angola, Chade, Congo, Libéria, Sudão, Somália, Afeganistão, etc, por obra e graça dessa aliança diabólica entre os EUA e a Rússia. Chamam-lhe, para uso mental de tolos, opinião pública mundial.
Opinião pública mundial?
Melhor seria chamar-lhe canalha manipulada pelos grandes interesses mundiais, ou então, como Julien Green já lhe chamou, estupidez em acção.
Bastaria recordar que os governos africanos saídos desta descolonização comandada pelos altos interesses materiais e apoiada pela inconsciência pública e não pelos motivos humanitários proclamados, gastam mais de doze biliões de dólares por ano na importação de armamentos e manutenção das suas Forças Armadas — soma igual à que recebem das diversas fontes de assistência internacional.
Não se entra em conta com as mortes e as destruições resultantes da utilização destes armamentos, mas quem lhos fornece, entra, porque sem estas vítimas não os venderiam.
Para tentarem alcançar o seu objectivo, aquelas forças hostis a Portugal criaram e financiaram grupos de terroristas, sediados em bases situadas em territórios vizinhos aos das províncias, donde era fácil, dadas as extensas fronteiras, nelas se infiltrarem.
E passaram a chamar-lhes, cinicamente, movimentos de libertação...
 |
| Forças Portuguesas no Norte de Angola |
 |
| Samora Machel e Eduardo Mondlane no 'paraíso socialista'. |
 |
| 1975: os novos donos de Moçambique (as denominadas Forças de Libertação de Moçambique). Na então cidade de Maputo batiam à porta das pessoas às 5 da manhã para as mandar varrer as ruas. |
 |
| Fidel Castro e Samora Machel |
 |
| Chou En-Lai e Samora Machel (1976). |
 |
| Yasser Arafat e Samora Machel |
Não nos diz o Senhor Dr. Antunes, nem o Senhor Pélissier, quem financiou este grupo terrorista, mas sabem, com certeza, que foi especialmente a Fundação Ford sob o alto patrocínio dessa sinistra figura que foi a Senhora Eleanora Roosevelt, a mulher do Presidente que entregou metade da Europa ao goulag soviético.
A partir de todos estes auxílios e após muitos anos de luta armada sem conseguirem os seus objectivos — os grupos terroristas estavam na iminência de depor as armas — compreenderam que só com uma acção em Lisboa, conseguiriam alcançá-los.
A dificuldade, porém, com que tinham deparado, noutras tentativas fracassadas, era a de não terem encontrado, nem terem conseguido promover, um descontentamento, que é sempre o ponto de partida para qualquer acção de subversão política. Tinham tentado criá-lo, várias vezes, ao longo de anos, mas sem êxito. O aproveitamento do descontentamento entre os oficiais veio dar-lhes a oportunidade de, a partir dele, conseguirem em Lisboa o que não tinham conseguido com o terrorismo no Ultramar.
A oportunidade era, de facto, excepcional, não só pelos motivos iniciais apontados, mas principalmente pela consciência que todos tinham da necessidade imperiosa do País sair da grave crise em que se encontrava, resultante de não se ter dado ao problema do Ultramar a solução que se impunha de natureza política e não militar [???].
As Forças Armadas, por outro lado, estavam na sua quase totalidade, nos territórios ultramarinos. Na Metrópole estavam sobretudo generais na Reserva, oficiais instrutores e recrutas.
Vejamos o que nos diz um órgão da imprensa estrangeira, sobre esta franja não operacional das Forças Armadas. "Resta apenas o problema da NATO: Spínola promove o contacto com o próprio Secretário da Nato, Joseph Luns, [através] de um dos seus amigos da Finança — o Director dos Estaleiros Navais Portugueses, Lisnave, Thorsten Anderson — que participa em Megève, França (de 19 a 21 de Abril) numa misteriosa reunião de importantes homens da política, da diplomacia e do mundo dos negócios internacionais reunidos num igualmente misterioso clube: o Clube de Bilderberg.
De 19 a 21 de Abril, Megève é zona vigiada pela polícia francesa como se o visitante fosse um Chefe de Estado. De facto, no Hotel Mont Arbois, propriedade de Edmond Rothschild, reúne-se a flor e a nata da política e das Finanças ocidentais. A reunião é discreta, à porta fechada: os jornalistas não falarão dela; mas é ali que será decidido o destino do mundo ocidental. Desde 1954, e do dia da primeira reunião no Hotel Bilderberg, na cidade holandesa de Oosterbeek, sob a presidência do Príncipe Bernardo da Holanda, que os homens mais influentes do Ocidente se reúnem anualmente para estudar a situação 'política e financeira e estudar ou aprovar programas para o futuro'.
Bastam os nomes dos participantes daquele ano na reunião do Clube para que possa compreender-se a sua importância. São os seguintes: Nelson Rockefeller, Governador do Estado de Nova York; Frederick Dant, Secretário Norte-Americano do Comércio; General Andrew Goodpaster, Comandante das Forças Aliadas na Europa; Denis Healey, Ministro da Fazenda inglês; Joseph Luns, Secretário Geral da NATO; Richard Foren, Presidente da General Electric na Europa; Helmut Schmidt, Ministro da Fazenda alemão, actualmente chanceler, após a demissão de Brandt; Franz Joseph Strauss, definido como homem de negócios alemão; Joseph Abs, Presidente do Deutsche Bank; Guido Carli, Governador do Banco de Itália; Giovanni Agnelli, Presidente da Fiat; Eugénio Cefis, Presidente da Montedison e além destes Thorsten Anderson, homem de negócios português que sonda Joseph Luns sobre as possíveis reacções da NATO perante a possível mudança de regime em Lisboa.
 |
| Joseph Luns (secretário-geral da NATO). |
 |
| Membros da NATO por contraponto a membros do Pacto de Varsóvia na chamada guerra fria. |
 |
| Organização do Pacto do Atlântico |
O Poder político, por outro lado, estava nas mãos de um homem fraco, hesitante e pressionado pelos que viam na Europa do mercado comum a solução para todos os problemas pessoais e nacionais, dominados por uma estranha mística de Terra Prometida, donde esperavam que um fácil maná viesse alimentar os seus apetites, insuficiências e vaidades. Para todos eles os territórios ultramarinos eram o único obstáculo à realização dos seus sonhos europeus. Muitas vezes me disseram que entre os marcelistas se afirmava que era preciso abandonar o Ultramar a qualquer preço. Não me surpreende que tenham vindo a desempenhar um papel de relevo na descolonização exemplar, como, impudicamente, alguém chamou ao vergonhoso e sangrento abandono do Ultramar.
Não me surpreende, na verdade, porque quando o chefe é fraco, tudo à sua volta enfraquece. Por isso mesmo não foi necessário derrubá-lo. Apenas caiu.
"O estudo das diversas informações disponíveis respeitantes aos acontecimentos do 25 de Abril permite uma curiosa contagem dos efectivos humanos reais mobilizados no Movimento das Forças Armadas: entre 160 a 200 oficiais, incluídos os de Complemento, e um número não muito superior a 2.000 homens e tropas. A debilidade destas Forças, o seu escasso apetrechamento em material blindado e móvel e o facto de que na mobilização inicial apenas estiveram implicados os oficiais das classes incorporadas na conspiração, fazem suspeitar de que se contava com a falta de resistência do Estado.
Apesar da sua minuciosa preparação, a execução do plano do MFA deixou muito a desejar na prática. Cedo se tornou evidente a inexperiência ou deficiente preparação dos oficiais para tal tarefa. Não se providenciou o armamento mais conveniente e as posições perante os quartéis não comprometidos ou fiéis em princípio ao Governo, foram tomadas de modo bastante incorrecto. Nem sequer se procedeu a uma ocupação sistemática dos pontos-chave.
Na realidade, a situação de madrugada era objectivamente muito frágil para os sublevados. Diversas unidades, como o Regimento Motorizado de Lanceiros 7 e a Guarda Nacional Republicana, permaneciam fiéis ao Governo, que além do mais contava com todos os efectivos da Direcção-Geral de Segurança. Por outro lado a maioria dos efectivos da Aviação e da Marinha, permaneciam em absoluto silêncio. Uma acção enérgica do Governo teria arrumado completamente o MFA. Porque não se terá produzido? É este, outro dos elementos confusos deste golpe de estado.
Muito pouco tempo depois de conhecidos os efectivos dos sublevados e a sua distribuição na cidade, o Director Geral de Segurança pôs-se em comunicação via rádio com o Presidente do Governo refugiado no quartel da GNR, explicou a situação ao Prof. Caetano e informou-o da força real do MFA e das unidades afectas ao Governo ou que até então se não tinham manifestado e solicitou-lhe autorização para actuar, assegurando-lhe que a situação estaria dominada por completo até às 17 horas desse mesmo dia. No entanto o Prof. Caetano não lhe concedeu a autorização solicitada, desejoso, disse, de evitar derramamento de sangue. O Director Geral de Segurança insistiu com o Prof. Caetano por esse mesmo meio em mais duas ou três ocasiões, sem obter a resposta que ansiava. As conversações, emitidas por um posto de rádio de emergência da Direcção Geral de Segurança , puderam ser nitidamente captadas por um razoável grupo de pessoas, incluindo membros do Corpo Diplomático, através dos seus aparelhos de rádio normais. Foram também gravadas por um rádio amador que as passou de imediato para os oficiais do MFA. Essa gravação foi rapidamente levada ao Rádio Clube Português e outras emissoras que o MFA tinha sob o seu controle e ao longo de todo o dia a sua transmissão foi feita de modo ininterrupto.
Ao tomar conhecimento da passividade do Presidente do Governo, as unidades que se mantinham fiéis, ficaram abatidas, e o moral dos ministros do Governo não implicados na conspiração e de outros sectores políticos e administrativos ficou abalado, ao mesmo tempo que as unidades de Aviação e da Marinha que se mantinham na expectativa dos acontecimentos decidiram incorporar-se no MFA".
A má organização, a insuficiência de meios militares das forças que saíram para a rua, que mais pareciam bandos de arruaceiros do que forças disciplinadas, estão bem patentes em declarações do chamado estratego do 25 de Abril, o capitão Otelo, a um jornal espanhol, em que afirmou ter dado instruções aos seus subordinados para se renderem se encontrassem a mais pequena resistência.
 |
| Marcello Caetano discursa perante Generais (1973). |
 |
| 25 de Abril de 1974 |
 |
| A soldadesca do 25 de Abril |
 |
| Salgueiro Maia no local onde se dirigiu aos sitiados no Quartel do Carmo. |
 |
 |
| Otelo e Salgueiro Maia |
 |
| A cambada do 25 de Abril: Costa Gomes acompanhado de Vasco Gonçalves, Pinheiro de Azevedo e Rosa Coutinho, entre outros. |
 |
| Vasco Gonçalves, Otelo e o 'almirante vermelho' (Rosa Coutinho). |
Como se vê, a vitória do movimento não se deve, como é evidente, ao famoso estratego Otelo, pois é ele próprio a confirmar que não tinha a mais pequena hipótese de vencer se tivesse encontrado a mais pequena resistência.
Penso que, muito mais importante do que a contribuição deste ingénuo útil, foi, sem dúvida, a dada pelo Presidente do Conselho. Contrariando o que havia muitos anos estava estabelecido a nível do Estado, em caso de emergência, seria para Monsanto e não para o Quartel do Carmo que o Presidente do Conselho se devia ter dirigido. Quebrou, com a decisão tomada, a unidade do Governo, abrindo caminho a indecisões e interpretações que paralisaram qualquer hipótese de oposição à intentona que tinha saído para a rua com a face visível dos capitães e a invisível de interesses hostis aos nacionais.
Tive conhecimento, em Madrid, através de um oficial que na altura prestava serviço no Quartel do Carmo, que o Prof. Marcelo Caetano, logo que entrou, se dirigiu ao Gabinete do Comandante, que ocupou, dando ordens terminantes para que, em circunstância alguma, o interrompessem, tendo fechado a porta à chave. Esteve horas ali dentro, sem contactar com os ministros que o tinham acompanhado, até ao momento em que o General Spínola chegou ao quartel para o proteger de arruaceiros a soldo, que na rua o ameaçavam.
Soube depois, por outra via, que o Comandante Geral da Legião Portuguesa, General Castro, fora uma das pessoas por ele contactadas, tendo-lhe dado ordens para desarmar e dispersar o batalhão que estava no momento a ser municiado. É de presumir que tenha contactado outras entidades militares, dando-lhes instruções para não intervirem. Nesta altura ainda devia estar convencido de que o movimento se fazia a seu favor, o que lhe iria permitir libertar-se do Ultramar, ideia antiga que o obcecava e não conseguira até ali levar a cabo.
Mais tarde, em Espanha, viria a saber pelo Eng. Santos e Castro, que o Presidente do Conselho, quando o convidou para desempenhar as funções de Governador Geral de Angola, lhe dissera que ia com a missão específica de preparar, o mais brevemente possível, a independência do território, informando-o de que igual incumbência fora cometida ao Dr. Baltasar Rebelo de Sousa em relação a Moçambique.
Não tenho dúvidas de que na sua intenção estava a preparação de independências inspiradas no modelo da África do Sul.
Simplesmente o projecto do Professor não estava de acordo com o plano americano-soviético, aprovado na Conferência de Bilderberg, pelo que não passou de um ingénuo útil, mais um, a servir interesses hostis aos de Portugal.
Pelo que ficou dito poderá o leitor melhor avaliar da importância que certamente teve aquela reunião do Clube de Bilderberg na eclosão e desenvolvimento do 25 de Abril e sobretudo tomar consciência das vezes sem conta, quando insuficientemente informados, em que tomamos a aparência pela realidade. Por isso não deve ter sido difícil ao embaixador do CFR, Carlucci e seus ajudantes, aconselhar os nossos aprendizes de feiticeiro a seguir-lhes as sugestões de que dependiam os seus futuros políticos que talvez se possam reduzir a uma só: não façam nada que contrarie o projecto do Governo Mundial, porque nele está a Esperança e fora dele a Tragédia.
O Partido Comunista, por outro lado, o único com quadros bem preparados, apesar da massa militante ser de terceira categoria, o que o impediu de ir mais longe na destruição do País, conseguiu, no entanto, em curto espaço de tempo, ocupar posições-chave que lhe permitiram lançar a confusão generalizada, utilizando técnicas bem conhecidas dos especialistas na manipulação de massas.
 |
| Chegada de Álvaro Cunhal a Portugal |
 |
| Ao centro: Álvaro Cunhal na Assembleia da República. |
Surpreenderam-se muitos comentaristas da imprensa internacional que num País com uma História tão antiga e tão rica como a portuguesa, fosse possível a desordem manter-se durante tanto tempo e durante ela os portugueses assistirem impassíveis à sua auto-destruição, se não mesmo a aplaudi-la».
Fernando Pacheco de Amorim («25 de Abril. Episódio do Projecto Global»).
A DESCOLONIZAÇÃO
ENTREGA DO ULTRAMAR AOS MARXISTAS DA URSS
Nestes trinta e três anos que já passaram sobre o 25 de Abril, nas múltiplas análises que os vencedores fizeram sobre os seus fundamentos, ressaltam de imediato duas razões: a necessidade de se pôr fim à guerra do Ultramar e acabar com o obscurantismo em que diziam termos mergulhado havia mais de quarenta anos, consequências inevitáveis do que alguns mais "esclarecidos" teimam em chamar fascismo. Muito recentemente vi no canal História da televisão uma reportagem sobre os regimes autoritários na Europa durante o Séc. XX. Iniciava-se com o comunismo, dizendo das linhas programáticas da ideologia e informando que, tendo surgido em 1917 na Rússia, só neste país tinha provocado 70 milhões de mortos, acrescentando que na China chegara aos 100 milhões. Seguia-se o nazismo da Alemanha Hitleriana onde foram focados os cerca de 7 milhões mandados sacrificar, na sua maioria judeus. Vinha depois o fascismo na Itália de Mussolini que, depois de se aliar a Hitler na II Grande Guerra, enveredou também pela mortandade, não havendo números exactos, mas calculando-se que mais de 1 milhão de seres humanos tenham perecido até ao final da guerra; em seguida tratou-se do franquismo na Espanha em que, nos finais da guerra civil, cerca de 70.000 terão sucumbido às mãos de Franco. Fiquei aguardando pelo salazarismo e nem uma só referência.
Antes de me debruçar sobre a tragédia da entrega do Ultramar, quero reafirmar que nós não perdemos a guerra nem a iríamos perder. Curioso que, se a tivéssemos perdido, ou se se vislumbrasse a curto ou médio prazo o soçobrar do nosso fraco potencial militar em termos de meios humanos ou materiais, não teria havido o 25 de Abril. Mas como a situação estava absolutamente controlada era preciso realizar um golpe que foi o 25 de Abril.
(...) O PROTAGONISMO DE MÁRIO SOARES
«Aconteceu então o que ficou conhecido por descolonização, de que Mário Soares, por convicção ou por ordens do PCP, foi um dos maiores responsáveis e autores. Como já acontecera antes, e que lhe valera uns tantos anos atrás das grades, colara-se mais uma vez ao PC de Álvaro Cunhal com o qual teria conjuntamente planeado a estratégia a cumprir logo a seguir ao pseudo-golpe militar do 25 de Abril. E não perdeu tempo pois havia uma fita do tempo a cumprir. Enquanto no primeiro 1.º de Maio vociferava ao lado de Cunhal que era imperioso acabar rapidamente com a vergonhosa guerra colonial, logo no dia seguinte marchava rumo às capitais europeias para explicar aos vários governos a situação em Portugal e no Ultramar na sequência do 25 de Abril. Afirmou que ia cumprir instruções do General Spínola, com o qual tinha estado reunido cerca de meia-hora!!! Não sei que directiva podia ter recebido pois, nem Spínola, nem muitos elementos do golpe, tinham a ideia rigorosa sobre os fundamentos, a génese do movimento e sua provável evolução. Acredita-se que soubessem do que gostariam que viesse a passar-se para darmos o tal salto para a frente com que todos sonhávamos, mas todos pareciam um pouco atordoados. Mário Soares, sentindo-se excessivamente dependente da estrutura do PCP, tinha fundado o seu próprio partido em Maio de 1973, para ver se conseguia um pouco mais de autonomia e, sobretudo, projecção ou protagonismo não só no espectro nacional como europeu. Na Alemanha reúne-se com meia dúzia de exilados políticos e leva a efeito o que se chamou de Congresso da AES (Associação de Esquerda Socialista), da qual era co-Fundador. Dali saiu, com pompa e circunstância, o partido socialista português, do qual Mário Soares era secretário-geral. E nesta função segue para a Europa, fazendo uma primeira escala em Bruxelas. Aqui encontra-se por mero acaso ou coincidência com Agostinho Neto que, por acaso, tinha decidido vir à Europa à procura de apoios. O homem do MPLA, derrotado politica e militarmente, parecia ressuscitar da longa agonia em que estava mergulhado. Ignora-se o teor da conversa entre os dois "lutadores antifascistas". Mário Soares sempre afirmou que não revelaria o teor da conversação havida entre ambos. No entanto, Agostinho Neto, sem qualquer projecção tanto a nível europeu como angolano, no dia seguinte, através de comunicados, incita os naturais de Angola a lutarem com toda a determinação contra o domínio e a opressão levados a cabo na sua terra, que sem qualquer benefício para o seu povo continuava a ser espoliado pelo colonizador. O que leva Agostinho Neto, que não dava sinais de vida desde 1971 e estava no Canadá aquando do 25 de Abril, a pedir ajuda aos angolanos para prosseguir a sua luta? Vem para Bruxelas, não se conhece a mando de quem e, após a conversa com Mário Soares, incentiva o povo angolano a pegar em armas e a expulsar o colonizador. Cheira a recado do nosso "mensageiro". Primeiro Acto de uma trágica odisseia que se vai arrastar por mais alguns meses, que perdura até hoje e jamais se apagará da memória dos portugueses e dos povos que a sofreram na pele.
 |
| Chegada de Mário Soares a Portugal |
 |
| Mário Soares e Álvaro Cunhal |
 |
| Ver aqui |
Na sequência do golpe, Spínola ascende a Presidente da República e forma o primeiro governo provisório. Contra a vontade do PCP, Palma Carlos é o primeiro-ministro, mas sem liberdade para escolher os elementos do seu elenco ministerial. A comissão coordenadora do MFA, com Vasco Gonçalves à cabeça, segue as instruções do PCP que, de facto, é a sede do poder neste país desgovernado. Pereira de Moura, ex-comunista, contra a vontade de Spínola, assume a pasta da Educação onde irá ter lugar uma outra revolução. Todos nos recordamos das passagens administrativas. Conheci um jovem que em 1973 tinha reprovado no 5.º ano do liceu e que em Outubro de 1974 entrou para a Universidade de Coimbra!!! Recorde-se ainda um outro ministro, Capitão Costa Martins, da Força Aérea, que servira comigo na 3.ª Rep. do EMFA, onde não mostrara um mínimo de capacidade para o desempenho das suas funções, que foi chamado para a pasta do Trabalho onde teve como Secretário de Estado o Dr. Carlos Carvalhas o qual, logicamente, organizou o ministério e procedeu à respectiva purga.
Mário Soares, com toda a naturalidade, assume a pasta dos Estrangeiros enquanto Cunhal só é Ministro de Estado. Começam a rolar cabeças em todo o tecido nacional. Uns são demitidos, outros seguem para a prisão sem qualquer nota de culpa. Recorde-se que Kaúlza de Arriaga esteve enclausurado dezoito meses porque se negou a sair sem conhecer os crimes de que era acusado. Muitas outras figuras públicas foram metidas nas prisões sem que, a qualquer delas tenha sido elaborada nota de culpa. Espantoso! Foram enjaulados sem ninguém saber os crimes que tinham cometido. Casos como este foram às centenas, senão milhares. Portugal foi decapitado e os notáveis que foram saindo, substituídos por elementos preparados e instruídos pelo PCP.
Mas Mário Soares tem uma importantíssima missão a cumprir: a descolonização.
A ENTREGA DA GUINÉ: ACORDO DE ARGEL
A situação militar antes do 25 de Abril, contrariamente ao que muitos "entendidos" afirmaram, estava perfeitamente controlada. O PAIGC dispunha de 5.000 guerrilheiros e as nossas Forças da Ordem, só em tropas guineenses, dispunham de 12.000, fora o contingente metropolitano. Os mísseis SAM-7 de fabrico Soviético trouxeram uma certa instabilidade mas que foi rapidamente solucionada. O único problema que subsistia era travar as acções realizadas pelo PAIGC contra as populações que Spínola tinha definitivamente conquistado. Os Congressos do Povo, por ele criados e com os quais reunia com frequência, levando-os a participar nas decisões que interessavam ao território, foram o maior estímulo para essas gentes que encontraram no Governo e Comandante-Chefe a plataforma de progresso e de segurança.
A notícia do golpe de Lisboa chegou a Bissau pelas cinco horas da manhã de 25 de Abril. As vinte e quatro horas que se seguiram foram de confusa discussão e de cuidadoso planeamento da parte do MFA local. Embora o Movimento estivesse bem implantado em Bissau, havia muitas dúvidas quanto às intenções do General B. Rodrigues, como da omnipresente DGS. A decisão para avançar chegou na manhã do dia 26, quando uma delegação de dez oficiais do MFA com uma escolta de pára-quedistas prendeu o governador. Os presos políticos foram libertados e os funcionários da DGS substituíram-nos nas celas. Com efeito, a Guiné-Bissau tivera o seu próprio golpe militar no dia seguinte ao da Metrópole. O General Bettencourt Rodrigues foi demitido em 26 de Abril de 1974 e mandado regressar a Lisboa. Sai de Bissau com as honras que lhe eram devidas, mas no Sal, onde muda de avião, segue para Lisboa sob prisão, sendo no dia seguinte posto em liberdade. As suas funções como governador e comandante militar foram assumidas por oficiais que gozavam da confiança do MFA. Preocupada com outros assuntos em Lisboa, a JSN não estava em posição de intervir na Guiné durante os primeiros dias que se seguiram ao golpe, apesar de ter razões para isso.
 |
| Guiné Portuguesa |
 |
| Aeroporto Craveiro Lopes |
 |
| Manifestação a favor de Portugal na Guiné |
Mário Soares, sedento de mostrar trabalho na sua nova função, inicia, ainda em meados de Maio, contactos com o PAIGC em Londres, procurando negociar com Aristides Pereira a autodeterminação para o território. Mas o PAIGC limita-se a afirmar que a Guiné era um estado independente e que o governo português só teria que reconhecê-lo e acordar uma data para a transmissão de poderes. Mário Soares sabia que não era isso que constava do programa do MFA. A 25 de Maio tem lugar uma nova reunião em Londres com o PAIGC, com os mesmos resultados, mas M. Soares, nas declarações que fez, afirmou que no final as duas delegações se tinham abraçado. Entretanto, o Ten. Cor. Fabião é graduado em brigadeiro e mandado por Spínola para a Guiné, onde assume as funções de Governador e Comandante-Chefe. O PAIGC acaba com toda a actividade armada e os militares de um e outro lado confraternizam como se nada tivesse acontecido no passado. Entretanto, os oficiais ditos "progressistas" iniciam uma campanha de politização nas unidades e orgãos militares. São responsáveis por disseminarem o vírus revolucionário nas FA da Guiné.
Logo após a declaração que Spínola foi forçado a fazer (seria o seu último contributo para a revolução) a 27 de Julho, reconhecendo aos territórios ultramarinos o direito à autodeterminação e independência, Mário Soares ficou com toda a liberdade para assinar todos os acordos como muito bem entendesse. Por isso, e ainda por considerar o país ingovernável, o primeiro-ministro Palma Carlos demite-se. A sua substituição envolveu-se numa certa polémica, pois todos os nomes indicados por Spínola à comissão coordenadora do MFA e à JSN não serviam ou não estavam disponíveis e acabou por nomear Vasco Gonçalves, como pretendiam os seus rapazes mais chegados.
M. Soares continua as negociações com os novos amigos do PAIGC, mas agora em Argel, e a 26 de Agosto acabaram finalmente por chegar a um acordo que apenas se limitava ao reconhecimento da independência da Guiné, à data para a transmissão de poderes ao PAIGC e à saída das tropas portuguesas, sem qualquer referência à situação no interior do território, onde as populações foram totalmente ignoradas.
A este respeito disse Jacques Soustelle: "Em tudo isso qual é o valor das necessidades, das aspirações, das misérias ou das esperanças dos Balantas, dos Papéis, dos Mandingas, dos Manjacos e doutros povos da Guiné? Aquele cujo interesse apaixonado que pretendem sentir por eles é só de boca, apenas os traem cinicamente na realidade".
Importa ainda referir que no n.º 17 do Anexo ao acordo, Portugal obrigou-se a desarmar os comandantes guineenses que tinham combatido ao nosso lado. É importante realçar isto pois na sequência da independência foram todos sumariamente fuzilados pelo PAIGC. Sobre quem os abandonou fica este vergonhoso labelo. Que o opróbrio se lhe cole à pele até ao fim dos tempos.
 |
| Vala comum de antigos combatentes africanos das Forças Armadas Portuguesas às ordens de Luís Cabral (1980). |
O acordo foi assinado em 26 de Agosto do lado português por Mário Soares, Almeida Santos, Almeida D'Eça, então CMG, e Alto-Comissário, e o ainda Major Hugo dos Santos. Creio que os dois principais responsáveis pelas negociações, Mário Soares e Almeida Santos, jamais tinham pisado o solo da Guiné e pouco conheciam da sua situação no 25 de Abril. Almeida Santos inclusivamente afirmou que era importante proceder rapidamente à descolonização, pois uma derrota militar na Guiné estava iminente. Mário Soares terminava aqui a sua primeira batalha da descolonização que começou por classificar no seu todo como "um sucesso espectacular"!!! Começara a cumprir a missão sonhada por Cunhal dentro da estratégia concebida pela URSS. E a chamada Guiné-Bissau lá ficou com os novos senhores, os seus dramas e tragédias.
Cabo Verde teria que ser negociado à parte, porquanto os guineenses não aceitaram os quadros do PAIGC, na sua grande maioria de origem cabo-verdiana.
A ENTREGA DE MOÇAMBIQUE
Esta foi uma técnica usada a partir do final dos anos sessenta para mentalizar as forças armadas da injustiça da guerra e pressionar no sentido de regressarem o mais rapidamente possível. Foi assim na Guiné, onde o nosso conhecido Vasco Lourenço foi contaminado, foi assim em Moçambique e, em muito menor escala, em Angola.
Aquando do 25 de Abril, a estrutura do MFA em Moçambique estava a funcionar. Nos primeiros meses de 1974 (Janeiro e Fevereiro) a Frelimo sofreu numerosas baixas na sequência de acções de limpeza levadas a cabo pelas unidades especiais (GE e GEP) do recrutamento local. As unidades da metrópole estavam já contaminadas pelo vírus revolucionário e, pura e simplesmente, evitavam a luta. Ficavam nos quartéis, só disponíveis para acções defensivas como determinara o MFA. Assim, no dia 1 de Agosto, as primeiras indicações do que poderia implicar esse colapso militar chegaram com a rendição à Frelimo da guarnição militar de Omar, na fronteira com a Tanzânia, e a sua evacuação para o outro lado da fronteira, como prisioneiros de guerra. Não ficou bem claro se na realidade os soldados portugueses se renderam ou se estavam a participar numa manifestação de propaganda pró Frelimo que fora mais longe do que aquilo com que contavam. O que é certo é que os guerrilheiros da Frelimo que ocuparam a base deram-se ao trabalho de fazer uma gravação audio de todo o incidente. Spínola não tinha dúvidas quanto à cumplicidade dos supostos defensores do quartel. Para ele, o caso constituía "prova irrefutável do índice de prostituição moral a que haviam chegado alguns militares portugueses". Outra opinião de diferente perspectiva política, foi a de Pezarat Correia, uma importante figura do MFA em Angola, para quem os militares haviam sido levados a crer - erradamente - que se chegara a um acordo de cessar-fogo geral e que, por isso, haviam autorizado os guerrilheiros a entrar na base, de acordo com o novo espírito de confraternização.
Face à pressão do MFA de Moçambique, a primeira reunião tem lugar ainda em Junho e a delegação portuguesa é chefiada por Mário Soares, então MNE, assessorado pelo Major do MFA Otelo S. de Carvalho, que foi a pedido de Spínola para travar os ímpetos descolonizadores de Mário Soares, pois apenas devia estar em jogo o cessar-fogo. A reunião teve lugar em Lusaca nela também tendo participado o Presidente Kaunda. Logo que entrou a delegação da Frelimo chefiada por Samora Machel o qual, após várias vicissitudes, sucedera a Mondlane, Mário Soares, após uma breve troca de palavras com Otelo, levantou-se, circundou a mesa e, dirigindo-se a Samora Machel, deu-lhe um enorme abraço numa atitude absolutamente indigna e patética o que conferiu a Machel uma importante situação de força no diálogo que iriam travar. Um dos jornalistas presentes, algo estupefacto, disse que em Evian, onde franceses e argelinos discutiram o problema da Argélia, só na última ronda os membros das duas delegações apertaram as mãos. As tentativas de Soares para acordar no cessar-fogo foram totalmente rejeitadas, acabando Samora por dizer: "recuso liminarmente o referendo para auscultar a população e afirmo que só a Frelimo tem legitimidade para negociar".
Otelo pede para intervir e depois de referir que ali apenas representa o MFA, que é quem manda em Portugal e, como tal, ele se estivesse no lugar de Samora Machel faria exactamente o mesmo.
Isto conduziu a um certo burburinho ao ponto de Samora Machel dizer a Otelo que devia estar do outro lado da mesa, ao seu lado. Mário Soares regressa de mãos completamente vazias, mas com os poderes de Samora Machel substancialmente aumentados, na sequência do abraço. Uma cena idêntica já ocorrera na segunda reunião em Londres com o PAIGC, onde nada havia a negociar, acabando as duas delegações por se abraçar. Tudo era uma festa para Mário Soares, que nada conhecia de África e muito menos dos territórios sob administração portuguesa, onde grassava a guerra.
E as negociações prosseguiram, agora já com a presença indispensável do lugar-tenente de Mário Soares, o Ministro da Coordenação Iter-Territorial, Almeida Santos. Mário Soares tratava dos itens das negociações, mas sem qualquer resultado positivo porque ou não conhecia minimamente o terreno onde se movimentava, ou não podia porque era sistematicamente ultrapassado por figuras aparentemente de segundo plano. Mário Soares era então o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal. Pelo seu lado, Almeida Santos limitava-se a pôr em bom português os textos dos acordos firmados. Isto era necessário porque parece que os nossos interlocutores não eram muito dotados no campo da escrita. Outros agrupamentos formam-se, entretanto, até com o apoio de Spínola para se criar uma plataforma alternativa à Frelimo. Entretanto, vão ocorrendo os encontros informais e secretos com a Frelimo, que o MFA acabou por considerar como o único movimento representante do povo moçambicano. Já depois da publicação da Lei 7/74, que conferia aos territórios ultramarinos o direito à autodeterminação e independência, a delegação portuguesa, que incluía logicamente a dupla Mário Soares/Almeida Santos, parte para Lusaca, e Melo Antunes (dito o intelectual da revolução) faz um desvio por Dar-Es-Salaam, onde se encontra com um oficial do MFA de Moçambique e membros da Frelimo. Aqui são definidas e acordadas as linhas principais do acordo final que seria assinado em Lusaca, a 7 de Setembro de 1974, onde se afirmava ser a Frelimo o único movimento em Moçambique que iria fazer parte, já em maioria, dum governo de transição, sem se auscultar a população, e que a transmissão de poderes teria lugar a 25 de Junho de 1975.
Tudo isto é definido em Dar-Es-Salaam, enquanto em Lusaca, M. Soares e A. Santos aguardavam a chegada de Melo Antunes e a delegação da Frelimo.
A dupla socialista sentiu-se ultrapassada e não percebia o que estava ali a fazer. Após a reunião fingiu a sua insatisfação pela situação criada. A sessão serviu para se acertarem os detalhes e Almeida Santos corrigir o português dos textos. E o acordo foi assinado com glória para Mário Soares e os homens do MFA. A comunidade branca reagiu, mas foi travada no seu desespero. A tropa, as Forças Armadas, saíram humilhadas, como que envergonhadas pelo peso da derrota que jamais teria acontecido. Estou certo que vinham de consciência tranquila com a certeza do dever cumprido. A população negra aceita a situação e procura adaptar-se às orientações políticas e sociais do novíssimo patrão - Samora Machel, o ajudante de farmacêutico que há alguns anos se juntara à Frelimo para servir os desígnios de certos senhores.
Samora Machel teve sempre o controlo das negociações. Quando se tratou da questão do referendo não só o recusou, como declarou "que quem votasse nesse referendo era traidor". Tinha a consciência de que a solução Frelimo não interessava à grande maioria das populações. O seu potencial de combate, após as deserções e as baixas causadas pelos comandos negros moçambicanos, era insignificante e só actuavam quando não tinham de entrar em confronto com as forças da ordem. Limitavam-se a atacar aldeamentos, colocar minas, e, esporadicamente, montar uma emboscada. Aquando do 25 de Abril, as forças metropolitanas estavam anestesiadas pelo vírus revolucionário, mas os guerrilheiros da Frelimo não passavam dum brinquedo para as forças do recrutamento local que, na altura, constituíam 60% dos meios totais presentes em Moçambique.
Apenas as questões que interessavam à Frelimo foram discutidas ou impostas por Machel nas negociações. Questões tão importantes como o Banco emissor e Cahora Bassa não foram abordadas e o governo de transição que se seguiu também ignorou estas questões de magna importância.
A respeito da auscultação da população que a Frelimo recusara, Almeida Santos afirmou, cerca de 4 meses após os acordos de Lusaca que a "alternativa era uma guerra cuja continuidade era um preço demasiado alto para contrabalançar o peso de um princípio". Será curioso lembrar que nem sempre foi esta a posição de Almeida Santos. Desde que se pôs o problema da descolonização sempre afirmou "que devem ser os próprios territórios a escolher o seu futuro estatuto político através de uma consulta universal e directa". Mas acrescentava: "a vontade dos povos tem de ser um dogma para todos nós, pelo que não se pode sair fora deste princípio para estabelecer para Angola, Moçambique e demais territórios os regimes que não sejam o resultado de uma ampla e directa consulta às populações". Esta foi a posição defendida pelo Sr. Ministro até finais de Julho de 1974. Depois deu o dito por não dito. Porquê, perguntar-se-á? Ele, aparentemente, só tinha que participar numa descolonização que não ignorasse a realidade desses territórios e a vontade das suas gentes. Estes objectivos não eram os de Mário Soares. Este tinha de ultrapassar Spínola e entregar as ditas colónias à tutela da URSS. Eram atitudes completamente diferentes e, assim, o seu amigo A. Santos não podia estar a criar obstáculos à concretização da grande traição. Para não hipotecar o seu próprio futuro político, Almeida Santos renega todos os princípios que tinha defendido e "cola-se" como uma lapa a Mário Soares. Além do mais, Almeida Santos, que tinha a sua vida organizada em Lourenço Marques, não se apercebera que, militarmente, a guerra estava ganha.
Também Mário Soares, após os acordos de Argel e de Lusaca, reuniu os jornalistas para, como afirmou, "fazer um primeiro balanço e, ao mesmo tempo, ilustrar as grandes linhas da política que conduzia". Em 21 de Dezembro de 1974 acrescentava que tinha estado, pessoalmente, desde o início, ligado ao processo da descolonização das nossas colónias e pensava que ela estava a seguir, de uma maneira geral, uma forma extraordinariamente favorável.
Com o empenho indispensável dos rapazes do MFA e o protagonismo de Mário Soares, assim se completou a estratégia definida pela URSS para esta terra e estas gentes, agora entregues à "bicharada".
Samora Machel, logo após o acordo de Lusaca, mandou recrutar 5000 moçambicanos entre os deslocados na Tanzânia, que aí fizeram o seu treino militar para no dia da independência desfilarem em Lourenço Marques perante o novíssimo Presidente e o povo que, certamente, não deixaria de comparecer. Na altura, Samora Machel faria o seu discurso às massas, do qual se extraiu o seguinte excerto:
"nós derrotámos as forças portuguesas, derrotámos os generais mais qualificados em crimes, derrotámos os soldados fascistas; nós derrotámos oficiais qualificados pelas academias reaccionárias..."
O Almirante Vítor Crespo foi o Alto-Comissário no período de transição e, sempre que se dirigia aos orgãos de comunicação social, não se cansava de elogiar os esforços dos dirigentes da Frelimo para governar o país que iria ter, sem qualquer dúvida, um futuro altamente promissor, embora depois, noutras circunstâncias, tivesse afirmado: "que se tornou patente a falta de quadros técnicos e administrativos da Frelimo".
Também Mário Soares, bastante mais tarde, depois de consumado o crime, diria a respeito da Frelimo: "que se tratava de um movimento com falta de quadros, falta de preparação e que não estava suficientemente amadurecido para garantir um governo". Mas mesmo assim não deixava de qualificar a descolonização como um "incontestável sucesso", que fora possível graças ao seu saber, à sua capacidade de negociação e à sua determinação e, acrescento eu, graças à sua incansável sede de poder e vingança, preparando assim a sua ascensão ao estrelato nacional. Triste, vergonhoso, criminoso, etc..., mas infelizmente verdade.
Mas assim não entendia Moscovo e os seus súbditos que actuavam no terreno. Em Angola, o trio dirigente, Rosa Coutinho, Pezarat Correia e Emílio Silva, sempre em grande actividade, não passavam de lacaios do comunismo. A acção principal era conduzida pela estrutura de milicianos que agiam por conta própria segundo as directivas recebidas. Algumas vezes, o Chefe de Gabinete do Membro da Junta Major Emílio da Silva, tomava decisões que, na minha opinião, eram questões para serem analisadas e decididas ao mais alto nível (Junta Governativa), mas esse alferes tomava a dianteira. Insurgi-me contra esta prática e propus o seu regresso imediato à Metrópole. Então o Emílio da Silva fixou-me e disse, com firmeza: "O meu brigadeiro fixe este nome, pois ele ainda vai ser alguém de grande importância no nosso país". Referia-se, naturalmente, ao alferes miliciano chefe do gabinete. Esqueci o seu nome e ignoro o que faz hoje. Esperava uma reacção dos outros membros da Junta, em especial do Rosa Coutinho, mas nem um só gesto, e continuámos a nossa reunião, tratando dos assuntos do dia-a-dia. O trabalho de reabilitar o MPLA continuava a ser realizado pela chamada "arraia-miúda", a quem o PCP, tentáculo do PCUS, dava instruções muito concretas. A luta entre os movimentos, nomeadamente MPLA e FNLA, continuava não só em Luanda, mas por todo o território. A ordem era a destruição, a instabilidade em todos os sectores de actividade, públicos e privados, e o medo, direi mesmo terror, que começava a invadir as pessoas, em especial a comunidade branca que se interrogava quanto ao seu futuro naquela terra. Começou também a "caça às bruxas" e muita gente foi presa ou expulsa sem qualquer tipo de acusação. Inventaram-se grupos reaccionários, a quem acusavam de provocar distúrbios por toda a parte. Era preciso fazer rolar cabeças. Esta estrutura do MFA trabalhou em perfeita sintonia com o MPLA, e muitas decisões eram tomadas em conjunto. Mas a missão estava a ser cumprida e os homens do recrutamento local que estavam nas nossas Forças Armadas eram desmobilizados e ingressavam, na sua quase totalidade, no MPLA, nas chamadas FAPLA (Forças Armadas Populares de Libertação de Angola). Conversava regularmente com os dirigentes de delegações estabelecidas em Luanda e não me foi difícil concluir: o MPLA, com o apoio soviético e do MFA, e até do governo de Lisboa, preparava-se para tomar o poder pela força; a FNLA, com o apoio dos americanos, mas muito especialmente, de Mobutu, estava exactamente na mesma linha; a UNITA, sem apoios exteriores e sem ser reconhecida pela ONU, pretendia que a solução final fosse encontrada democraticamente através de eleições. Mas primeiro havia que dialogar com Portugal antes da transferência de poderes, havendo que escolher a data e o local. Em Novembro fui confrontado com a decisão, aparentemente do triunvirato (R. Coutinho, Emílio da Silva e Pezarat Correia), para que a reunião ocorresse a 21 de Dezembro de 1974, nos Açores. Mas entre os movimentos havia um enorme contencioso que se arrastava praticamente desde a sua fundação, com escaramuças de vária ordem, desde as verbais ao combate armado. Parece-me que os movimentos tinham necessidade absoluta de discutir entre eles esse contencioso e aparecerem com uma só proposta para discutir com o nosso país. Tomei a iniciativa e viajei até à capital do Zaire, Kinshasa, onde sabia estarem os presidentes da UNITA e da FNLA, respectivamente Jonas Savimbi e Holden Roberto. Assim aconteceu, tendo havido compreensão e abertura, e quando informei da minha intenção de falar também com o Agostinho Neto, que se encontrava ali ao lado, no Congo-Brazaville, Savimbi disse-me que não era necessário, pois ele próprio trataria do assunto e não tinha dúvidas de que o MPLA alinharia de imediato com a ideia. Assim nasceu a pré-cimeira de Mombaça, que teve lugar já em meados de Janeiro, antecedendo a cimeira que teve lugar no Hotel de Penina, no Algarve, onde nasceu o célebre Acordo do Alvor.
A situação no terreno aquando do 25 de Abril não se encontrava totalmente resolvida, mas também não era, de qualquer forma, inquietante. As forças da Frelimo, após o fracasso na missão de Cahora Bassa, a integração nas nossas forças do recrutamento local, em especial os GE e GEP, o agrupamento das populações em aldeamentos, subtraindo-as ao controlo da Frelimo, as inúmeras deserções, a dureza da sua luta, trouxeram os efectivos para qualquer coisa da ordem dos 1.200 guerrilheiros, incluindo muitos marginais da Tanzânia e Zâmbia. A grande maioria destes homens, ao fim de dez anos de luta sem qualquer sucesso, tinha deixado de acreditar. Nesta altura o seu principal objectivo era atacar os aldeamentos que eram defendidos por milícias de recrutamento local. Esta nunca poderia ser a sua estratégia, porquanto em vez de conquistar as populações ainda as afastava mais. Recorde-se que neste Abril de 1974 os efectivos do recrutamento local atingiam cerca de 60% da totalidade das Forças Armadas em Moçambique. Mas o contingente europeu estava já em grande parte contaminado pelo vírus revolucionário vindo da Guiné. O então Major Aniceto Afonso, com o seu lugar-tenente Capitão Mário Tomé, que tinha exercido as funções de ajudante do General Kaúlza de Arriaga, assumiram ser a cabeça do Movimento dos Capitães em Moçambique. Segundo declaração de A. Afonso, no documentário da RTP "Combatentes do Ultramar", a comissão coordenadora do MFA fizera a sua primeira assembleia em 13 de Setembro de 1973, durante a qual se ficou a saber que a sua estrutura em núcleos regionais já tinha sido estabelecida e estava a trabalhar. Recorde-se que foi na sequência do levantamento académico de 68/69 que o PCP aconselhou os estudantes, já devidamente preparados para a sua luta, a ingressar nas Forças Armadas para cumprimento do chamado "serviço militar".
Como escreveu Anthony Burton: "a guerra provocou uma expansão extremamente rápida do Exército, com a entrada de milhões de jovens, vindos directamente da Universidade, como milicianos.
Os portugueses tinham um sistema extraordinário, pelo qual os alunos universitários, independentemente das suas qualidades de chefia e depois de algumas semanas de treino básico, eram promovidos a oficiais, enquanto que jovens sem o exame de admissão à universidade só podiam tornar-se oficiais em circunstâncias raríssimas. O resultado deste sistema foi, por um lado o descontentamento e, pelo outro, infiltrou directamente nas Forças Armadas, com o posto de alferes, agitadores vindos das organizações de protesto universitário, para continuarem, entre os militares, a agitação política. Eram estes os homens que, graduados em capitão, comandavam as tropas em postos avançados. E como não havia, praticamente, entretenimentos nessas zonas da guerra em África, os "comandantes-agitadores" tinham amplas oportunidades de fomentar debates políticos com os seus homens".
Esta foi uma técnica usada a partir do final dos anos sessenta para mentalizar as forças armadas da injustiça da guerra e pressionar no sentido de regressarem o mais rapidamente possível. Foi assim na Guiné, onde o nosso conhecido Vasco Lourenço foi contaminado, foi assim em Moçambique e, em muito menor escala, em Angola.
A insurreição em Moçambique foi a última a desencadear-se. Eduardo Mondlane, nascido em Moçambique em 1920, emigrou para os EUA no início da década de 50 e aí, durante seis anos, conseguiu a licenciatura, mestrado e doutoramento em Biologia e Antropologia. No princípio da década de 60 volta para Dar-Es-Salaam, onde se encontra sua mulher, Directora do Instituto Moçambicano, através do qual a Frelimo chegou a receber alguma ajuda financeira dos EUA, embora as suas maiores fontes de financiamento se situassem em alguns países africanos, na União Soviética e até na China.
A sua actividade registou-se sobretudo na região Norte da província, nunca se tendo aproximado do asfalto nem de centros populacionais. Os confrontos tinham lugar quase exclusivamente no mato. Em 1968 desce para Sul, cria uma base na Zâmbia donde partem os raids para a zona de Tete a fim de impedir a construção da barragem de Cahora Bassa, sobre a qual Mondlane afirmou: "se nós não destruirmos esta barragem, ela destruir-nos-á para sempre".
Na realidade, o projecto Cahora Bassa iria ter tão profunda repercussão na economia da província que impediria, de forma irreversível, o objectivo da subversão na conquista das populações. Mas a barragem foi uma realidade, assim como as linhas de transporte de energia ao longo de 1300 Km, quinhentos dos quais em território Moçambicano.
A Frelimo, debilitada com as guerras internas e pela não aceitação por parte das populações, acabou por não cumprir a missão de destruir Cahora Bassa e antes do 25 de Abril todos os projectos estavam prontos sem terem sofrido atrasos ou aumento de custos. A barragem estava construída, as linhas para transporte de energia foram instaladas. O recrutamento e a preparação do homem moçambicano continuavam a ritmo elevado. A população rural, entretanto concentrada em aldeamentos protegidos por milícias, passaram a ser o principal alvo dos guerrilheiros da Frelimo que, segundo comunicado do Comité Central da Frelimo em 25 de Setembro de 1967 afirmava: "Há muitas dificuldades. Os guerrilheiros têm por vezes de passar dias inteiros sem comer, têm de dormir ao relento e, às vezes, têm de marchar dias ou mesmo semanas para fazer um ataque ou uma emboscada".
Numa guerra deste tipo, o guerrilheiro tem de viver no seio da população. Em Moçambique tal não acontecia. É de destacar que, numa cidade como Lourenço Marques, com mais de 420.000 habitantes, dos quais 5/6 africanos, a Frelimo não conseguira adesão suficiente para levar à prática de um só acto de terrorismo, e a segurança dos governantes esteve sempre entregue a africanos, deslocando-se por todo o lado sem quaisquer medidas especiais de protecção. Se o 25 de Abril não tivesse acontecido, a situação em Moçambique não seria muito diferente da que se vivia já em Angola.
Mas a URSS nos últimos anos da década de 60, por volta de 1967, sentiu necessidade de alterar radicalmente a sua estratégia para conseguir os objectivos fixados. Em Moçambique, o maior movimento de libertação, a Frelimo, tinha à sua frente um homem totalmente pró-americano e, como tal, teria que ser eliminado, pois após uma eventual autodeterminação e independência este território ficaria na esfera de influência do Ocidente. Isto não era aceitável ou possível para os planos soviéticos e, como tal, haveria que afastar Mondlane. Assim aconteceu, em Fevereiro de 1969, com a utilização do célebre envelope-armadilha que matou o fundador do movimento. Ainda hoje este acto permanece associado a uma nebulosa conjura interna. Não importa quem preparou o envelope, importa sim o porquê e o para quê. O mesmo viria a acontecer a Amílcar Cabral na Guiné, quando se preparava para um cessar-fogo com o então Governador-Geral General Spínola. É claro e evidente o porquê do seu desaparecimento e a origem das ordens ou directivas para a sua execução. A forma como o fizeram não interessa, era importante e essencial fazê-lo.
Aquando do 25 de Abril, a estrutura do MFA em Moçambique estava a funcionar. Nos primeiros meses de 1974 (Janeiro e Fevereiro) a Frelimo sofreu numerosas baixas na sequência de acções de limpeza levadas a cabo pelas unidades especiais (GE e GEP) do recrutamento local. As unidades da metrópole estavam já contaminadas pelo vírus revolucionário e, pura e simplesmente, evitavam a luta. Ficavam nos quartéis, só disponíveis para acções defensivas como determinara o MFA. Assim, no dia 1 de Agosto, as primeiras indicações do que poderia implicar esse colapso militar chegaram com a rendição à Frelimo da guarnição militar de Omar, na fronteira com a Tanzânia, e a sua evacuação para o outro lado da fronteira, como prisioneiros de guerra. Não ficou bem claro se na realidade os soldados portugueses se renderam ou se estavam a participar numa manifestação de propaganda pró Frelimo que fora mais longe do que aquilo com que contavam. O que é certo é que os guerrilheiros da Frelimo que ocuparam a base deram-se ao trabalho de fazer uma gravação audio de todo o incidente. Spínola não tinha dúvidas quanto à cumplicidade dos supostos defensores do quartel. Para ele, o caso constituía "prova irrefutável do índice de prostituição moral a que haviam chegado alguns militares portugueses". Outra opinião de diferente perspectiva política, foi a de Pezarat Correia, uma importante figura do MFA em Angola, para quem os militares haviam sido levados a crer - erradamente - que se chegara a um acordo de cessar-fogo geral e que, por isso, haviam autorizado os guerrilheiros a entrar na base, de acordo com o novo espírito de confraternização.
Face à pressão do MFA de Moçambique, a primeira reunião tem lugar ainda em Junho e a delegação portuguesa é chefiada por Mário Soares, então MNE, assessorado pelo Major do MFA Otelo S. de Carvalho, que foi a pedido de Spínola para travar os ímpetos descolonizadores de Mário Soares, pois apenas devia estar em jogo o cessar-fogo. A reunião teve lugar em Lusaca nela também tendo participado o Presidente Kaunda. Logo que entrou a delegação da Frelimo chefiada por Samora Machel o qual, após várias vicissitudes, sucedera a Mondlane, Mário Soares, após uma breve troca de palavras com Otelo, levantou-se, circundou a mesa e, dirigindo-se a Samora Machel, deu-lhe um enorme abraço numa atitude absolutamente indigna e patética o que conferiu a Machel uma importante situação de força no diálogo que iriam travar. Um dos jornalistas presentes, algo estupefacto, disse que em Evian, onde franceses e argelinos discutiram o problema da Argélia, só na última ronda os membros das duas delegações apertaram as mãos. As tentativas de Soares para acordar no cessar-fogo foram totalmente rejeitadas, acabando Samora por dizer: "recuso liminarmente o referendo para auscultar a população e afirmo que só a Frelimo tem legitimidade para negociar".
Otelo pede para intervir e depois de referir que ali apenas representa o MFA, que é quem manda em Portugal e, como tal, ele se estivesse no lugar de Samora Machel faria exactamente o mesmo.
Isto conduziu a um certo burburinho ao ponto de Samora Machel dizer a Otelo que devia estar do outro lado da mesa, ao seu lado. Mário Soares regressa de mãos completamente vazias, mas com os poderes de Samora Machel substancialmente aumentados, na sequência do abraço. Uma cena idêntica já ocorrera na segunda reunião em Londres com o PAIGC, onde nada havia a negociar, acabando as duas delegações por se abraçar. Tudo era uma festa para Mário Soares, que nada conhecia de África e muito menos dos territórios sob administração portuguesa, onde grassava a guerra.
E as negociações prosseguiram, agora já com a presença indispensável do lugar-tenente de Mário Soares, o Ministro da Coordenação Iter-Territorial, Almeida Santos. Mário Soares tratava dos itens das negociações, mas sem qualquer resultado positivo porque ou não conhecia minimamente o terreno onde se movimentava, ou não podia porque era sistematicamente ultrapassado por figuras aparentemente de segundo plano. Mário Soares era então o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal. Pelo seu lado, Almeida Santos limitava-se a pôr em bom português os textos dos acordos firmados. Isto era necessário porque parece que os nossos interlocutores não eram muito dotados no campo da escrita. Outros agrupamentos formam-se, entretanto, até com o apoio de Spínola para se criar uma plataforma alternativa à Frelimo. Entretanto, vão ocorrendo os encontros informais e secretos com a Frelimo, que o MFA acabou por considerar como o único movimento representante do povo moçambicano. Já depois da publicação da Lei 7/74, que conferia aos territórios ultramarinos o direito à autodeterminação e independência, a delegação portuguesa, que incluía logicamente a dupla Mário Soares/Almeida Santos, parte para Lusaca, e Melo Antunes (dito o intelectual da revolução) faz um desvio por Dar-Es-Salaam, onde se encontra com um oficial do MFA de Moçambique e membros da Frelimo. Aqui são definidas e acordadas as linhas principais do acordo final que seria assinado em Lusaca, a 7 de Setembro de 1974, onde se afirmava ser a Frelimo o único movimento em Moçambique que iria fazer parte, já em maioria, dum governo de transição, sem se auscultar a população, e que a transmissão de poderes teria lugar a 25 de Junho de 1975.
Tudo isto é definido em Dar-Es-Salaam, enquanto em Lusaca, M. Soares e A. Santos aguardavam a chegada de Melo Antunes e a delegação da Frelimo.
A dupla socialista sentiu-se ultrapassada e não percebia o que estava ali a fazer. Após a reunião fingiu a sua insatisfação pela situação criada. A sessão serviu para se acertarem os detalhes e Almeida Santos corrigir o português dos textos. E o acordo foi assinado com glória para Mário Soares e os homens do MFA. A comunidade branca reagiu, mas foi travada no seu desespero. A tropa, as Forças Armadas, saíram humilhadas, como que envergonhadas pelo peso da derrota que jamais teria acontecido. Estou certo que vinham de consciência tranquila com a certeza do dever cumprido. A população negra aceita a situação e procura adaptar-se às orientações políticas e sociais do novíssimo patrão - Samora Machel, o ajudante de farmacêutico que há alguns anos se juntara à Frelimo para servir os desígnios de certos senhores.
Samora Machel teve sempre o controlo das negociações. Quando se tratou da questão do referendo não só o recusou, como declarou "que quem votasse nesse referendo era traidor". Tinha a consciência de que a solução Frelimo não interessava à grande maioria das populações. O seu potencial de combate, após as deserções e as baixas causadas pelos comandos negros moçambicanos, era insignificante e só actuavam quando não tinham de entrar em confronto com as forças da ordem. Limitavam-se a atacar aldeamentos, colocar minas, e, esporadicamente, montar uma emboscada. Aquando do 25 de Abril, as forças metropolitanas estavam anestesiadas pelo vírus revolucionário, mas os guerrilheiros da Frelimo não passavam dum brinquedo para as forças do recrutamento local que, na altura, constituíam 60% dos meios totais presentes em Moçambique.
Apenas as questões que interessavam à Frelimo foram discutidas ou impostas por Machel nas negociações. Questões tão importantes como o Banco emissor e Cahora Bassa não foram abordadas e o governo de transição que se seguiu também ignorou estas questões de magna importância.
A respeito da auscultação da população que a Frelimo recusara, Almeida Santos afirmou, cerca de 4 meses após os acordos de Lusaca que a "alternativa era uma guerra cuja continuidade era um preço demasiado alto para contrabalançar o peso de um princípio". Será curioso lembrar que nem sempre foi esta a posição de Almeida Santos. Desde que se pôs o problema da descolonização sempre afirmou "que devem ser os próprios territórios a escolher o seu futuro estatuto político através de uma consulta universal e directa". Mas acrescentava: "a vontade dos povos tem de ser um dogma para todos nós, pelo que não se pode sair fora deste princípio para estabelecer para Angola, Moçambique e demais territórios os regimes que não sejam o resultado de uma ampla e directa consulta às populações". Esta foi a posição defendida pelo Sr. Ministro até finais de Julho de 1974. Depois deu o dito por não dito. Porquê, perguntar-se-á? Ele, aparentemente, só tinha que participar numa descolonização que não ignorasse a realidade desses territórios e a vontade das suas gentes. Estes objectivos não eram os de Mário Soares. Este tinha de ultrapassar Spínola e entregar as ditas colónias à tutela da URSS. Eram atitudes completamente diferentes e, assim, o seu amigo A. Santos não podia estar a criar obstáculos à concretização da grande traição. Para não hipotecar o seu próprio futuro político, Almeida Santos renega todos os princípios que tinha defendido e "cola-se" como uma lapa a Mário Soares. Além do mais, Almeida Santos, que tinha a sua vida organizada em Lourenço Marques, não se apercebera que, militarmente, a guerra estava ganha.
Também Mário Soares, após os acordos de Argel e de Lusaca, reuniu os jornalistas para, como afirmou, "fazer um primeiro balanço e, ao mesmo tempo, ilustrar as grandes linhas da política que conduzia". Em 21 de Dezembro de 1974 acrescentava que tinha estado, pessoalmente, desde o início, ligado ao processo da descolonização das nossas colónias e pensava que ela estava a seguir, de uma maneira geral, uma forma extraordinariamente favorável.
Com o empenho indispensável dos rapazes do MFA e o protagonismo de Mário Soares, assim se completou a estratégia definida pela URSS para esta terra e estas gentes, agora entregues à "bicharada".
Samora Machel, logo após o acordo de Lusaca, mandou recrutar 5000 moçambicanos entre os deslocados na Tanzânia, que aí fizeram o seu treino militar para no dia da independência desfilarem em Lourenço Marques perante o novíssimo Presidente e o povo que, certamente, não deixaria de comparecer. Na altura, Samora Machel faria o seu discurso às massas, do qual se extraiu o seguinte excerto:
"nós derrotámos as forças portuguesas, derrotámos os generais mais qualificados em crimes, derrotámos os soldados fascistas; nós derrotámos oficiais qualificados pelas academias reaccionárias..."
O Almirante Vítor Crespo foi o Alto-Comissário no período de transição e, sempre que se dirigia aos orgãos de comunicação social, não se cansava de elogiar os esforços dos dirigentes da Frelimo para governar o país que iria ter, sem qualquer dúvida, um futuro altamente promissor, embora depois, noutras circunstâncias, tivesse afirmado: "que se tornou patente a falta de quadros técnicos e administrativos da Frelimo".
Também Mário Soares, bastante mais tarde, depois de consumado o crime, diria a respeito da Frelimo: "que se tratava de um movimento com falta de quadros, falta de preparação e que não estava suficientemente amadurecido para garantir um governo". Mas mesmo assim não deixava de qualificar a descolonização como um "incontestável sucesso", que fora possível graças ao seu saber, à sua capacidade de negociação e à sua determinação e, acrescento eu, graças à sua incansável sede de poder e vingança, preparando assim a sua ascensão ao estrelato nacional. Triste, vergonhoso, criminoso, etc..., mas infelizmente verdade.
A ENTREGA DE ANGOLA: ACORDO DO ALVOR
Agostinho Neto ainda fez um congresso na Zâmbia, com todas as facções do movimento, mas quando se apercebeu que teria os mesmos votos que a facção Chipenda, resolveu desistir e abandonou o congresso. Aquando do 25 de Abril não tinha qualquer expressão militar e encontrava-se no Canadá em busca de apoios, pois em Janeiro de 1974 a URSS deixara totalmente de o apoiar. Este corte já tinha sido iniciado em 1972 e, a partir daí, foi sendo gradualmente reduzido à sua expressão mais simples, não sendo viável, ou mesmo possível, reorganizar-se com base em apoios externos que já não existiam, para reiniciar a sua luta pela independência de Angola.
A UNITA surgiu no panorama angolano muito mais tarde, em 1966, e resultou de dissidências no seio da FNLA. Fixou-se no Leste, mas, sem apoios, nunca constituiu uma ameaça para as forças da contra-subversão. Chegou mesmo a estar ao nosso lado quando o MPLA abriu a frente Leste. Em finais de 1973, com a mudança do Comandante da Zona Militar Leste, este decide, sem se perceber muito bem porquê, acabar com a UNITA. Esta volta para o seu refúgio nas margens do Lungué Bungo e ali resiste até ao 25 de Abril. Após o desencadear da revolução em Portugal, Savimbi, o dono e patrão do movimento, resolveu reiniciar a sua luta e, numa área bem longe do seu santuário, ataca uma patrulha das nossas forças, provocando dezanove mortos e um grande número de feridos. Parecia ser o único com capacidade, diminuta, para prosseguir a luta. O então Major Pezarat, chefe da comissão coordenadora do MFA em Angola, apressa-se a entrar em contacto com a UNITA e desloca-se com outro oficial às matas do Leste, onde assina um acordo de cessar-fogo. Desta forma, um movimento sem qualquer tipo de expressão, sem apoios exteriores e que a ONU não reconhece, acaba por ser reconhecido por Portugal. Esta atitude de Pezarat Correia, o então grande senhor de Angola a mando dos milicianos, abriu a porta à UNITA para se tornar mais um interlocutor nas negociações que se seguiriam com o MPLA e a FNLA.
Logo após o 25 de Abril, o Dr. Almeida Santos fez uma visita a Angola, para auscultar as forças vivas do território e para indicarem o perfil da personalidade que iria desempenhar as funções de Governador-Geral. A escolha recaiu no General Silvino Silvério Marques, que já tinha desempenhado as mesmas funções, conhecendo muito bem o território e as suas gentes. Mas foi sol de pouca dura. Em breve, cerca de um mês, estava em conflito com o MFA regional, liderado por Pezarat Correia. Para o substituir fui eu o escolhido pela comissão coordenadora do MFA mas recusei. Era militar e, por muito que tentasse, não entendia o que se passava na sociedade portuguesa. Segui, no entanto, para Angola, onde, poucos dias mais tarde chegou Rosa Coutinho, um dos mais prestigiados membros da Junta de Salvação Nacional. A missão era complexa e ele reuniu-se com os homens do MFA. Ficou decidido que eu iria encabeçar uma junta governativa constituída por : Eu próprio, que acumulava com as funções de Comandante da 2.ª Região Aérea; o General Altino de Magalhães, que passou a comandar a Região Militar de Angola; o Almirante Leonel Cardoso, também Comandante Naval e ainda o Major Engenheiro José Emílio da Silva, que não conhecia. Rosa Coutinho, logo após a sua chegada, foi apontado como "almirante vermelho" pela comunidade branca. Na fase inicial não acreditei, mas mais tarde não tive quaisquer dúvidas de que se tornara um devoto servidor do comunismo. Senti que a sua principal missão, e a do Major Emílio da Silva, era reabilitar o MPLA, política e militarmente. Foi possível conseguir o cessar-fogo com os três movimentos, arbitrariamente considerados os verdadeiros e únicos representantes do povo angolano, com os quais Portugal teria que negociar as condições para a entrega de poderes. Isto apesar de apenas uma pequena minoria da população estar ainda ligada aos movimentos. Para cumprir este propósito da entrega de poderes, era necessário vencer a carência de quadros técnicos e administrativos. Era uma questão da maior relevância que deveria ter solução a curto prazo.
Foi sem dúvida o caso mais complexo pois, para além das suas riquezas, era sem dúvida o território mais desenvolvido de África e os seus movimentos de libertação tinham as suas capacidades política e militar reduzidas à expressão mais simples.
A FNLA, após a intercepção e aniquilamento de alguns dos seus grupos abastecedores entre o Zaire e o seu santuário nos Dembos, praticamente deixara de existir até porque o apoio exterior dos EUA lhe fora completamente retirado. Sobrevivia mal, sem qualquer crédito entre as populações que dizia controlar e que agora se encontravam em aldeamentos construídos nas imediações dos nossos aquartelamentos provendo à sua própria defesa e segurança.
O MPLA, que sempre viveu envolvido em escaramuças com a FNLA, só a partir de 1966 mostrou alguma capacidade militar quando abriu a frente Leste e se propôs chegar ao Atlântico, mas não chegou nem ao planalto. Foi batido em toda a linha e os guerrilheiros (os que não desertaram ou morreram) regressaram à Zâmbia, ficando sob as ordens de Chipenda, que, sem apoios, nada pôde fazer.
 |
| Desfile de terroristas do MPLA |
A UNITA surgiu no panorama angolano muito mais tarde, em 1966, e resultou de dissidências no seio da FNLA. Fixou-se no Leste, mas, sem apoios, nunca constituiu uma ameaça para as forças da contra-subversão. Chegou mesmo a estar ao nosso lado quando o MPLA abriu a frente Leste. Em finais de 1973, com a mudança do Comandante da Zona Militar Leste, este decide, sem se perceber muito bem porquê, acabar com a UNITA. Esta volta para o seu refúgio nas margens do Lungué Bungo e ali resiste até ao 25 de Abril. Após o desencadear da revolução em Portugal, Savimbi, o dono e patrão do movimento, resolveu reiniciar a sua luta e, numa área bem longe do seu santuário, ataca uma patrulha das nossas forças, provocando dezanove mortos e um grande número de feridos. Parecia ser o único com capacidade, diminuta, para prosseguir a luta. O então Major Pezarat, chefe da comissão coordenadora do MFA em Angola, apressa-se a entrar em contacto com a UNITA e desloca-se com outro oficial às matas do Leste, onde assina um acordo de cessar-fogo. Desta forma, um movimento sem qualquer tipo de expressão, sem apoios exteriores e que a ONU não reconhece, acaba por ser reconhecido por Portugal. Esta atitude de Pezarat Correia, o então grande senhor de Angola a mando dos milicianos, abriu a porta à UNITA para se tornar mais um interlocutor nas negociações que se seguiriam com o MPLA e a FNLA.
Era este o panorama geral de Angola onde a luta armada tinha terminado e o desenvolvimento e progresso, em todos os campos, era algo de muito sólido, para espanto dos que lá se deslocavam. A descolonização de Angola foi cuidadosamente planeada pela URSS, tendo como principais executores Álvaro Cunhal, Mário Soares e Melo Antunes. Embora, como se sabe hoje, nenhuma das principais figuras do PCP tenha participado directamente na descolonização de Angola, nem em qualquer outra. Acompanhavam todos os processos passo-a-passo, mas não se envolviam, limitando-se a, indirectamente, corrigir desvios do objectivo final que se viesse a verificar.
O processo de descolonização de Angola foi o primeiro a ser iniciado e o último a terminar com a independência em 11 de Novembro de 1975.
Logo em 2 de Maio de 1974, Mário Soares encontra-se com Agostinho Neto em Bruxelas. Nesse já falado encontro que terá Soares dito a Neto? Que ele seria o primeiro Presidente de Angola com o apoio dos novos protagonistas do panorama político português? Ele, Soares, sabia perfeitamente qual a génese do 25 de Abril, que só ocorrera porque Portugal soubera vencer, durante treze anos, a subversão no Ultramar levando a URSS a mudar a sua estratégia e empenhar-se no desencadear do golpe de 1974.
Vivi todo o processo da descolonização de Angola na pele, como se costuma dizer. Em 2000 publiquei o livro ANGOLA - ANATOMIA DE UMA TRAGÉDIA, onde tive a oportunidade de descrever, com o pormenor possível, a trágica e desastrosa entrega daquela portentosa terra ao imperialismo soviético. Na sequência desta entrega, não a qualquer um dos movimentos, mas a uma entidade abstracta designada por "povo de Angola", iniciou-se a sempre horrorosa guerra civil, envolvendo a UNITA, com o apoio da África do Sul, a FNLA, apoiada pelos EUA através de Mobutu, e o MPLA pela URSS, directamente e com a participação de um largo contingente de cubanos.
Foi assim que aquele país, altamente promissor e no auge do seu desenvolvimento, caiu, ao fim de mais de três décadas, para o que se designa por "terra queimada", onde palavras de ordem foram matar e destruir. Ainda hoje Angola continua a ser um dos países com maior densidade de minas anti-pessoal ainda instaladas no terreno.
 |
| Ver aqui |
Mas assim não entendia Moscovo e os seus súbditos que actuavam no terreno. Em Angola, o trio dirigente, Rosa Coutinho, Pezarat Correia e Emílio Silva, sempre em grande actividade, não passavam de lacaios do comunismo. A acção principal era conduzida pela estrutura de milicianos que agiam por conta própria segundo as directivas recebidas. Algumas vezes, o Chefe de Gabinete do Membro da Junta Major Emílio da Silva, tomava decisões que, na minha opinião, eram questões para serem analisadas e decididas ao mais alto nível (Junta Governativa), mas esse alferes tomava a dianteira. Insurgi-me contra esta prática e propus o seu regresso imediato à Metrópole. Então o Emílio da Silva fixou-me e disse, com firmeza: "O meu brigadeiro fixe este nome, pois ele ainda vai ser alguém de grande importância no nosso país". Referia-se, naturalmente, ao alferes miliciano chefe do gabinete. Esqueci o seu nome e ignoro o que faz hoje. Esperava uma reacção dos outros membros da Junta, em especial do Rosa Coutinho, mas nem um só gesto, e continuámos a nossa reunião, tratando dos assuntos do dia-a-dia. O trabalho de reabilitar o MPLA continuava a ser realizado pela chamada "arraia-miúda", a quem o PCP, tentáculo do PCUS, dava instruções muito concretas. A luta entre os movimentos, nomeadamente MPLA e FNLA, continuava não só em Luanda, mas por todo o território. A ordem era a destruição, a instabilidade em todos os sectores de actividade, públicos e privados, e o medo, direi mesmo terror, que começava a invadir as pessoas, em especial a comunidade branca que se interrogava quanto ao seu futuro naquela terra. Começou também a "caça às bruxas" e muita gente foi presa ou expulsa sem qualquer tipo de acusação. Inventaram-se grupos reaccionários, a quem acusavam de provocar distúrbios por toda a parte. Era preciso fazer rolar cabeças. Esta estrutura do MFA trabalhou em perfeita sintonia com o MPLA, e muitas decisões eram tomadas em conjunto. Mas a missão estava a ser cumprida e os homens do recrutamento local que estavam nas nossas Forças Armadas eram desmobilizados e ingressavam, na sua quase totalidade, no MPLA, nas chamadas FAPLA (Forças Armadas Populares de Libertação de Angola). Conversava regularmente com os dirigentes de delegações estabelecidas em Luanda e não me foi difícil concluir: o MPLA, com o apoio soviético e do MFA, e até do governo de Lisboa, preparava-se para tomar o poder pela força; a FNLA, com o apoio dos americanos, mas muito especialmente, de Mobutu, estava exactamente na mesma linha; a UNITA, sem apoios exteriores e sem ser reconhecida pela ONU, pretendia que a solução final fosse encontrada democraticamente através de eleições. Mas primeiro havia que dialogar com Portugal antes da transferência de poderes, havendo que escolher a data e o local. Em Novembro fui confrontado com a decisão, aparentemente do triunvirato (R. Coutinho, Emílio da Silva e Pezarat Correia), para que a reunião ocorresse a 21 de Dezembro de 1974, nos Açores. Mas entre os movimentos havia um enorme contencioso que se arrastava praticamente desde a sua fundação, com escaramuças de vária ordem, desde as verbais ao combate armado. Parece-me que os movimentos tinham necessidade absoluta de discutir entre eles esse contencioso e aparecerem com uma só proposta para discutir com o nosso país. Tomei a iniciativa e viajei até à capital do Zaire, Kinshasa, onde sabia estarem os presidentes da UNITA e da FNLA, respectivamente Jonas Savimbi e Holden Roberto. Assim aconteceu, tendo havido compreensão e abertura, e quando informei da minha intenção de falar também com o Agostinho Neto, que se encontrava ali ao lado, no Congo-Brazaville, Savimbi disse-me que não era necessário, pois ele próprio trataria do assunto e não tinha dúvidas de que o MPLA alinharia de imediato com a ideia. Assim nasceu a pré-cimeira de Mombaça, que teve lugar já em meados de Janeiro, antecedendo a cimeira que teve lugar no Hotel de Penina, no Algarve, onde nasceu o célebre Acordo do Alvor.
Em Mombaça, onde os três movimentos se reuniram, tudo ficou acordado rapidamente com o projecto de acordo lavrado pelo MPLA e cozinhado em Argel com alguns rapazes do MFA. Previa a formação de um governo de transição, eleições, como pretendia a UNITA, cujos planos não podiam passar pelo uso da força para a tomada do poder, e ainda o dia 11 de Novembro de 1975 para a transmissão de poderes de Portugal para o movimento vencedor das eleições. Este projecto satisfazia todas as partes, porquanto a FNLA contava usar a força para a tomada do poder e a assinatura do "papel" era-lhe indiferente.
Acabou por ser este projecto que Melo Antunes nos deu a conhecer, no Alvor, já depois das 24:00 horas, antes de se iniciar a cimeira que arrancaria nessa manhã. Tudo isto não passava de "teatro" apenas para dar uma justificação ao mundo que tanto pressionara Portugal para sair das suas "colónias". Fui nomeado para a delegação portuguesa com Melo Antunes, Mário Soares, Almeida Santos, Pezarat Correia, Embaixador Fernando Reino e Coronel Gonçalves Ribeiro. Discutiu-se o projecto do acordo redigido em Argel e apresentado pelo MPLA em Mombaça aos outros dois movimentos. O diálogo foi conduzido por Melo Antunes, com pequenas intervenções de Mário Soares e Pezarat Correia só para assinalarem a sua presença, enquanto Almeida Santos ia corrigindo os textos já aprovados. Tudo corria sobre rodas, e do documento inicial pouco foi alterado. Lá estava indicado:
- os três movimentos como únicos representantes do povo angolano;
- o governo de transição constituído por entidades das quatro partes envolvidas;
- o esclarecimento de que Cabinda era parte integrante de Angola;
- a realização de eleições antes da independência;
- o dia para a transferência do poder para o movimento que ganhasse as eleições;
- o retraimento do dispositivo militar português e a sua saída até à independência;
- um Alto-Comissário representante do Presidente da República de Portugal como primeiro orgão de soberania para o período de transição.
Não houve polémicas: o documento foi analisado na sua totalidade, tendo sofrido pequenos ajustamentos. Nos bastidores, conversando com o Dr. José N'Dele, que iria ser o primeiro-ministro da UNITA, propus-lhe para eles exigirem a permanência das Forças Portuguesas até à realização das eleições. Compreendeu, mas era impensável os outros movimentos acordarem neste ponto, até porque os seus projectos passavam pela tomada do poder pela força e as eleições eram tão-só uma cláusula para calar a UNITA. Entretanto, e enquanto decorria a conferência, comecei a ser pressionado para desempenhar as funções de Alto-Comissário. Disse sempre da minha total indisponibilidade mas, entretanto, Costa Gomes deslocou-se ao Algarve e encontrámo-nos num hotel das redondezas da Penina. Após uma longa argumentação, disse-lhe: "Sei que a UNITA e FNLA querem-me a mim; se o MPLA me pedir, aceitarei". Assim ficámos, e nessa noite fui convidado para jantar com o Agostinho Neto que me formulou o convite. Agora não podia recusar, embora com a consciência plena que iria tentar cumprir a "missão impossível". Com pompa e circunstância o acordo do Alvor foi assinado com a presença do Presidente da República, a 15 de Janeiro de 1975.
Cheguei a Luanda como Alto-Comissário a 30 de Janeiro de 1975. Recebido com as honras que me eram devidas, cheguei ao palácio e deparei-me com uma situação absolutamente impensável. Rosa Coutinho, Pezarat Correia e Emílio da Silva, que permaneceram em Luanda, enquanto eu partia para a Metrópole a fim de participar na conferência do Alvor. Ao regressar já como Alto-Comissário vi que tinham criado uma situação de tal forma gravosa para a FNLA que esta não podia deixar de reagir absolutamente. Foi o primeiro incidente grave entre os dois movimentos, que se viriam a repetir por toda a Angola até à data da independência. No livro "ANGOLA - ANATOMIA DE UMA TRAGÉDIA", tive oportunidade de descrever em pormenor o que foram estes meses de total loucura em que a morte de seres humanos parecia não ter qualquer significado e a destruição em todos os sectores parecia ser uma constante. E Angola caiu abruptamente. Considerado o território, conjuntamente com Moçambique, de melhor padrão de vida de todos os países a Sul do Sahara, transformou-se numa das maiores tragédias que a África conheceu. E assim se fechava mais um ciclo da nossa História, cumprindo-se desta forma a vontade dos que traiçoeiramente gritavam no 25 de Abril: acabar com a guerra e descolonizar. Célere e espectacular como a classificou Mário Soares, que acabava de conseguir mais uma brilhante vitória para somar ao seu palmarés.
 |
| Leonel Cardoso proferindo o discurso na entrega de Angola (10.11.1975). |
 |
| O arriar da Bandeira Portuguesa |
 |
Mas recordando o que foi o seu enorme e importante contributo, temos:
- Na Guiné, e por sua iniciativa, viajou por duas vezes para Londres, a fim de negociar com o PAIGC tendo tudo ficado concluído com o abraço a Aristides Pereira. Depois foi duas vezes a Argel onde acabou por assinar um protocolo fixando a data para a entrega de poderes, a saída das nossas tropas e a entrega dos comandos guineenses ao PAIGC para serem fuzilados;
- Em Moçambique, esteve duas vezes em Lusaca; da primeira para negociar o cessar-fogo que não resultou e dar um apertado abraço a Samora Machel; da segunda para assinar o acordo com a Frelimo que Melo Antunes negociara em Dar-Es-Salaam enquanto ele e Almeida Santos esperavam em Lusaca;
- Finalmente em Angola, em 2 de Maio encontrava-se com Agostinho Neto em Bruxelas ao qual deve ter transmitido que ele iria receber Angola e, por fim, apareceu no Alvor sem conhecer os termos do acordo redigido em Argel, limitando-se a apresentar pequenas alterações que ninguém ouvia.
Foi este o grande descolonizador. Cumpriu, não a vontade do povo português que ninguém ouviu, não o interesse dos povos em questão, mas, objectivamente, a estratégia que interessava à URSS e deu largas ao seu ódio vesgo ao regime do Estado Novo.
E era ver este senhor pavonear-se com grande altivez no meio de todas as delegações e jornalistas, distribuindo sorrisos à esquerda e direita, pensando que tinha dado mais um salto positivo na sua carreira ascensional a caminho do apogeu da traição. Agradeço que, durante esse período, nunca me tenha dirigido a palavra, pois talvez desconfiasse que eu suspeitava dos tortuosos meandros da sua personalidade, onde transparecia o seu espírito vingativo, uma enorme vaidade e um desamor a Portugal causado por inveja e frustrações. Depois, a partir do Alvor, Mário Soares desligou-se completamente da descolonização. As consequências para aquela boa gente que assim ficou entregue à voracidade impiedosa dos novos patrões e o desenvolvimento dos territórios onde grassara a guerra pouco ou nada contavam para o projecto de projecção nacional e internacional, que a sua vaidade e a Internacional Socialista acalentavam...
A ENTREGA DE CABO VERDE
Cabo Verde, depois do PAIGC ter conseguido a independência da Guiné, declarou que rejeitava toda e qualquer união com a Guiné. Assim, aquelas ilhas de grande importância geo-estratégica foram empurradas para uma total separação de Portugal. Apareceram vários agrupamentos políticos, mas o MFA local, dirigido sabiamente pelo 1.º Ten. José Judas [o nome já diz tudo], que posteriormente viria a ser membro do Conselho da Revolução, considerou que o PAIGC era o único e legítimo representante da população de Cabo Verde. A data para a transmissão de poderes acabou por ser acordada com o lugar-tenente de Mário Soares, Almeida Santos, visto àquele não lhe interessar intervir. Tudo foi rápido e pacífico.
 |
| Assinatura do acordo para a entrega de Cabo Verde. Da esq. para a dir.: Mário Soares, Melo Antunes, Vasco Gonçalves, Pedro Pires, Almeida Santos e outros dois representantes do PAIGC. |
Em S. Tomé e Príncipe não se formaram movimentos políticos na luta pela independência. A própria OUA reconhecia que as ilhas não possuíam potencial estratégico para adquirem o estatuto de Estado Independente. No início dos anos 70 várias personalidades de S. Tomé reuniram-se no Gabão e procuraram formar uma organização independentista que designaram por Movimento de Libertação de S. Tomé e Príncipe (MLSTP) que a própria OUA não reconheceu. Só em 1973 este movimento foi reagrupado já com um secretário-geral, Pinto da Costa, e que acaba por ser reconhecido pela OUA.
Após o 25 de Abril, o esquema que levou à independência de S. Tomé e Príncipe foi praticamente o mesmo dos outros territórios. Começaram a formar-se outras organizações políticas, mas Pinto da Costa vem para S. Tomé com o apoio do Gabão e em Argel acabaria por assinar o acordo que fixou a data de independência a 12 de Junho de 1976. A saída da população branca (cerca de 2000 colonos) foi imediata e as suas terras foram nacionalizadas. E um novo estado surgiu no panorama mundial, mas sem recursos para a sua sobrevivência, acabando por viver à custa de empréstimos a fundo perdido.
Neste caso, o Dr. Mário Soares não fez contactos directos com o MLSTP. Para esse trabalho encarregou o secretário-geral dos Negócios Estrangeiros, D. Jorge Campinos, que estabeleceu os contactos com o MLSTP e declarou este movimento como o único representante do povo de S. Tomé. Foi tudo demasiado rápido, de tal maneira que nem chegou a aperceber-se que a maioria dos S. Tomenses nem sabia da existência do movimento. Também A. Santos foi fazendo alguns comentários, chegando mesmo a inventar quatro hipóteses para esta província ultramarina, a saber: independência pura e simples, ligação a Portugal numa situação federalista, ligação a Angola, visto a população de S. Tomé e Príncipe ter todos os seus ascendentes com raízes em Angola e, finalmente, ligação ao Gabão ou Guiné Equatorial onde nasceu o tal movimento MLSTP.
A ENTREGA DE TIMOR
Após o 25 de Abril, naquela terra longínqua algo esquecida nada mudou e continuava a ser o mais português de todos os territórios além-mar. Tinha um Governador, o Coronel Alves Aldeia, que era estimado por toda a gente, que permaneceu em Dili até Julho, quando foi substituído pelo Ten. Cor. Nívio Herdade como encarregado do Governo. Os descolonizadores estavam tão ocupados com a Guiné, Angola e Moçambique que quase se esqueceram de Timor. Mas em Julho de 74, o lugar-tenente de Mário Soares visita Timor e é surpreendido por um portuguesismo quase fanático. Aquela população era uma miscelânea de povos, cada um com a sua língua e os seus costumes próprios. O que os une, permitindo-lhes viver em paz, é a veneração que nutrem pela Bandeira Portuguesa e por Portugal. Almeida Santos confessa que ficou estarrecido com a devoção daquelas gentes a Portugal. Ainda em Timor, em Julho de 74, numa conferência de imprensa afirmou: "para além dos programas políticos, o que conta são as realidades humanas, e a realidade humana de Timor que eu pude testemunhar e que os senhores também puderam testemunhar é que efectivamente existe aqui muito vivo o sentimento de respeito e amor a Portugal. É um fenómeno sociológico que me parece que sai fora das regras normais da sociologia política".
E Almeida Santos acrescentaria mais tarde: "os timorenses não querem ser descolonizados pela simples razão de que não se sentem colonizados". Perante a hipótese de uma descolonização recebeu como resposta das forças-vivas de Timor: "a nossa resposta ao problema da descolonização é que o que nós precisamos é de mais cultura, mais saúde, mais desenvolvimento agro-pecuário, mais tractores, mais comunicações, mais indústrias".
 |
| Brasão de Armas do Timor Português (1935-1975). |
No acto de posse do novo Governador, ao tempo, Ten. Cor. Lemos Pires, o ministro Almeida Santos afirmaria:
"Prepare-se V. Exaª para o mais espantoso fenómeno de dedicação a Portugal. Quando de lá regressei, rendido a essa heterodoxa sociologia de divinização da Bandeira portuguesa, que venceu o tempo, a distância e o universalismo político, alguns me terão julgado possesso de romantismo caduco ou de heroicismo "carlyleano". Não se trata disso. Apenas realcei, entre atónito e emocionado, factos que sem defesa possível emocionam e espantam".
Esta era a atitude de Almeida Santos que correspondia à vontade dos timorenses, expressa não em votos, mas em actos e sentimentos. Mas Mário Soares, que de tudo sabe e jamais disse a qualquer questão "NÃO SEI", e "profundo conhecedor da realidade timorense", reagiu negativamente à posição do seu lugar-tenente, acabando por afirmar: "É necessário convencer o mundo da intenção sincera de Portugal de abandonar as suas colónias. Manter diversos laços entre os territórios e a Metrópole conduziriam, a meu ver, a formas de neo-colonialismo larvar que o governo português rejeita em bloco. Nós comprometemo-nos com um trabalho histórico".
Esta posição do "patrão" da descolonização coloca em xeque a opinião de Almeida Santos que, com o seu grande à-vontade e discernimento, rapidamente faz a agulha, acabando por afirmar: "Que independência está em dúvida? Nenhuma. Apenas a de Timor não tem ainda data. Mas tê-la-á em breve". Nada havia a fazer! O rei da descolonização não poderia hesitar pois, no fim, era o seu ego que estava em causa. Para subir ao mais alto pedestal na nova plêiade dos políticos portugueses, teria de começar por realizar algo que o imortalizasse e provasse à sociedade a sua enorme capacidade intelectual, cultural e, principalmente, sede de poder.
Mas vamos prosseguir com Timor. Lemos Pires lá seguiu até aos antípodas com um séquito cujos propósitos não conhecia. Chegaram e agitaram as águas, tendo concluído que a sociedade timorense estava despolitizada, altamente despolitizada, o que não interessava para a concretização dos seus objectivos. Mas, como afirmaram, tudo se havia de resolver com umas "campanhas de dinamização". Esta, para os portadores do vírus revolucionário, seria a solução. A população timorense composta por vários povos, que atingiam o número de vinte e oito, embora quatro ou cinco fossem predominantes, que vivia em paz em torno da Bandeira de Portugal, viu-se de repente sem saber qual o rumo a seguir, ou para onde os iriam conduzir, tendo-se alterado todo o panorama político que existia no território. Conhecedores da agitação que reinava na Metrópole pouco depois do 25 de Abril, surgem várias tentativas para criar agrupamentos políticos, dos quais apenas um, a UDT (União Democrática de Timor), se afirmou. Os princípios que levaram à formação deste movimento estavam claramente orientados para uma forte ligação com Portugal, defendendo mesmo a sua integração numa comunidade portuguesa, repudiando qualquer outra potência estrangeira. Assim, a UDT defendia aquele portuguesismo tão profundo e sincero que Almeida Santos teve oportunidade de constatar. Congregava a maioria da elite local e defendia, como o sentiu Almeida Santos, a sua ligação a Portugal, e que era apoiada pelo Ten. Cor. Magiollo Gouveia, que acabaria por ser fuzilado por ordem de Mário Alkatiri.
Em Maio de 1975, inicia-se a formação de um outro movimento na orientação das notícias que chegavam da Metrópole sobre a revolução que teve lugar após o 25 de Abril. Intitulava-se um movimento progressista onde começaram a aderir oficiais sargentos do recrutamento local, acabando por constituírem a conhecida FRETILIN (Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente), onde figuras como Ramos Horta, Carvarimo, Mário Alkatiri, exigiam que Portugal a reconhecesse como "único interlocutor para o processo de descolonização, sendo um movimento vanguardista que encarna as aspirações mais profundas, o pensar, o sentir e a vontade de libertação dos povos de Timor-Leste". Surgiu nos finais de Maio de 75 com o espírito revolucionário do 25 de Abril, defendendo a autodeterminação e independência do território, considerando-se o único interlocutor válido de Portugal. A este movimento aderiram a quase totalidade dos conselheiros marxistas que acompanhavam o Ten. Cor. Lemos Pires, os oficiais e sargentos do recrutamento local, estudantes que frequentavam a Universidade na Metrópole, e toda aquela juventude que pensava que Timor também tinha que fazer a sua revolução. As campanhas de dinamização contribuíram fortemente para esta atitude.
Finalmente a APODETI (Associação Popular Democrática Timorense), dos poucos que defendiam a integração - não inserção - na Indonésia como um mal menor no caso de os laços com Portugal cessarem. O Major Arnão Metelo foi o grande impulsionador deste movimento por pensar que esta seria a melhor solução para dividir a direita, facilitando a vida aos progressistas. Recorde-se que Arnão Metelo era um dos elementos permanentes do gabinete para a descolonização de Melo Antunes.
Numa sessão de esclarecimento que teve lugar em Dili nos fins de Janeiro, o Major Mota afirmou: "Está a operar-se uma revolução. Não podemos pensar que esta revolução se fará sem lágrimas. Problemas graves que agora defrontamos são uma consequência muito grande, numa medida larguíssima, do regime anterior fascista e irresponsável. Podemos agora discutir somente as ideias que, de facto, ajudem a edificar e ajudem a restituir ao Povo de Timor a sua dignidade".
Por sua vez, o Major Jónatas, nessa mesma sessão, falou do ensino que em Timor era "colonialista, elitista e veículo de um aparelho fascista; o próprio aproveitamento dos quadros não é feito e então há o recurso quase exclusivamente a professores metropolitanos: só o povo timorense pode saber das suas próprias necessidades; as escolas deviam ser vossas; há, portanto, necessidade de fazer uma alteração profunda nos quadros dos professores timorenses".
O Ten. Cor. Lemos Pires não se terá apercebido de que o figurino que os seus "conselheiros" levaram para Timor foi o mesmo que os antifascistas aplicaram em todos os territórios africanos sob administração portuguesa. Tanto Mário Soares como Almeida Santos afirmavam e reafirmavam que nada se faria contra a vontade do povo timorense. Contudo Almeida Santos tinha lá estado e não tinha quaisquer dúvidas do sentido de voto num referendo caso se viesse a fazer um em Timor. Não era necessário e, como ele afirmou, o portuguesismo daquela gente ultrapassava tudo o que a nossa imaginação pudesse conceber.
Em Timor, Lemos Pires e os seus comparsas deambulavam no meio daquela população e recordemos o que escreveu Francisco de Sousa Tavares no Jornal Novo de 6 de Setembro de 1974: "Que acção dinamizadora foi esta que conseguiu, num ano, transformar uma sociedade amável e tranquila numa banheira de sangue? Quem actuou com o objectivo de que a revolução marxista tivesse mais um palco? Que política foi esta que consistiu em pôr as populações em revolta, em armar as mãos inconscientes, em incitar à violência, à luta de classes, às vinganças tribais, e depois renunciar à tutela, embarcar os soldados e pedir o socorro às outras nações? Quem fica com a responsabilidade que é de todos nós, da descolonização de figurino que resolveram aplicar a Timor, que pouco ou nada se sentia colónia? A quem cabe a responsabilidade de Timor se ter transformado numa imensa fogueira, num campo de guerra civil, onde não houve piedade nem limites?"
E assim naquele inferno em que os descolonizadores transformaram Timor surgiu uma guerra civil, arvorando-se a FRETILIN em único representante do território. Entretanto os senhores da descolonização fizeram uma cimeira em Macau onde compareceram Almeida Santos, Major Vítor Alves (tinha estado em Dili como "embaixador itinerante" da descolonização), Jorge Campinos e delegados da APODETI e UDT. A FRETILIN, que mantinha a sua posição como a "única força com poderes para dialogar com Portugal", não compareceu à reunião e assim não ficaria amarrada a qualquer tipo de acordo, podendo agir, quando achasse oportuno, para a tomada do poder.
A UDT, tendo tido conhecimento da data (20 Agosto 1975) em que a FRETILIN tencionava desferir o golpe para a conquista do poder, antecipa-se e 4 dias antes ocupa o Quartel-General e toma a Polícia Militar. O Governador Lemos Pires, conhecedor das intenções da FRETILIN, e sentindo-se impotente para mediar o conflito, retira-se com o seu Estado-Maior para a ilha de Ataúro, durante a noite. No período de 21 a 26 de Agosto travam-se violentos combates em Dili entre as duas forças, da qual sai vitoriosa a FRETILIN. Na noite de 26/27, os quadros metropolitanos que se tinham instalado numa "zona neutra" junto ao porto, mudam-se para a ilha de Ataúro sem que a população dê conta da "fuga". A FRETILIN, dominada pelos comunistas, assume o poder e declara a independência de Timor. De imediato a Indonésia, com a conivência dos EUA, ocupa Timor-Leste, enquanto os revoltosos se refugiavam nas montanhas e Lemos Pires e os militares metropolitanos partem para Portugal. Esta situação arrastar-se-ia por vinte anos, quando o massacre de timorenses no cemitério de Santa Cruz, da responsabilidade das forças ocupantes, parece ter despertado a atenção do mundo, surgindo então a solução diplomática que leva à independência de Timor-Leste, um pequeno território de 20.000 Km2 altamente deficitário e que isolado não pode sobreviver como um estado independente. A situação de instabilidade, de insegurança e de carências de todo o género são bem a prova disso. O Dr. Almeida Santos, da primeira vez, em 1974, quando se deslocou àquelas paragens, e depois de ver com os seus próprios olhos o apego daquelas gentes a Portugal, não tinha dúvidas de que ali não seria necessário qualquer referendo para se cumprir o estabelecido no programa do MFA. Mas Mário Soares sustentou que, perante o mundo, Portugal teria que deixar as suas colónias, e Timor não podia ser excepção. Foi a sua vontade que se cumpriu e hoje, passados mais de trinta anos, os povos timorense e português estão a pagar bem caro as loucuras do Sr. Soares, que pretendia, tão-só, tirar dividendos em proveito próprio para se guindar ao estrelato dos políticos da actualidade. Ele sempre primeiro, acima de tudo e de todos. E assim se cumpriu a estratégia definida por Moscovo e que levou ao golpe comunista do 25 de Abril.
O programa do MFA - respeitar a vontade das populações - acabaria por não se respeitar em qualquer território. Na Guiné, o PAIGC declarava que a Guiné já era independente antes do 25 de Abril; em Angola havia 3 movimentos de libertação, o que tornava a realização de qualquer referendo uma tarefa impossível; em Moçambique, no primeiro encontro que tiveram, Samora Machel afirmou que todo o moçambicano que votasse num referendo era um traidor; em S. Tomé e Príncipe inventou-se um movimento no Gabão ao qual Jorge Campinos, em nome de Mário Soares, entregara o poder; em Cabo Verde, o Tenente Judas resolveu rapidamente a questão, mandando um ultimato ao governo central, e Almeida Santos entregou o poder ao PAIGC, contra a vontade dos cabo-verdianos, E assim se cumpriu o programa do MFA.
Mas enfatizemos que, antes do Ten. Cor. Lemos Pires e do seu grupo de colaboradores terem chegado a Timor, se deu a entrega da Guiné ao PAIGC, o que significou ser autor moral do fuzilamento de milhares de guineenses; que o então ministro dos Negócios Estrangeiros andou aos abraços a Samora Machel, quando os soldados das nossas FA continuavam a lutar e a morrer na província em defesa das suas populações; que tudo se preparava para reconhecer o MPLA, a FNLA e a UNITA como únicos e legítimos representantes da população de Angola, aceitando o que o nosso Ministro da Coordenação Interterritorial, Almeida Santos, afirmara em Lusaca: "a legitimidade que se conquistou pelo sangue não é menos límpida do que a que se justificou pelo voto, ao contrário do que, na sequência das distorções mentais do passado, propendem a pensar alguns".
Também o secretário-geral do PS afirmou que era "necessário convencer o mundo da intenção sincera de Portugal de abandonar as suas colónias". Em resumo, que a responsabilidade do Ten. Cor. Lemos Pires e do seu grupo de colaboradores se tem de situar dentro da chamada descolonização, que Mário Soares, ainda em princípios de 1976, classificava de incontestável sucesso.
Acontecia que Almeida Santos desconhecia a estratégia de Moscovo, ignorava que o 25 de Abril tivesse sido, tão simplesmente, um golpe comunista, veio para a Metrópole por pensar que poderia ser útil na chamada descolonização, dada a sua grande experiência em África. Ambicioso, dotado de excelente capacidade intelectual, tribuno por natureza, dispunha de todos os predicados para triunfar no manicómio onde Portugal mergulhara. Quando me encontrava em Luanda, nas funções de Alto-Comissário, na tal missão impossível, foi o único responsável político que se preocupou pela tragédia que se vivia em Angola. Todas as semanas me contactava telefonicamente e, com alguma frequência, deslocou-se até Luanda para tentar encontrar uma solução para a guerra que grassava entre os três movimentos. Chegou mesmo, depois de muitas horas de reuniões com as delegações dos movimentos, a conseguir acordos de cessar-fogo que todos assinavam e prometiam cumprir, talvez só por algumas horas. Chegámos à conclusão que o problema não era solúvel ali mas sim entre as superpotências que pretendiam estender a sua influência àquela enorme e rica região. Em todo este processo Almeida Santos cometeu erros como todos os que nele estiveram envolvidos, mas desconhecia, contrariamente ao seu amigo Soares, que estava a cumprir uma missão imposta por Moscovo (ibidem, pp. 111-143).
Em Maio de 1975, inicia-se a formação de um outro movimento na orientação das notícias que chegavam da Metrópole sobre a revolução que teve lugar após o 25 de Abril. Intitulava-se um movimento progressista onde começaram a aderir oficiais sargentos do recrutamento local, acabando por constituírem a conhecida FRETILIN (Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente), onde figuras como Ramos Horta, Carvarimo, Mário Alkatiri, exigiam que Portugal a reconhecesse como "único interlocutor para o processo de descolonização, sendo um movimento vanguardista que encarna as aspirações mais profundas, o pensar, o sentir e a vontade de libertação dos povos de Timor-Leste". Surgiu nos finais de Maio de 75 com o espírito revolucionário do 25 de Abril, defendendo a autodeterminação e independência do território, considerando-se o único interlocutor válido de Portugal. A este movimento aderiram a quase totalidade dos conselheiros marxistas que acompanhavam o Ten. Cor. Lemos Pires, os oficiais e sargentos do recrutamento local, estudantes que frequentavam a Universidade na Metrópole, e toda aquela juventude que pensava que Timor também tinha que fazer a sua revolução. As campanhas de dinamização contribuíram fortemente para esta atitude.
 |
| José Ramos-Horta |
 |
| J. Ramos-Horta presidindo à "Conferência dos Direitos Humanos" na "Association for the Promotion of the Status of Women" (22.07.1994). O primeiro a contar da direita é Mário Alkatiri. |
 |
| J. Ramos-Horta e o Bispo Ximenes Belo recebem, em 1996, o Prémio Nobel. |
 |
| J. Ramos-Horta e Nelson Mandela |
 |
| Xanana Gusmão |
 |
| Localização de Timor-Leste |
 |
| Bandeira da República Democrática de Timor-Leste |
 |
| Brasão de Armas de Timor-Leste |
 |
| Ilha de Ataúro |
Finalmente a APODETI (Associação Popular Democrática Timorense), dos poucos que defendiam a integração - não inserção - na Indonésia como um mal menor no caso de os laços com Portugal cessarem. O Major Arnão Metelo foi o grande impulsionador deste movimento por pensar que esta seria a melhor solução para dividir a direita, facilitando a vida aos progressistas. Recorde-se que Arnão Metelo era um dos elementos permanentes do gabinete para a descolonização de Melo Antunes.
Numa sessão de esclarecimento que teve lugar em Dili nos fins de Janeiro, o Major Mota afirmou: "Está a operar-se uma revolução. Não podemos pensar que esta revolução se fará sem lágrimas. Problemas graves que agora defrontamos são uma consequência muito grande, numa medida larguíssima, do regime anterior fascista e irresponsável. Podemos agora discutir somente as ideias que, de facto, ajudem a edificar e ajudem a restituir ao Povo de Timor a sua dignidade".
Por sua vez, o Major Jónatas, nessa mesma sessão, falou do ensino que em Timor era "colonialista, elitista e veículo de um aparelho fascista; o próprio aproveitamento dos quadros não é feito e então há o recurso quase exclusivamente a professores metropolitanos: só o povo timorense pode saber das suas próprias necessidades; as escolas deviam ser vossas; há, portanto, necessidade de fazer uma alteração profunda nos quadros dos professores timorenses".
O Ten. Cor. Lemos Pires não se terá apercebido de que o figurino que os seus "conselheiros" levaram para Timor foi o mesmo que os antifascistas aplicaram em todos os territórios africanos sob administração portuguesa. Tanto Mário Soares como Almeida Santos afirmavam e reafirmavam que nada se faria contra a vontade do povo timorense. Contudo Almeida Santos tinha lá estado e não tinha quaisquer dúvidas do sentido de voto num referendo caso se viesse a fazer um em Timor. Não era necessário e, como ele afirmou, o portuguesismo daquela gente ultrapassava tudo o que a nossa imaginação pudesse conceber.
Em Timor, Lemos Pires e os seus comparsas deambulavam no meio daquela população e recordemos o que escreveu Francisco de Sousa Tavares no Jornal Novo de 6 de Setembro de 1974: "Que acção dinamizadora foi esta que conseguiu, num ano, transformar uma sociedade amável e tranquila numa banheira de sangue? Quem actuou com o objectivo de que a revolução marxista tivesse mais um palco? Que política foi esta que consistiu em pôr as populações em revolta, em armar as mãos inconscientes, em incitar à violência, à luta de classes, às vinganças tribais, e depois renunciar à tutela, embarcar os soldados e pedir o socorro às outras nações? Quem fica com a responsabilidade que é de todos nós, da descolonização de figurino que resolveram aplicar a Timor, que pouco ou nada se sentia colónia? A quem cabe a responsabilidade de Timor se ter transformado numa imensa fogueira, num campo de guerra civil, onde não houve piedade nem limites?"
E assim naquele inferno em que os descolonizadores transformaram Timor surgiu uma guerra civil, arvorando-se a FRETILIN em único representante do território. Entretanto os senhores da descolonização fizeram uma cimeira em Macau onde compareceram Almeida Santos, Major Vítor Alves (tinha estado em Dili como "embaixador itinerante" da descolonização), Jorge Campinos e delegados da APODETI e UDT. A FRETILIN, que mantinha a sua posição como a "única força com poderes para dialogar com Portugal", não compareceu à reunião e assim não ficaria amarrada a qualquer tipo de acordo, podendo agir, quando achasse oportuno, para a tomada do poder.
A UDT, tendo tido conhecimento da data (20 Agosto 1975) em que a FRETILIN tencionava desferir o golpe para a conquista do poder, antecipa-se e 4 dias antes ocupa o Quartel-General e toma a Polícia Militar. O Governador Lemos Pires, conhecedor das intenções da FRETILIN, e sentindo-se impotente para mediar o conflito, retira-se com o seu Estado-Maior para a ilha de Ataúro, durante a noite. No período de 21 a 26 de Agosto travam-se violentos combates em Dili entre as duas forças, da qual sai vitoriosa a FRETILIN. Na noite de 26/27, os quadros metropolitanos que se tinham instalado numa "zona neutra" junto ao porto, mudam-se para a ilha de Ataúro sem que a população dê conta da "fuga". A FRETILIN, dominada pelos comunistas, assume o poder e declara a independência de Timor. De imediato a Indonésia, com a conivência dos EUA, ocupa Timor-Leste, enquanto os revoltosos se refugiavam nas montanhas e Lemos Pires e os militares metropolitanos partem para Portugal. Esta situação arrastar-se-ia por vinte anos, quando o massacre de timorenses no cemitério de Santa Cruz, da responsabilidade das forças ocupantes, parece ter despertado a atenção do mundo, surgindo então a solução diplomática que leva à independência de Timor-Leste, um pequeno território de 20.000 Km2 altamente deficitário e que isolado não pode sobreviver como um estado independente. A situação de instabilidade, de insegurança e de carências de todo o género são bem a prova disso. O Dr. Almeida Santos, da primeira vez, em 1974, quando se deslocou àquelas paragens, e depois de ver com os seus próprios olhos o apego daquelas gentes a Portugal, não tinha dúvidas de que ali não seria necessário qualquer referendo para se cumprir o estabelecido no programa do MFA. Mas Mário Soares sustentou que, perante o mundo, Portugal teria que deixar as suas colónias, e Timor não podia ser excepção. Foi a sua vontade que se cumpriu e hoje, passados mais de trinta anos, os povos timorense e português estão a pagar bem caro as loucuras do Sr. Soares, que pretendia, tão-só, tirar dividendos em proveito próprio para se guindar ao estrelato dos políticos da actualidade. Ele sempre primeiro, acima de tudo e de todos. E assim se cumpriu a estratégia definida por Moscovo e que levou ao golpe comunista do 25 de Abril.
 |
| 25 de Abril de 1974 |
 |
O programa do MFA - respeitar a vontade das populações - acabaria por não se respeitar em qualquer território. Na Guiné, o PAIGC declarava que a Guiné já era independente antes do 25 de Abril; em Angola havia 3 movimentos de libertação, o que tornava a realização de qualquer referendo uma tarefa impossível; em Moçambique, no primeiro encontro que tiveram, Samora Machel afirmou que todo o moçambicano que votasse num referendo era um traidor; em S. Tomé e Príncipe inventou-se um movimento no Gabão ao qual Jorge Campinos, em nome de Mário Soares, entregara o poder; em Cabo Verde, o Tenente Judas resolveu rapidamente a questão, mandando um ultimato ao governo central, e Almeida Santos entregou o poder ao PAIGC, contra a vontade dos cabo-verdianos, E assim se cumpriu o programa do MFA.
Mas enfatizemos que, antes do Ten. Cor. Lemos Pires e do seu grupo de colaboradores terem chegado a Timor, se deu a entrega da Guiné ao PAIGC, o que significou ser autor moral do fuzilamento de milhares de guineenses; que o então ministro dos Negócios Estrangeiros andou aos abraços a Samora Machel, quando os soldados das nossas FA continuavam a lutar e a morrer na província em defesa das suas populações; que tudo se preparava para reconhecer o MPLA, a FNLA e a UNITA como únicos e legítimos representantes da população de Angola, aceitando o que o nosso Ministro da Coordenação Interterritorial, Almeida Santos, afirmara em Lusaca: "a legitimidade que se conquistou pelo sangue não é menos límpida do que a que se justificou pelo voto, ao contrário do que, na sequência das distorções mentais do passado, propendem a pensar alguns".
Também o secretário-geral do PS afirmou que era "necessário convencer o mundo da intenção sincera de Portugal de abandonar as suas colónias". Em resumo, que a responsabilidade do Ten. Cor. Lemos Pires e do seu grupo de colaboradores se tem de situar dentro da chamada descolonização, que Mário Soares, ainda em princípios de 1976, classificava de incontestável sucesso.
Acontecia que Almeida Santos desconhecia a estratégia de Moscovo, ignorava que o 25 de Abril tivesse sido, tão simplesmente, um golpe comunista, veio para a Metrópole por pensar que poderia ser útil na chamada descolonização, dada a sua grande experiência em África. Ambicioso, dotado de excelente capacidade intelectual, tribuno por natureza, dispunha de todos os predicados para triunfar no manicómio onde Portugal mergulhara. Quando me encontrava em Luanda, nas funções de Alto-Comissário, na tal missão impossível, foi o único responsável político que se preocupou pela tragédia que se vivia em Angola. Todas as semanas me contactava telefonicamente e, com alguma frequência, deslocou-se até Luanda para tentar encontrar uma solução para a guerra que grassava entre os três movimentos. Chegou mesmo, depois de muitas horas de reuniões com as delegações dos movimentos, a conseguir acordos de cessar-fogo que todos assinavam e prometiam cumprir, talvez só por algumas horas. Chegámos à conclusão que o problema não era solúvel ali mas sim entre as superpotências que pretendiam estender a sua influência àquela enorme e rica região. Em todo este processo Almeida Santos cometeu erros como todos os que nele estiveram envolvidos, mas desconhecia, contrariamente ao seu amigo Soares, que estava a cumprir uma missão imposta por Moscovo (ibidem, pp. 111-143).













































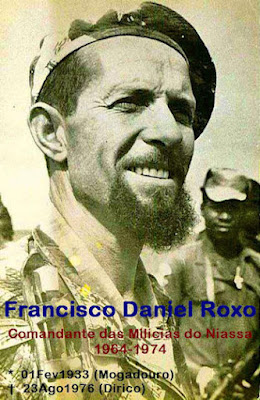












































































Olavo De Carvalho fala que a história da literatura ocidental escrita pelo Otto Maria Carpeaux é a melhor entre todas. O livro está no site no baixo:
ResponderExcluir[ https://patrimoniop.wordpress.com/2015/03/09/livro-historia-da-literatura-ocidental-de-otto-maria-carpeaux ].