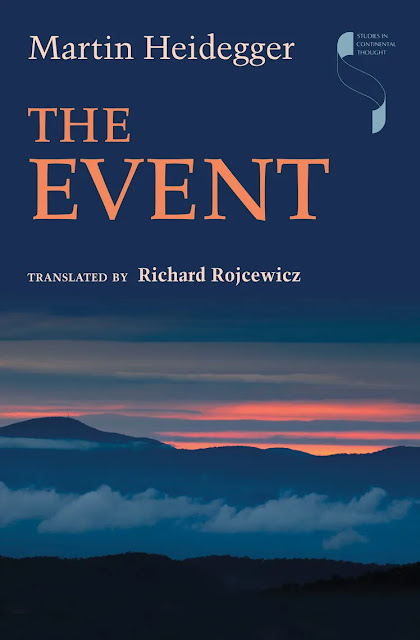Escrito por Victor Farías
 |
| A Lança Sagrada no Palácio Imperial de Hofburg (Viena, Áustria). |
«Vós, homens superiores, aprendei a rir.»
Frederico Nietzsche («Zaratustra»).
«O cenário do último encontro entre Nietzsche e Wagner, em
Bayreuth, é bem conhecido, porque o grande céptico e crítico o registou com o
seu brilhantismo habitual. Parece que Wagner, completamente inconsciente da
repugnância de Nietzsche pelos seus pensamentos sobre Cristo, tinha exposto o tema
do seu Parsifal projectando-o através da sua recém-adquirida experiência
religiosa de redenção e regresso ao seio cristão (tudo isto, claro, na premissa
de que Jesus não nascera judeu, mas sim de uma gloriosa estirpe ariana).
Nietzsche, para quem o cristianismo era uma depravação, “um dizer
Não a tudo”, uma capitulação ao veneno Paulino, mal conseguiu controlar os seus
sentimentos de repugnância e virou costas a Wagner e a Bayreuth para sempre.
“Estava de facto na altura de dizer adeus”, escreveu (em Nietzsche contra Wagner), depois de ver
o seu único amigo rastejar deploravelmente pelo caminho da renúncia, “um decadente decrépito e desesperado,
impotente e quebrado, perante a cruz cristã”.
Nietzsche descreveu como deixou Bayreuth, o grande lar do
Festspiel de Wagner, sentindo “aquele
tremor que toda a gente sente depois de passar inconscientemente por um perigo
tremendo”.
Em verso, parodiando o estilo de Fausto, de Goethe, Nietzsche registou
os seus pensamentos sobre a conversão de Wagner.
Será isto ainda alemão?
Terá um coração alemão dado origem a estes tórridos gritos agudos?
Será de um corpo alemão esta autolaceração?
Ou serão sequer alemães esta afectação clerical,
Este cheiro a incenso,
estas rezas tétricas?
Alemão, este cambalear hesitante,
Este repique adocicado, bim-bam?
Estes olhares de freira, este Avé transformador,
Toda esta falsamente extática beatificação celestial?
Será isto ainda alemão?
Pensem! Reflictam! Estão perplexos?
Aquilo que ouvem é Roma – a fé de Roma sem o texto.
Friedrich Nietzsche: Wagner as the Apostle of Chastity.
Numa veia mais séria, uma mistura de fúria e desapontamento,
Nietzsche diz o que pensa sobre o Parsifal
de Wagner:
“Será o Parsifal, de Wagner,
a sua forma secreta e superior de se rir de si próprio? É evidente que o
desejaríamos; pois o que seria de Parsifal
se fosse criado com a intenção de ser uma peça séria? Teremos de o ver (como
alguém disse contra mim) como ‘o aborto enlouquecido do ódio pelo conhecimento,
espírito e sensualidade’? Uma maldição sobre os sentidos e o espírito de um
único ódio e fôlego. Uma apostasia e uma reversão a doentios ideais cristãos e
obscurantistas? E no fim, uma auto-abnegação e uma auto-eliminação por parte do
artista, que almejara anteriormente o oposto disto. Pois Parsifal é uma obra de perfídia, de espírito vingativo, de uma
tentativa secreta de envenenar a pressuposição da vida – uma obra má...
Desprezo qualquer pessoa que não entenda Parsifal
como uma tentativa de assassinato da ética básica.”
Wagner as the Apostle of Chastity, Friedrich Nietzsche.
A troca de insultos pública entre Nietzsche e Wagner não foi de
forma alguma uma coisa unilateral. Richard Wagner respondeu à letra, com uma
argumentação muito persuasiva, a favor de uma forma de cristianismo que
afastava a fé do seio do judaísmo, provando ser o oposto diametral daquilo a
que o taciturno Nietzsche chamava desdenhosamente “uma consequência do judaísmo”.
Mas Wagner afirmava que lhe fora revelado que Jesus Cristo nascera da mais pura
estirpe ariana, e que o Deus cristão nunca fora um membro dos racialmente profanados
povos judaicos, sobre os quais afirmava estarem à procura de uma “solução final”
para libertar a pátria das suas influências corruptoras. [A expressão “solução
final”, que prefigura as câmaras de gás dos campos da morte e a liquidação de
cerca de seis milhões de judeus europeus, foi primeiro pronunciada pela boca de
Richard Wagner durante a sua “conversão” cristã].
A ideia de que o sangue de Jesus era sangue ariano, um conceito
que só por si mostra uma compreensão completamente errónea da natureza
universal do cristianismo, dava um significado novo à demanda do Santo Graal.
Significava que esses mistérios sagrados deviam ser considerados exclusivamente
alemães e que os Cavaleiros do Graal eram uma prerrogativa unicamente alemã.
O feroz ódio e desdém que se desenvolvera entre os dois grandes
heróis e fontes de inspiração de Adolf Hitler criava-lhe uma espécie de dilema –
principalmente porque a rixa entre ambos começara por ser sobre a natureza do
sangue de Cristo e o significado da Lança que o derramara.
Um grande problema permanecia por resolver: quem estava certo, nas
suas opiniões sobre Jesus Cristo? O músico, que caíra de joelhos perante um
Cristo ariano, ou o filósofo melancólico que chamara idiota ao Deus cristão? O
maestre de Bayreuth, o grande profeta de um novo cristianismo pangermânico, ou
o visionário solitário que previra a chegada do Super-Homem?
Adolf Hitler conseguiu, de alguma forma, chegar a uma decisão que
não o forçava a tomar partido final de nenhum dos seus mentores heróicos (quem
mais poderia ter feito um salto mortal intelectual tão admirável?): retirou
simplesmente do talento irradiante de Wagner e do génio sombrio e taciturno de
Nietzsche os elementos de que necessitava para construir a sua própria e
distorcida Weltanschauung.»
Trevor Ravenscroft («A Lança do Destino»).
«A vida acaba onde começa o reino de Deus.»
Frederico Nietzsche («Crepúsculo dos Ídolos»).
«Apercebi-me a pouco e pouco de que a imprensa social-democrata
era dirigida sobretudo por judeus; mas não atribuí nenhuma significação
particular a esse facto, já que o mesmo acontecia em relação aos outros
jornais. Uma única coisa podia, talvez, atrair a atenção: não se encontrava uma única folha que incluísse judeus entre os seus redactores que se
pudesse considerar como verdadeiramente nacional no sentido que a minha educação e
as minhas convicções me faziam dar a essa palavra.
Fiz um esforço e tentei ler as produções da imprensa marxista, mas
a repulsa que elas me inspiravam acabou por tornar-se tão forte que procurei
conhecer melhor os que urdiam essa colecção de canalhices.
Eram todos sem excepção, a começar pelos editores, judeus.
Reuni todas as brochuras sociais-democratas que pude arranjar e
procurei os signatários: judeus. Notei o nome de quase todos os chefes: eram
igualmente, na sua esmagadora maioria, membros do “povo eleito”, quer se
tratasse de deputados ao Reichsrat ou de secretários dos sindicatos, de
presidentes dos organismos do partido ou de agitadores de rua. Era sempre o
mesmo quadro pouco tranquilizador. Não esquecerei nunca os nomes dos Austerlitz,
David, Adler, Ellenbogen, etc.
Tornou-se-me então claro que o partido, cujos simples comparsas
eram meus adversários desde há meses no mais violento combate, se achava quase
exclusivamente, pelos seus chefes, nas mãos de um povo estrangeiro; porque um
judeu não é um alemão, sabia-o eu definitivamente para repouso do meu espírito.
Conhecia, enfim, o génio mau do nosso povo.
Um único ano em Viena tinha-me convencido de que não há um
operário tão enraizado nos seus preconceitos que não se renda perante
conhecimentos mais justos e explicações mais claras. Tinha-me a pouco e pouco
familiarizado com a sua própria doutrina e ela convertera-se na minha arma, no
combate que eu travava pelas minhas convicções.
A vitória era quase sempre minha.
Era preciso salvar a grande massa, mesmo à custa dos mais pesados
sacrifícios de tempo e de paciência.
Nunca, porém, pude libertar um judeu da sua maneira de ver as
coisas.
Eu era então ainda suficientemente ingénuo para querer
esclarecê-los sobre o absurdo da sua doutrina; no meu pequeno círculo, eu
falava ao ponto de ficar rouco e com a língua esfolada, e persuadia-me de que
conseguiria convencê-los do perigo das loucuras marxistas. Obtinha o resultado
oposto. Parecia que os efeitos desastrosos, fruto evidente das teorias
sociais-democratas e da sua aplicação, só serviam para fortalecer a sua
determinação.
Quanto mais discutia com eles, melhor aprendia a conhecer a sua
dialéctica. Eles contavam, em primeiro lugar, com a estupidez do adversário e
quando já não conseguiam encontrar uma escapatória, procuravam eles próprios
fazer-se passar por tolos. Se isto não produzia efeito, eles já não compreendiam
mais nada, ou, encostados à parede, saltavam para um outro terreno; alinhavam
truísmos que, uma vez admitidos, lhes serviam de argumento para questões
inteiramente diferentes; caso fossem de novo encostados à parede, eles
escorregavam-nos das mãos, e não se lhes podia arrancar qualquer resposta
concreta. Quando se queria agarrar um destes apóstolos, a mão limitava-se a
colher uma matéria viscosa e pegajosa que escorria entre os dedos para se
refazer no momento seguinte. Se se desferisse num deles um golpe tão decisivo
que ele não podia deixar de, na presença dos assistentes, se render à vossa
opinião, e quando se julgasse ter ao menos dado um passo em frente, não era
pequena a surpresa no dia seguinte. O judeu já nada sabia do que se tinha
passado na véspera; recomeçava a divagar como dantes, como nada se tivesse
passado, e quando, indignados, o intimássemos a explicar-se, ele fingia-se
surpreendido, não se lembrava de absolutamente nada, excepto de ter já provado
na véspera o fundamento das suas afirmações.
Isso deixava-me muitas vezes petrificado.
Não se sabia o que mais admirar: se a abundância do seu
palavreado, se a sua arte da mentira.
Acabei por odiá-los.
Tudo isso tinha o seu lado bom: à medida que eu conhecia melhor os
chefes, ou pelo menos os propagandistas da social-democracia, o meu povo
tornava-se-me mais precioso. Quem teria podido, perante a habilidade diabólica
daqueles sedutores, amaldiçoar os desgraçados que dela eram vítimas? Com que
dificuldade eu próprio não triunfava sobre a dialéctica pérfida daquela raça! E
quão vã era semelhante vitória sobre os homens cuja boca deforma a verdade,
negando sem cerimónia a palavra que acaba de pronunciar a fim de tirar partido
dela logo no instante seguinte.
Não, quanto mais eu aprendia a conhecer os judeus, mais me sentia
inclinado a desculpar os operários.
Os mais culpados, aos meus olhos, não eram eles, mas antes todos
aqueles que eram de opinião que não valia a pena apiedar-se do povo,
assegurar-lhe o que lhe é devido mediante leis rigorosamente equitativas,
encostar finalmente à parede o sedutor e o corruptor.
As experiências que eu fazia todos os dias levaram-me a investigar
as fontes da doutrina marxista. Conhecia agora claramente a sua acção em todos
os seus pormenores; o meu olhar atento descobria cada dia que passava o sinal
dos seus progressos; bastava ter um pouco de imaginação para se fazer uma ideia
das consequências que ela devia acarretar. A questão era agora a de saber se os
seus fundadores tinham previsto o que devia produzir a sua obra chegada à sua
última forma, ou se eles próprios tinham sido vítimas de um erro.
Em meu entender, uma e outra coisa eram possíveis.
Num dos casos, era o dever de qualquer homem capaz de pensamento
opor-se a esse movimento funesto para tentar impedir o pior; no outro, era
preciso admitir que os autores responsáveis por esta doença que tinha infectado
os povos tinham sido verdadeiros demónios; pois só o cérebro de um monstro, não
o de um homem, podia conceber o plano de uma organização cuja acção devia ter
por resultado último a ruína da civilização e, como consequência disso, a
transformação do mundo num deserto.
Neste caso, o único recurso era a luta, a luta com todas as armas
que podem fornecer o espírito humano, a inteligência e a vontade, fosse qual
fosse, aliás, aquele dos adversários em favor do qual a sorte fizesse pender a
balança.
Comecei, então, a estudar a valer os fundadores dessa doutrina a
fim de conhecer os princípios do movimento. Fiquei unicamente a dever ao meu
conhecimento da questão judaica, se bem que ainda pouco aprofundado, o ter
alcançado o meu objectivo mais rapidamente do que tinha ousado esperar. Só ele
me permitiu comparar praticamente a realidade com mentirolas contidas nas
teorias dos apóstolos e fundadores da social-democracia. Eu tinha aprendido,
com efeito, o que falar significa para o judeu: unicamente dissimular ou
esconder o seu pensamento. E não há que procurar descobrir o seu verdadeiro
desígnio no texto, mas nas entrelinhas, onde ele o ocultou cuidadosamente.
Foi nessa época que se operou em mim a revolução mais profunda que
alguma vez consegui levar a cabo.
O cosmopolita sem energia que eu tinha sido até então tornou-se um
anti-semita fanático.
Outra vez ainda - mas seria essa a última vez -, uma angústia
dolorosa oprimiu-me o coração.
Enquanto estudava a influência exercida pelo povo judeu através de
longos períodos da História, perguntei-me subitamente com ansiedade se o
destino, cujas intenções são insondáveis, não quereria, por razões
desconhecidas de nós, pobres homens, e em virtude de uma decisão imutável, a
vitória final desse pequeno povo?
A este povo, que nunca viveu senão para a Terra, teria sido acaso
prometida a Terra em recompensa?
O direito que julgamos ter de lutar pela nossa conservação tem um
fundamento real, ou existe somente no nosso espírito?
O próprio destino deu-me a resposta enquanto eu me absorvia no
estudo da doutrina marxista e observava imparcialmente e sem pressa a acção do
povo judeu.
A doutrina judaica do marxismo rejeita o princípio aristocrático
observado pela natureza e substitui o privilégio eterno da força e da energia
pela predominância do número e o seu peso morto. Nega o valor individual do
homem, contesta a importância da entidade étnica e da raça, e priva, assim, a
humanidade da condição prévia da sua existência e da sua civilização. Admitida
como base da vida universal, teria como efeito o fim de qualquer ordem
humanamente concebível. E da mesma forma que uma tal lei só poderia dar em
resultado o caos neste universo para além do qual se detêm as nossas
concepções, também ela significaria, neste mundo, o desaparecimento dos
habitantes do nosso planeta.
Se o judeu, com o auxílio da sua profissão de fé marxista, alcança
a vitória sobre os povos deste mundo, o seu diadema será a coroa fúnebre da
humanidade. Então, o nosso planeta recomeçará a percorrer o éter como o fez há
milhões de anos: sem que haja homens à sua superfície.
A natureza eterna vinga-se implacavelmente quando se transgride os
seus mandamentos.
É por isso que creio agir segundo o espírito do Criador
todo-poderoso, pois:
Defendendo-me contra o
Judeu, combato para defender a obra do Senhor».
Adolf Hitler («Mein Kampf», E-Primatur, 2015).
«A alta sociedade e os políticos da III República haviam produzido
a ralé francesa numa série de escândalos e fraudes públicas. Invadia-os agora um
terno sentimento de familiaridade paterna pelo seu rebento, um sentimento misto
de admiração e medo. O menos que a sociedade podia fazer pela sua filha era
protegê-la com palavras. Enquanto a ralé tomava de assalto as lojas dos judeus
e os agredia na rua, a linguagem da alta sociedade fazia com que a violência,
intensa e verdadeira, parecesse inócua brincadeira de criança. O mais importante
dos documentos contemporâneos a este respeito é o “Memorial Henry” e as várias
soluções que propunha para a questão judaica: os judeus deviam ser despedaçados
como Marsias na lenda grega; Reinach devia ser atirado para um caldeirão de água
a ferver; os judeus deviam ser cozidos em óleo ou furados com agulhas até
morrerem; deviam ser “circuncidados até ao pescoço”. Um grupo de oficiais
revelou-se muito impaciente para experimentar um novo tipo de canhão nos 100 000
judeus do país. Entre os subscritores havia mais de 1 000 oficiais, inclusive
quatro generais no activo, e o ministro da guerra, Mercier. O número
relativamente alto de intelectuais e até de judeus que constavam da lista é
surpreendente. As classes superiores sabiam que a ralé era a carne da sua
própria carne e o sangue do seu próprio sangue. Até um historiador judeu da
época, embora houvesse visto com os próprios olhos que os judeus não têm qualquer
segurança quando a populaça impera nas ruas, falou com secreta admiração do “grande
movimento colectivo”. Isto mostra apenas quão profunda eram as raízes dos judeus
numa sociedade que estava a procurar eliminá-los.
Ao descrever – referindo-se ao processo Dreyfus – o anti-semitismo
como um importante conceito político, Bernanos tem razão no tocante à ralé.
Havia sido experimentada anteriormente em Berlim e em Viena, por Ahlwardt e
Stoecker, por Schoenerer e Lueger, mas em lugar nenhum a sua eficácia foi
demonstrada mais claramente do que em França. Não pode haver dúvida de que, aos
olhos da ralé, os judeus passaram a representar o que era detestável. Se odiavam a sociedade, podiam denunciar o
modo como os judeus eram tolerados nela; e se odiavam o governo, podiam denunciar
como os judeus haviam sido protegidos pelo Estado ou se confundiam com ele. Embora
seja um erro presumir que a ralé caça apenas judeus, estes estão certamente em
primeiro lugar entre as suas vítimas favoritas.
Excluída, como é, da sociedade e da representação política, a ralé
recorre necessariamente à acção extraparlamentar. Além disso, sente a
inclinação de procurar as verdadeiras forças da vida política naqueles
movimentos e influências que os olhos não vêem e que actuam por trás da
cortina. Não resta dúvida de que, durante o século XIX, o povo judeu incidiu
nesta categoria, exactamente como os maçons e os jesuítas. É falso que qualquer
um desses grupos realmente constituísse uma sociedade secreta propensa a dominar
o mundo por meio de uma gigantesca conspiração. Contudo, é verdade que a sua
influência, por mais abstracta que fosse, era exercida além da esfera formal da
política e operava em grande escala nos corredores, nos bastidores e no
confessionário. Desde a Revolução Francesa, estes três grupos têm dividido a
honra duvidosa de serem, aos olhos da ralé europeia, o eixo da política
mundial. Durante a crise Dreyfus, cada um deles pôde explorar essa noção
popular, jogando sobre o outro a acusação de conspirar pelo domínio do mundo, O
termo “Judá Secreta” é devido, sem dúvida, à inventividade de certos jesuítas,
que decidiram ver no primeiro Congresso Sionista (1897) o núcleo de uma
conspiração mundial judaica. [V. “II caso Dreyfus em Civilità Cattolica (5 de Fevereiro de 1898). Entre as excepções à
afirmação anterior, a mais notável é a do jesuíta Pierre Charles Louvain, que
denunciou os Protocolos dos Sábios de
Sião]. Do mesmo modo, o conceito de “Roma Secreta” deve-se a a mações anticlericais
e, talvez, também a calúnias indiscriminadas e impensadas de alguns judeus.»
Hanna Arendt («As Origens do Totalitarismo»).


«Lembro-me como, na minha juventude, [o] vocábulo [“germanizar”]
dava margem a concepções incrivelmente falsas. Mesmo nos círculos
pangermanistas, ouvia-se a opinião de que, com auxílio do Governo, se poderia
realizar com êxito a germanização da Áustria eslava, sem que ninguém se
apercebesse de que só é possível germanizar um território e nunca um povo. O
que se compreendia pela palavra germanização resumia-se na adopção forçada da
língua. É quase incrível que alguém pense ser possível transformar um negro ou
um chinês em alemão somente por ter o mesmo aprendido a falar alemão e esteja
disposto a usá-lo por toda a vida e a votar em qualquer dos partidos alemães.
Os meios nacionalistas burgueses nunca chegaram a compreender que semelhante
processo de germanização redundaria numa desgermanização. Quando, hoje, pela
imposição de uma língua comum, se diminuem ou mesmo se suprimem as diferenças
mais sensíveis entre os povos, isso representa um começo de mestiçamento da
raça e, no nosso caso, não uma germanização, mas a destruição dos elementos
germânicos. Acontece muito frequentemente na História que um povo conquistador
consiga impor a sua língua aos vencidos e que, depois de milhares de anos, essa
língua venha a ser falada por outro povo e que assim o vencedor passe à posição
de vencido.
Uma vez que a nacionalidade, ou melhor, a
raça, não está na língua que se fala, mas no sangue, só se deveria falar em
germanização se, por um tal processo, se pudesse modificar o sangue dos
indivíduos. Isso é absolutamente impossível. Essa modificação teria de ser
feita pela mistura do sangue, o que resultaria no rebaixamento do nível da raça
superior. A consequência final seria a destruição justamente das qualidades que
tinham preparado o povo conquistador para a vitória. Por uma tal mistura com
raças inferiores sobretudo as forças culturais desapareceriam, mesmo que o
produto daí resultante falasse perfeitamente a língua da raça superior. Durante
muito tempo, travar-se-á uma luta entre os dois espíritos e pode ser que o povo
votado a uma decadência irremediável consiga, por um esforço supremo, elevar-se
e criar uma cultura de surpreendente valor. Isso pode acontecer com os
indivíduos das raças mais elevadas ou com os mestiços, nos quais, no primeiro
cruzamento, ainda prevalece o melhor sangue: nunca se verificará, porém, esse
facto com os produtos definitivos da mistura. Nestes verificar-se-á sempre um
movimento de regressão cultural.
Deve-se
considerar uma felicidade que a germanização da Áustria, nos moldes da
empreendida por Francisco José, não fosse continuada. O êxito ter-se-ia
traduzido na conservação do Estado austríaco, mas num rebaixamento do nível da
raça alemã. Pode ser que daí surgisse um novo Estado, mas ter-se-ia perdido uma
cultura. Com o correr dos séculos, ter-se-ia organizado um rebanho, mas esse
rebanho seria de valor muito medíocre. Poderia talvez surgir um povo organizado
em Estado, mas com isso teria desaparecido uma civilização.
Para a nação
alemã foi muito melhor que se não tivesse realizado essa mistura, aliás
evitada, não por motivos elevados, mas devido à miopia dos Habsburgos. Se
tivesse acontecido o contrário, hoje mal se poderia apontar o povo alemão como
um factor de cultura.
Não apenas na
Áustria como na própria Alemanha, os chamados nacionalistas eram e ainda são
inclinados a esses falsos raciocínios. A tão desejada política polaca, no
sentido de uma germanização do Leste, apoiava-se quase sempre em idênticos
sofismas. Acreditava-se poder conseguir a germanização dos elementos polacos apenas
pela adopção da língua. O resultado dessa tentativa só poderia ser funesto. Um
povo de raça estrangeira exprimindo os seus pensamentos próprios em língua
alemã só poderia, pela sua mediocridade, comprometer a majestade do espírito
alemão.
Os grandes prejuízos que, indirectamente, já
sofreu o espírito alemão, podem ser verificados no facto de os americanos, por
falta de conhecimentos, confundirem o dialecto judaico com o alemão. A ninguém
passará pela cabeça que essa piolheira judaica que, no Leste, fala alemão, só
por isso deve ser vista como de descendência alemã, como pertencente ao povo
alemão.
A História mostra que foi a germanização da
terra, que os nossos antepassados promoveram pela espada, a que nos trouxe
proveitos, pois essa terra conquistada era colonizada com agricultores alemães.
Sempre que o sangue estrangeiro foi introduzido no corpo da nação, os seus
desastrados efeitos fizeram-se sentir sobre o carácter do povo, dando lugar ao
superindividualismo, infelizmente ainda hoje muito apreciado.»
Adolf Hitler («Mein Kampf», E-Primatur, 2015).
 |
| Heidegger |
«No contexto das medidas administrativas tomadas pelo reitor
Heidegger e a fim de ver a radicalidade de que ele deu provas para levar a bom
termo a tarefa de “revolucionar” a sua Universidade, convém examinar uma série
de documentos descobertos por Hugo Ott. Na sua qualidade de reitor da
Universidade de Freiburg, Martin Heidegger informou o relator das questões
universitárias do Ministério de Karlsruhe, doutor Fehrle, que existiam
documentos pondo gravemente em causa o professor de Química, Hermann Staudinger,
especialista conhecido no mundo inteiro. Staudinger receberia mais tarde o
Prémio Nobel. A informação que Heidegger tinha fornecido a Fehrle em 29 de
Setembro de 1933 permitiu a este último denunciar logo no dia seguinte
Staudinger à polícia de Freiburg. A Gestapo de Karlsruhe assumiu a investigação
confidencial sob a designação “Operação Sternheim”. Os documentos a que
Heidegger tinha feito alusão referiam rumores segundo os quais Staudinger teria
feito, durante a Primeira Guerra Mundial – era então professor na Universidade
Técnica de Zurique – declarações pacifistas, apoiado por colegas que
partilhavam as suas opiniões e não escondiam a sua oposição ao militarismo
alemão. Os elementos reunidos pela Gestapo, em particular as actas provenientes
do consulado alemão de Zurique, bastaram para que a secretaria central de
Karlsruhe encetasse um processo contra Staudinger. Heidegger, consultado em 6
de Fevereiro de 1934 pelo Ministério, é convidado oficialmente a fazer
diligências, “dado que uma eventual aplicação do §4 da lei [...] deve ocorrer
antes de 31 de Março de 1934, data limite”. Respondeu quatro dias mais tarde,
num relatório escrito à máquina por uma mão manifestamente inexperiente (tendo
em conta o número de erros de dactilografia). Este relatório figura em papel
com carimbo do reitorado, mas não comporta número de registo (Hugo Ott). Neste
relatório, Heidegger diz assumir todas as acusações apresentadas pela Gestapo e
acrescenta um juízo pessoal, que era em si mesmo uma condenação: “Estes factos,
só por si, exigem a aplicação do §4 da lei. E tendo em conta que eles são
conhecidos da opinião pública alemã desde 1925/26, época na qual Staudinger foi
contratado pela Universidade de Freiburg, é também o prestígio da Universidade
que está em jogo, é preciso tomar medidas. Tanto mais que Staudinger se faz
passar hoje em dia por um incondicional da reconstrução nacional. De
preferência a uma aposentação, é uma demissão que seria preciso encarar. Heil
Hitler! Heidegger.” Em resposta à solicitação de Heidegger, o ministro
badenense pediu ao ministro de Estado, num relatório de 22 de Fevereiro de
1934, a expulsão de Staudinger do serviço público.
Ainda que Staudinger tenha tentado, durante os interrogatórios, minimizar
as provas de culpa apresentadas contra ele, a sua situação tornou-se absolutamente
insustentável, enquanto o carácter monstruoso da medida tomada contra ele se
tornava cada vez mais evidente. É assim que, por razões puramente tácticas,
receando as repercussões internacionais que a questão podia ter, primeiro o
presidente da Câmara Municipal de Freiburg, doutor Kerber, depois o próprio Martin Heidegger, decidiram intervir para que
Staudinger não fosse demitido mas “apenas” aposentado. No final da sua carta
enviada ao Ministério em 5 de Março de 1934, sempre em papel com carimbo do
reitorado da Universidade e sem número de registo (e “é quase certo que nenhum
duplicado destes documentos figura nos arquivos da Universidade” – Hugo Ott)
Heidegger escreve: “Seja como for, é supérfluo acrescentar que tudo isto não
altera nada à coisa-mesma. Trata-se unicamente de evitar uma nova complicação nas nossas relações com o estrangeiro [...].” Como diz Ott, o epílogo desta questão não deixa
de ser grotesco e não se pouparam as humilhações a Staudinger. O Ministério
obrigou-o a apresentar, “por sua própria iniciativa”, um pedido de demissão.
Arquivado durante seis meses, o Ministério consentiu em não o aceitar “salvo
se, no futuro, se oferecesse uma razão para o fazer”. Passado o prazo acordado,
e não tendo “nenhuma razão” sido apresentada, autorizou-se que retirasse o seu
pedido.
Relativamente à atitude de Heidegger face à perseguição dos seus
colegas judeus, é preciso na verdade estabelecer matizes. Em particular no que
concerne aos professores de Freiburg, von Hevesy e Fränkel, especialistas de reputação
mundial respectivamente em Química (Prémio Nobel 1943) e Filologia Clássica.
Nos arquivos gerais de Karlsruhe, encontra-se uma carta de Martin Heidegger ao
conselheiro ministerial Fehrle, de 12 de Julho de 1933, na qual ele toma a
defesa dos dois cientistas a fim de não serem expulsos do serviço público.
Heidegger sublinha, por um lado, o grande prestígio dos dois professores nas
suas disciplinas respectivas na opinião do mundo científico, incluindo no
estrangeiro e, por outro lado, afirma que “seriam judeus ilustres de carácter
exemplar (Sie sein edle Juden von
vorbildlichem Charakter). Os seus argumentos perante as autoridades ministeriais consistem em dizer que a exclusão definitiva poderia causar um
forte prejuízo para a boa reputação da ciência alemã no estrangeiro,
particularmente nos meios intelectuais dominantes e politicamente influentes. A
defesa destes dois casos particulares, sublinha Heidegger, não deve ser
considerada como uma recusa das disposições gerais para os docentes judeus. Ao
contrário, ele assume a sua atitude mesmo estando “plenamente consciente da
necessidade de aplicar incondicionalmente a lei relativa à reorganização do
serviço público”; ele toma somente em consideração os prejuízos que a exclusão
poderia causar “ao necessário reforço, a nível mundial, do prestígio da
ciência alemã, ao novo Reich e à sua missão”».
Victor Farías («Heidegger e o Nazismo»).
«A razão na linguagem: Oh, que velha fêmea enganadora... Creio que
não vamos desembaraçar-nos da ideia de “Deus” porque continuamos ainda a
acreditar na gramática”».
Frederico Nietzsche («Crepúsculo dos Ídolos»).
«A Introdução à metafísica
começa retomando o problema com que concluía Que é a metafísica? que, tendo elaborado o conceito de nada e
esboçado a sua relação constitutiva com o ser, não tinha todavia respondido à
pergunta “Porquê em geral o ser, em vez do nada”? Na realidade, este problema
não se resolve com uma resposta que expresse o porquê buscado; e isto
explica-se tendo em conta o que diz o escrito sobre o fundamento acerca do facto
de que toda a atribuição do porquê, toda a justificação é sempre interna ao mundo como totalidade de
entes que se justificam entre si, mas não tem sentido a respeito do ente na sua
totalidade. Perguntar: “Porquê o ente, e não antes o nada”? serve no entanto
justamente, por meio do “não antes”, para não esquecer a transcendência do
estar-aí, para problematizar a totalidade do ente como tal. O facto de o
problema não ter sido elaborado pela metafísica na sua história (referir os
entes a um ente supremo é também uma maneira de se manter no interior do ente;
o ente supremo é sempre um ente ao
lado dos outros entes) significa justamente que a metafísica esqueceu o “não
antes”, isto é, esqueceu o problema do nada. A metafísica contentou-se com
eliminar o problema do nada como se não fosse um problema: se o nada não
existe, não se fala dele, não se pode discutir sobre ele e é melhor atermo-nos
ao ser. Mas, quando se desliga do nada, o ser identifica-se imediatamente com o
ente como presença, efectividade, realidade. Toda a fundação metafísica se
limita a buscar um ente sobre o qual fundar os outros, sem cair na conta de que,
ainda no caso deste primeiro ou último, se re-coloca completamente o problema
do ser.
Uma vez que não elabora o problema do nada, a metafísica não
elabora sequer, autenticamente, o problema do ser do qual, todavia, partiu. A
metafísica tem a característica de um esquecimento do ser. Este esquecimento do
ser manifesta-se no facto de que, para a metafísica, o ser é uma noção óbvia
que não tem necessidade de ulteriores explicações. Isto equivale a afirmar que
o ser é uma noção estreitamente vaga que fica indeterminada; e é o que afirma
Nietzsche, ao constatar que a ideia de ser já não passa da “exalação última de
uma realidade que se dissolve”.
O esquecimento do ser, em conformidade com o resultado a que se
chegou no escrito sobre a verdade, não é algo que se deva a nós ou às gerações
que nos precederam. Assim como a não-verdade pertence à própria essência da verdade,
assim também o esquecimento do ser, que constitui a metafísica, é um facto que
incumbe ao ser como tal, pelo que se poderá dizer, como afirma Heidegger
explicitamente nos seus estudos sobre Nietzsche (que amadurecem nos anos
imediatamente posteriores à Introdução),
que a metafísica é “história do ser”. Isto significa, em primeiro lugar, que o
ser é para nós uma noção, ao mesmo tempo óbvia e vaga, isto é, o esquecimento
do ser,
“não é algo estranho, perante o qual nos encontramos e que nos é
dado unicamente verificar na sua existência como algo acidental. Pelo
contrário, trata-se da própria situação em que nos encontramos. É um estado da
nossa existência, mas decerto não no sentido de uma propriedade verificável
psicologicamente. Por “estado” entendemos aqui toda a nossa constituição, o
modo como nós próprios estamos constituídos em relação ao ser”.
Há que entender estas expressões no seu significado mais forte:
afirmar que a metafísica como o esquecimento do ser determina o modo em que
estamos existencialmente constituídos não quer dizer apenas que a metafísica é
algo profundamente enraizado em nós, o que constituiria ainda uma perspectiva “psicológica”.
Na medida em que não somos outra coisa senão a abertura ao ser do ente, a
metafísica, como modo de abrir-se ao ente esquecendo o ser, é a nossa própria
essência e nesse sentido pode dizer-se que é o nosso destino. Que a metafísica
seja história do ser, entende-se, sobretudo, atendendo ao facto, evidenciado por
A essência do fundamento, de que o
projecto não se dilui na relação entre o estar-aí e os entes; o modo como este
projecto se institui efectivamente não é um facto do ente, nem um acto do Dasein: depende de outra coisa, daquilo
que o escrito sobre a verdade chama a essência da verdade e que nas obras
posteriores à Introdução se chamará
cada vez mais explicitamente o ser. Dito de maneira esquemática, não somos
outra coisa que a abertura na qual os entes (e nós próprios somos entes) aparecem:
esta abertura implica sempre um certo modo de relação com o ser do ente, e a
abertura em que nos encontramos lançados (e que nos constitui radicalmente) caracteriza-se
como um esquecimento do ser em favor do ente; esse carácter de abertura
histórica em que nos encontramos não depende de uma decisão nossa ou das
gerações anteriores, porque toda a decisão só pode dar-se dentro de uma
abertura já aberta; remonta, pois, a algo que não somos nós (nem com maioria de
razão, os entes); é a essência da verdade ou, mais em geral, o ser.
A metafísica é, pois, história do ser e ao mesmo tempo, posto que
o sentido da definição é idêntico, a nossa história: não como obra nossa, mas
como situação que nos constitui. Se tivermos isto presente, é fácil ver que as
indagações (continuamente retomadas e aprofundadas por Heidegger) sobre a história
da metafísica são simplesmente o ulterior e extremo trabalho de concretizar a
analítica existencial de Ser e Tempo:
o que o Dasein é não pode pensar-se em
termos de “propriedades” ou de características de uma essência homem que, por
meio deles, se define e dá a conhecer. Agora o “programa”, enunciado já em Ser e Tempo, realiza-se do modo mais
cabal. O estar-aí não se define atendendo a propriedades, pois não é outra
coisa que a abertura histórica que o constitui. Tal abertura, que não lhe
pertence, mas à qual ele próprio pertence, é a história do ser. Nesta base,
voltar a conceber e a reconstruir a história da metafísica significa, ao mesmo
tempo, concretizar ulteriormente a analítica existencial – libertando-a de toda
a possibilidade de interpretação metafísica que ainda pudesse subsistir na base
de Ser e Tempo – e dar um passo em
frente no caminho da indagação do sentido do ser, que constituía precisamente o
objectivo para que devia servir a analítica.»
Gianni Vattimo («Introdução a Heidegger»).
«(...) lá onde o homem já nada tem que ver e que agarrar, também
nada tem que procurar.»
Frederico Nietzsche («Para Além do Bem e do Mal»).

«Nos arquivos de Alfred Bäumler, conservados pela sua esposa,
encontra-se um documento muito importante escrito por Bäumler sobre Martin
Heidegger e datado de 22 de Setembro de 1933. (Para que se tome conhecimento da
integralidade do documento, a Sr.ª Bäumler pede-nos que se aguarde a sua
publicação ao cuidado de G. Schneeberger). Dada a coincidência das datas, pode
presumir-se que este texto foi escrito por Bäumler no momento em que Heidegger
foi nomeado para Berlim. A sua importância é acrescida pelo facto de Bäumler
ser uma figura preponderante da Amt-Wissenschaft
de Alfred Rosenberg. Transpare uma vez mais que, até aí, as relações entre
Heidegger e a Amt-Wissenschaft eram
excelentes. Escreve Bäumler: “Martin Heidegger é o acontecimento mais
importante da filosofia alemã desde Dilthey. Tanto no que diz respeito ao
sistema como no que diz respeito à história, Heidegger revolucionou as questões
postas pela investigação filosófica. Com o aparecimento do seu livro Ser e Tempo, o pensamento filosófico
entrou numa era nova (que se preparava desde há muito). Todo o trabalho
filosófico actual é impensável sem uma crítica – favorável ou desfavorável –
deste livro. No que diz respeito ao sistema, o trabalho de Heidegger consiste
em reexaminar e aperfeiçoar o que, desde Dilthey, é convencionado chamar-se a
filosofia da vida. Com uma subtileza sem par, Heidegger elaborou uma posição radical,
através da qual a lógica formal tradicional foi despojada do seu poder e do seu
prestígio, ao mesmo tempo que foi substituída por uma ontologia que trata de um
sujeito entendido simultaneamente como pensante e activo num mundo [...] A
dedução do conceito de tempo quotidiano que constitui o cume da obra de Ser e Tempo é uma contribuição que não
tem equivalente na literatura.”
Diferentemente do que outros ideólogos nacionais-socialistas
criticavam na noção heideggeriana de “cuidado” [Sorge], Bäumler escreve em 1933: “Ao caracterizar a existência como
“cuidado”, Heidegger influenciou da maneira mais profunda a situação actual da
filosofia [...] Penso que ter tornado possível um tal fenómeno corresponde a uma das raras e insignes descobertas da história da humanidade [...].
No que diz respeito à história, o contributo de Heidegger é igualmente
extraordinário. A amplitude da sua visão da história não é hoje igualada por
ninguém [...]. E quando nas suas análises históricas, Heidegger parece proceder
por vezes de maneira arbitrária, ele fá-lo com o direito que assiste aos génios
filosóficos.”»
Victor Farías («Heidegger e o Nazismo»).
«(...) a verdade é aquela classe de erro sem a qual uma
determinada espécie de seres vivos não poderiam viver. O valor para a vida é o
que decide em última instância».
Frederico Nietzsche («A Vontade de Poder»).
«Podem ser chamados de heróis, no sentido em que colhem o seu
objectivo e a sua vocação, não do curso regular das coisas, sancionado pela
ordem estabelecida; mas de uma fonte oculta, desse Espírito interior, ainda
escondido sob a superfície, que colide contra o mundo exterior, como se fosse
uma concha, e o desfaz em pedaços.»
Jorge Guilherme Frederico Hegel («Filosofia da História»).
«Lá onde o Estado acaba, olhai para ali, irmãos meus! Não vedes o
arco-íris e os poentes do Super-Homem?».
Frederico Nietzsche («Zaratustra»).
Heidegger e o curso «Introdução à Metafísica» (1935)
O curso «Introdução à Metafísica» tinha sido precedido em
1934-1935 por um curso sobre Hölderlin. Esta circunstância é significativa,
porque o interesse de Heidegger pela obra de Hölderlin, que para a sua evolução
posterior seria decisiva, começou com a análise dos problemas filosóficos e
políticos do nacional-socialismo. Acerca de Hölderlin, Heidegger havia dito:
“A verdade do povo é a correspondente manifestação [condição de patente] do ser na sua totalidade de acordo com o qual os poderes
sustentadores, ordenadores e condutores obtêm as suas hierarquias e provocam o
seu consenso. A verdade de um povo é aquela manifestação do Ser a partir do
qual o povo sabe o que historicamente quer, ao querer-se, ao querer ser ele
próprio [...]. A verdade do Dasein de
um povo é fundada originariamente pelos poetas; mas o ser do ente assim
descoberto é concebido como Ser (Seyn)
e assim também é disposto e revelado pelos pensadores, e o assim concebido Seyn se converte na última e primeira
seriedade do ente, quer dizer, é colocado na verdade histórica de-determinada,
pelo facto de o povo ser levado a si mesmo como povo. Isso acontece pela
criação de um Estado conforme à sua essência, pelo criador do Estado. Mas todo
este acontecer tem os seus próprios tempos e, portanto, a sua própria sequência
temporal; os poderes da poesia, do pensamento, da criação do Estado actuam,
pelo menos nas épocas da história desenrolada, para a frente e para trás e não
são, sobretudo, calculáveis. Durante longo tempo podem actuar sem serem
conhecidos e sem pontos entre si não obstante influindo-se, cada um segundo o
seu diverso poder de desdobramento, do pensar, do agir de Estado, e em cada
diverso grande domínio público” .
E, relacionando tudo isto com o seu próprio ponto de vista
nacional-socialista, Heidegger prosseguiu:
“Teve lugar uma eclosão: esta eclosão, não obstante, não encontrou
a «saída» (Aufbruch) correcta; não
achou ainda o seu caminho nem era de esperar que o encontrasse rapidamente; a
preparação do verdadeiro que um dia sobrevirá não se logra da noite para o dia
e por encomenda, requer muitas vidas humanas e até «gerações»; esse longo
período permanece fechado para todos aqueles que se vêem atacados pelo
aborrecimento e não dão conta do seu próprio aborrecimento. Mas nesse longo
período, certo dia, acontece o verdadeiro: o tornar-se manifesto do Seyn. Nesse lugar da necessidade
metafísica está o poeta” .
No curso do semestre de Verão de 1935, chamado «Introdução à Metafísica»,
tratou-se da tematização da história ou, se se quiser, de uma reflexão sobre o
papel da filosofia (que Heidegger naquela época concebia como «metafísica») na
constituição da história. Nos seus trabalhos anteriores, Heidegger insistia na
necessidade de vincular a história e a filosofia, e de buscar precursores do
que entendia por historicidade da história; agora, em contrapartida,
importava-lhe mostrar a história como um movimento dinâmico que pela sua mesma
origem oferecia um modelo para o presente e para o futuro.

É importante salientar que, neste ponto, Heidegger recolhe todos
os problemas tratados até esse momento (inclusivamente na sua aleatoriedade e
contingência política imediatas), se bem que a partir de uma nova perspectiva.
Heidegger insiste na diferença básica entre a essência do povo alemão e as
manifestações históricas pelas quais se traduzia. Essa diferença permitia a
Heidegger julgar a identidade conseguida pelo nacional-socialismo em relação
com a sua origem. Daí que Heidegger insistisse, de antemão, na diferença entre
a filosofia e aquele enfoque das coisas que a filosofia esperava converter
imediatamente num meio, na hora de criar uma nova sociedade:
“Com tais perspectivas e pretensões sobrevalorizava-se o alcance e
a essência da filosofia. A maior parte das vezes, o excessivo dessa exigência
evidenciava-se no menosprezo da própria filosofia. Diz-se, por exemplo, que se
deve rejeitar a metafísica porque não cooperou na preparação da revolução. E
isso tem tanto espírito como afirmar: posto que não se pode voar com um banco
de carpinteiro, há que prescindir dele” .
Que Heidegger não atribuísse à filosofia qualquer eficácia
imediata, não significava que quisesse revogar as suas possibilidades
históricas, mas, pelo contrário, que intentava transcendentalizá-la
historicamente:
“Pelo contrário, o que a filosofia pode e tem que ser, pela sua
própria essência, é: uma abertura pensante de vias de perspectivas do saber
que estabelece critérios e hierarquias, de um saber no qual e graças ao qual um
povo concebe e realiza o seu Dasein no
mundo histórico-espiritual; isto é, trata-se de um saber que ascende, ameaça e
constrange todo o perguntar e avaliar [...]. A filosofia, pela sua essência,
não torna as coisas mais fáceis, mas mais difíceis. E isso não é casualidade,
pois o modo como se comunica ao entendimento vulgar parece estranho e até
próprio de dementes.
O autêntico sentido da produção filosófica consiste em tornar mais
difícil a existência histórica e, deste modo, no fundo e para dizê-lo com uma
palavra, o Ser. Tal agravamento devolve peso (ser) às coisas, ao ente. Porquê?
Porque constitui uma das condições essenciais e fundamentais do nascimento de
tudo o que é grande, o qual nos permite medir, sobretudo, o destino e as obras
de um povo histórico. O destino só se encontra ali onde a existência se
encontra dominada por um verdadeiro saber das coisas. Mas a filosofia é a que
abre caminhos e perspectivas para lograr tal saber” .
Heidegger estava convencido de que isso era precisamente o que os
ideólogos oficiais não faziam. Não podiam dar-se conta, nem compreender, onde e
como estavam os problemas. Não podiam aperceber-se de que tratar do «Nada» (Nichts) era algo distinto de uma
«decomposição» que minava «toda a cultura e toda a fé». Na sua mediocridade,
eles opinavam: «O que despreza tanto o pensamento na sua lei fundamental, como
o que destrói a vontade construtiva e a fé, é puro niilismo.» .
Heidegger deduziu o perigo que representava a situação em que a
Europa se encontrava:
“Esta Europa, em atroz cegueira e sempre a ponto de apunhalar-se a
si mesma, jaz hoje sob a grande tenaz que a Rússia, por um lado, e a América,
pelo outro, formam. Rússia e América, metafisicamente encaradas, são a mesma
coisa: a mesma fúria desesperada da técnica desenfreada e da organização
infunda do homem normal. Quando o mais afastado recanto do globo tiver sido
tecnicamente conquistado e convertido em economicamente explorável; quando uma
ocorrência qualquer for rapidamente acessível num lugar qualquer e num tempo
qualquer; quando se puderem «experimentar», simultaneamente, o atentado a um
rei em França e um concerto sinfónico em Tóquio; quando o tempo só for rapidez,
instantaneidade e simultaneidade, e o tempo, como história, tiver desaparecido
da existência de todos os povos; quando um número de milhões em assembleias de
massas for um triunfo – então sim, voltarão a pairar como fantasmas sobre toda
esta algazarra as perguntas: para quê? Para onde? E depois, o quê?” .

Esta crítica cultural, que foi acompanhada de uma versão fascista
[?] contra qualquer tipo de democracia, e que questionava não só os seus abusos
como a sua existência, completava-se com a valoração da Alemanha como o único
«centro» do qual podia surgir uma salvação universal:
“Estamos dentro da tenaz. Por achar-se no centro, o nosso povo
experimenta a pressão mais incisiva; é o povo que tem mais vizinhos e, por
isso, o mais ameaçado, e, sobretudo, é um povo metafísico. Mas a partir desta
determinação, de que estamos seguros, este povo só obterá o seu destino quando em si mesmo chegar a criar-se um eco,
uma possibilidade de eco para esta determinação, e conceber a sua tradição de
modo criador. Tudo isto encerra em si que este povo, como povo histórico, se
expunha (e, portanto, à história do Ocidente) a partir do centro do seu
acontecer futuro no domínio originário das potências do Ser. Precisamente, se a
grande decisão sobre a Europa não houver de dar-se pelo caminho do
aniquilamento, então só poderá dar-se mediante o desdobramento de novas forças
historicamente espirituais, a partir
do centro” .
Ao retomar aquela ideologia ultranacionalista e imperialista que
professores alemães haviam formulado antes da Primeira Guerra Mundial para
justificar uma política agressiva, Heidegger estabeleceu uma continuidade entre
aquela época e o fascismo [?]. Como «centro» da Europa, como povo metafísico – por isso – especialmente ameaçado, como
autoridade escolhida, o povo alemão devia decidir sobre o destino de todos os
povos, precisamente, na medida em que decidia por si mesmo. A planetarização da
técnica através do seu movimento centrífugo, em direcção ao maior vazio, exigia
do povo metafísico um movimento centrípeto contrário em direcção a si mesmo,
como centro estabilizador. E no centro estava a «pergunta pelo Ser», com a qual
se justificava a si mesmo.
“Por isso colocámos a pergunta pelo Ser em conexão com o destino
da Europa, onde se decidirá o destino da Terra, com o que, para a própria
Europa, a nossa existência histórica como centro fica provada” .
Este nacionalismo extremo, que foi criticado por Robert Minder ,
teve que ser entendido inequivocamente como uma vinculação ao
nacional-socialismo partindo daquela crítica a que Heidegger quis submeter o
nacional-socialismo para o clarificar.
Pois, o que a Alemanha vivia, desde o instante em que a sua
direcção nacional-socialista assumiu a sua evolução histórica e começou a
extraviar-se do caminho recto, foi absolutamente análogo ao ocorrido no século
XIX, e que Heidegger concebia como origem e ponto de partida de todos os
perigos e males de então. O processo que se pode designar brevemente como «a
derrocada do idealismo alemão», não tinha nada disso.
“Não foi o idealismo alemão que se desmoronou, foi a época que
deixou de ser suficientemente forte para estar à altura da grandeza, da
amplitude e originariedade desse mundo espiritual .
[...] A existência começou a deslocar-se em direcção a um mundo que não tinha
aquela profundidade, a partir da qual o essencial advém e retorna ao homem
[...]. A dimensão predominante era a da extensão do número [...]. Tudo isto se
intensificou depois na América e na Rússia, chegando-se a um etcétera
desmesurado do sempre igual e do indiferente, até ao ponto de o quantitativo de
tudo isto degenerar numa qualidade própria” .
Ao exagerar qualitativamente a agressividade potencial própria de
cada nacionalismo extremo, Heidegger forja um inimigo que havia de exterminar
de raiz, justamente por ser demoníaco e perverso:
“O predomínio da mediocridade, do indiferente, já não é algo de
insignificante e de meramente estéril, mas a ameaça de algo que ataca toda a
hierarquia e destrói e faz passar por mentira o que é espiritual no mundo. É o
empate daquilo que chamamos demoníaco (no sentido de malvado e destrutor). Há
diversos sinais de surgimento deste império do demoníaco, unido ao crescente
desconcerto e insegurança da Europa, com respeito a si própria e em si própria.
Um deles está no debilitamento do espírito, no sentido de uma sua má
interpretação. Hoje encontramo-nos no centro de tal acontecer” .
Tanto no conteúdo como na forma, Heidegger refere-se aqui aos
sermões fanáticos e maniqueus do seu compatriota Abraham a Sancta Clara, que
queria chamar a atenção para a verdadeira origem e significado da peste e
«despertar» a população de Viena a fim de que adquirisse consciência do perigo
turco. Heidegger integrou esta posição espiritual (partilhada pelas encíclicas
papais) na concepção do mundo nacional-socialista. Também Hitler havia
desenhado uma demonologia própria (e não só com referência aos judeus). Para
ele, os fundadores do marxismo, «essa doença dos povos», eram verdadeiros
demónios, pois só na mente de um monstro – e não de um homem – pode [...]
adquirir forma de um plano de organização cuja realização haveria de levar ao
desmoronamento da cultura humana e, com isso, à desolação do mundo. Neste caso,
como última salvação restava ainda a luta, a luta com todas as armas que o
espírito humano, o intelecto e a vontade podem imaginar, sem que importasse
então a quem tinha o destino dado a sua bênção no prato da balança .
A luta, que devia ser dirigida a partir do «centro», tinha que ser
preparada cuidadosamente, como cruzada que haveria de aniquilar o inimigo
apocalíptico mais espalhado no planeta. Na opinião de Heidegger, tratava-se de
aguçar a arma mais importante nesta luta, que não era senão o «espírito»,
justamente porque tudo ia decidir-se nele, e porque um dos indícios do domínio
do demoníaco e perverso era a desfiguração da actividade verdadeira do
espírito. A partir desta premissa, Heidegger formulou a sua «crítica» ao
nacional-socialismo de uma maneira absolutamente diferente. Para Heidegger, era
particularmente vil «a má interpretação do espírito como inteligência», a sua despromoção ao «papel de uma ferramenta ao serviço
de outrem, cujo manejo se pode ensinar e aprender» .
Esta má interpretação tinha tomado três formas: no marxismo, a inteligência
pôs-se ao serviço da «regulação e domínio das relações materiais de produção».
No positivismo, limitou-se «à ordem do entendimento e da explicação de todo o
sempre presente e já estabelecido». E no nacional-socialismo desviado do seu caminho, o
espírito foi degradado para inteligência na «direcção organizativa da massa e
raça vitais de um povo». A caracterização das três variantes de degradação do
espírito que Heidegger propôs parecia diferenciada e exacta. Não obstante,
enquanto condenava os dois primeiros (marxismo e positivismo), do terceiro
observou unicamente o seu desenrolar erróneo. Que Heidegger também aqui se
esforçava por reconhecer a «intrínseca verdade e grandeza» do movimento
nacional-socialista, viria pouco depois a ser óbvio .
“Se se entende, como o marxismo fez da forma mais extrema o
espírito como inteligência, será absolutamente justo dizer, em resistência a
ele, que o espírito, isto é, a inteligência, tem sempre que se subordinar,
dentro da ordem das forças eficientes da existência humana, à sã capacidade
física e ao carácter”.
Diferentemente do marxismo e do positivismo, que devem ser
interpretados só como representação do demoníaco e perverso, o
nacional-socialismo actua e pensa «correctamente» no sentido de uma defesa do
espírito. Na opinião de Heidegger, o erro do nazismo não consistia em
empreender e prosseguir a luta baseando-se no racismo, mas no facto de que a
estabelecera sobre uma base frágil. Já que a «sua ordem, em si correcta, se
converte em errónea logo que concebe a essência do espírito na sua verdade.
Pois toda a força e beleza verdadeiras do corpo, a segurança e a ousadia pela
espada, assim como a autenticidade e habilidade do intelecto, têm a sua raiz no
espírito e encontram a sua ascensão ou a sua decadência apenas no
correspondente poder ou impotência do mesmo. É o que suporta e domina, o
primeiro e o último, e não só um terceiro factor imprescindível» .
.jpg)
.jpg)
Daí que para Heidegger a alternativa racista ou belicista pudesse
devir verdade. Esta alternativa, que
em si, e para os dois braços da tenaz ofensiva dirigida contra a Alemanha – o
marxismo e o positivismo –, parecia para sempre impossível, era, segundo o
juízo de Heidegger, perfeitamente possível, inclusivamente necessária para a
terceira variante, o nacional-socialismo. A diferença importante entre o dito
por Heidegger no seu curso «Sobre a questão fundamental da filosofia» (que não
era necessário espiritualizar a revolução) e o que dizia aqui consiste em que a
espiritualização tinha chegado a ser necessária, porque o seu objectivo, o
nacional-socialismo, estava em vias de perder alguns dos seus atributos
essenciais. Apesar de tudo tinha capacidade de recuperação. O seu propósito de
fundamentar o racismo e a agressão no «espírito» («toda a força e a beleza
verdadeiras do corpo, a segurança e a ousadia da espada») não era uma voz
clamando no deserto. Hitler também exigiu a espiritualização da espada:
“É possível aniquilar ideias espirituais com a espada? Pode-se
lutar contra concepções do mundo com o uso da violência bruta? Pus a mim mesmo
estas perguntas frequentemente [...]. Concepções e ideias, assim como
movimentos com uma determinada base espiritual falsa ou verdadeira, a partir de
um determinado momento do seu desenvolvimento só se podem vencer com os meios
do poder técnico quando estas armas corporais são por sua vez portadoras de um
novo pensamento, de uma ideia ou ideologia [...]. A aplicação exclusivamente da
violência, sem a força motriz de uma ideia espiritual básica como premissa,
nunca poderá levar à eliminação de uma ideia nem à sua propagação, a menos que
se chegue a aniquilar o seu último porta-voz e se destrua a sua última transmissão.
Isto, não obstante, significa afastar esse corpo político [Staatskörper] do círculo que tem significado em termos de poder
político por um tempo indefinido, quiçá para sempre: um sacrifício destes
afecta o melhor do povo segundo a experiência demonstra, já que toda a
perseguição que tem lugar sem uma condição espiritual prévia aparece como
moralmente injustificada, e incita ao protesto, precisamente, os elementos mais
valiosos do povo, com a sua consequente identificação com o conteúdo espiritual
do movimento (doutrina) injustamente perseguido. Em muitas pessoas, isto ocorre
simplesmente por causa de uma reacção instintiva contra o intento de redução à
bastonada de uma ideia por meio de uma violência brutal”.
Daí que Hitler visse como única solução a colaboração entre «a
espada» e «o espírito».
“O primeiríssimo pressuposto de um modo de luta com as armas da
força bruta tem sido desde sempre a tenacidade [...]. A aplicação uniforme da
violência sem mais é o primeiro pressuposto do êxito. Mas essa tenacidade só se
dá partindo de uma determinada convicção espiritual. Toda a violência que não
surja de uma base espiritual firme será vacilante e insegura” .
A combinação errónea de espírito e acção que Heidegger concebia
como o maior perigo para o «centro» e para o «movimento» reflectia-se também na
Universidade – como lugar a partir do qual deveria ser possível devolver ao
espírito as suas próprias possibilidades – que corria mesmo assim o perigo de
ser destruída por causa da equivocada evolução do nacional-socialismo.
“Na ciência que aqui na Universidade particularmente nos interessa
pode reconhecer-se facilmente a situação das últimas décadas, situação que, pese embora alguns intentos de saneamento, permanece imutada. Duas concepções
aparentemente distintas parecem combater-se: a ciência como conhecimento
profissional técnico e prático por um lado, e a ciência como valor cultural per se por outro; na realidade, ambas se movem no
mesmo sentido decadente de uma falsa interpretação do espírito e da sua
debilitação. Só se diferenciam na medida em que, enquanto a concepção
técnico-prática – profissional – adquire importância pelas suas consequências
abertas e claras, a interpretação reaccionária da ciência como valor cultural,
que agora surge outra vez, intenta cobrir a impotência do espírito com uma
mendacidade inconsciente. A confusão de falta de espírito pode alcançar tal
ponto que a interpretação técnico-prática da ciência se reconheça
simultaneamente como ciência enquanto valor cultural, de modo que ambas, na sua
falta de espiritualidade, se tolerem bem entre si. Se se quiser chamar
Universidade à instituição que une as ciências especializadas em ensino e em
investigação, isso será um mero nome, não um poder espiritual originariamente
unificador que coadjuve um compromisso imperativo” .

A partir desta perspectiva, o curso de Heidegger intentava
recuperar espírito perdido. Não o concebia como algo de estabelecido e fixado
pela administração num plano de estudos – um curso «intelectual» que tivera a
filosofia por «tema» –; devia, sim, converter-se numa espécie de ritual, no
qual importava «realizar» novamente o «espírito» como uma instância
«histórico-transcendental». A nova tentativa de salvação do espírito tinha que
começar por um retorno às origens, ao começo da filosofia ocidental dos gregos.
E tinha que tratar-se de uma salvação, porque o acesso a esta origem estava
bloqueado. Os gregos concebiam nos começos do seu pensamento o ser como physis;
mas ao fazê-lo estabeleceram as bases de um começo que pouco tempo mais tarde
foi alterado.
“Costuma-se traduzir esta palavra grega fundamental, que designa o
ente, como «natureza». Utiliza-se a tradução latina natura que, em sentido
próprio, significa «ser nascido», «nascimento». Não obstante, com esta tradução
latina marginalizou-se o conteúdo original da palavra physis e destruiu-se o próprio poder expressivo filosófico da
expressão grega. E isto não só vale para a tradução latina desta palavra, como
para as demais traduções da linguagem dos filósofos para romano. O processo
desta tradução do grego para romano não é acidental e inofensivo; assinala o
primeiro capítulo do que seria o fechamento brusco à essência originária da filosofia
grega e o alheamento dela. A tradução latina tornou-se depois normativa para o
cristianismo e para a Idade Média cristã. Traduziu-se numa filosofia moderna,
que se movimenta no mundo conceptual da Idade Média e que, com o tempo, criou
aquelas representações correntes e aqueles termos conceptuais com que, ainda
hoje se torna inteligível o começo da filosofia ocidental” .
Já na crítica da filosofia de Descartes que Heidegger faz em Ser e Tempo se podiam reconhecer
indícios das suas múltiplas reservas face ao chamado «latim» e «romano».
Reservas que são características da tradição xenófoba, da qual Abraham a Sancta
Clara é exemplo. A partir da sua adesão ao nacional-socialismo, Heidegger
mantém uma xenofobia antilatina radical que se converteu num dos elementos (ou
factores) essenciais do seu pensamento, e ao qual finalmente nunca renunciou. É
notória a diferença relativamente à época em que havia concebido o seu escrito
«Sobre a essência do fundamento» (1929), época em que tinha encontrado no
evangelista João um conceito de Cosmos fenomenologicamente válido, continuando
depois na exegese do mundus de Agostinho e Tomás de Aquino .
Que a xenofobia de Heidegger não foi abstracta nem tinha por objecto meras
concepções filosóficas, demonstra-o o facto de a filosofia e a linguagem não
serem para Heidegger campos separados, mas factores constitutivos e decisivos
da existência humana. A juízo de Heidegger, «os povos» em nada se realizam
tanto como na sua filosofia e na sua linguagem.
Esta perspectiva foi radicalizada pelo nacional-socialismo até às
suas últimas consequências. Para o nacional-socialismo, o eixo Grécia-Alemanha
constituía o centro de uma cultura universal. No mesmo sentido escreveu também
Alfred Bäumler no seu ensaio «A dialéctica da Europa», num fragmento polémico
dirigido contra Jules Romains: «Diferenciamos a cultura e a tradição romanas –
com as quais tivemos um contacto histórico – da relação de livre eleição que
temos com o espírito grego; mas esta relação não nos interessa menos que aquele
contacto. Estamos conscientes de que o grego não nos foi transmitido pela
tradição romana, mas conquistado por nós autonomamente em sedimentos sempre novos.
Lutero traduziu do original grego, não da Vulgata; Winckelmann sentia o mármore
grego; Goethe e o Sturm und Drang
reencontraram Homero; Hölderlin libertou Píndaro, e Nietzsche redescobriu a
tragédia dionisíaca. Todos eles são outros tantos descobrimentos do génio
grego, levados a cabo sem mediação da cultura latina, e ainda em oposição a
ela» .
Heidegger aprestou-se a lutar para libertar «a origem» do lastro
romano:
“Precisamente porque nos atrevemos a empreender a tarefa, grande e
longa, de demolir um mundo envelhecido e de o reconstruir deveras, isto é,
historicamente, temos que conhecer a tradição. Devemos saber mais, isto é, de
um modo mais rigoroso e imperativo do que se sabia nas épocas e períodos de
transição que nos precederam. Só o conhecimento histórico radical nos permitirá
afrontar o extraordinário da nossa tarefa, preservando-nos ao mesmo tempo de
uma nova irrupção de meras reproduções e de imitações estéreis” .
Estar à altura de semelhante tarefa tinha algo de titânico:
“Agora [...] nós saltamos por cima deste curso de desfiguração e
decadência para intentar reconquistar a capacidade original da linguagem e das
palavras” .
Existiam objectivamente possibilidades para isso:
“Que a formação da gramática ocidental surgisse da reflexão sobre
a linguagem grega, confere a este processo todo o seu significado. Pois, esta
língua (encarada em relação às possibilidades do pensar) é, junto com a alemã,
a mais poderosa e ao mesmo tempo a mais espiritual” .
O guia mais importante no caminho da restauração da origem foi,
segundo Heidegger, Heraclito. Através de Heraclito se podia compreender desde o
começo que a luta (polemos)
significava a relação ontológica entre physis
e verdade (aletheia). Com a equivalência
de polemos e logos se mostraria a dinâmica originária da existência:
“A luta a que aqui se alude é combate originário, pois permite que
os combatentes surjam antes de tudo como tais: não é uma mera arremetida entre
coisas já existentes. A luta projecta e des-enrola o inaudito, o até então
não-dito e não-pensado. Esta luta será pois a dos criadores, dos poetas, dos
pensadores, dos homens de Estado. Opõem ao poder avassalador o bloco da sua
obra e conjuram nela o mundo que com a sua obra abriram. Mediante essas obras,
a physis chega a fazer-se presente.
Só assim o ente, como tal, se torna ente. Este tornar-se mundo (Weltwerden) constitui o acontecer
histórico propriamente dito. A luta como tal não só faz surgir o ente como
também o conserva na sua estância. Onde a luta se suspende certamente que o
ente não desaparece, mas o mundo desvia-se” .
O conceito heraclitiano de polemos devia servir de fundamento
ontológico do pensamento corporativo dos fascistas [?], ao fundamentar da
discriminação entre os homens e à negação radical da possibilidade da
solidariedade humana.
“O conflito (Auseinandersetzung)
no que engendra, faz brotar tudo (o presente); mas (também) é o que conserva e
domina. A uns mostra-os como deuses; a outros como homens; a uns põe-nos como
servos; aos outros como livres” .
Mas aqueles que não captam o logos, «não são capazes de ouvir nem
de dizer». Não podem estabilizar a sua existência dentro do ser do ente. Só os
que podem fazê-lo dominam a palavra: os poetas e os pensadores. Os outros dão
voltas dentro do círculo da sua obstinação e falta de entendimento. Só admitem o
que lhes sai ao caminho, o que lhes é lisonjeiro e conhecido. «São como os cães:
pois também os cães ladram aos que não conhecem.» São asnos: «Os asnos preferem
a palha ao ouro» .
O desprezo que Heraclito sente pela multidão e a sua estima por
aqueles que possuem posição e domínio, assim como a circunstância de falar dos “impróprios”
como de cães e asnos faz parte essencial da realidade grega. Se hoje se fala,
às vezes com excessivo fervor, da polis dos
gregos, não deve silenciar-se o conceito de polis
em algo de anódino e de sentimental. O realmente forte é o hierárquico [...]. Justamente porque o ser é logos, harmonia, aletheia, physis e phaynestay não
se mostra discricionariamente. O verdadeiro não é para qualquer um, mas apenas
para os fortes .
Com isto, abria-se o caminho da equiparação da polis grega à
sociedade corporativa fascista do nacional-socialismo, aquela sociedade de
caudilhos cujo estado era obra «dos fortes»:
“A polis constitui o
lugar do acontecer histórico, o ali no
qual, a partir do qual e para o qual acontece a história. A
semelhante lugar do acontecer histórico pertencem os deuses, os templos, os
sacerdotes, as festas, os jogos, os poetas, os pensadores, os dominadores, o
conselho dos anciãos, a assembleia do povo, as forças armadas, os barcos. Se
tudo isto é próprio da polis, se tudo
isto é político, não é pela sua relação com um homem de Estado, com um general
ou com os negócios do Estado. O mencionado é, antes, político, isto é, está no
centro do acontecer histórico, sempre que os poetas sejam só poetas, mas então
que o sejam realmente, os pensadores só pensadores, mas que o sejam então
realmente, os sacerdotes só sacerdotes, mas que então e por isso sejam somente
governantes. E que o sejam significa que, como executores da violência, a
empreguem realmente e se convertam em preeminentes no ser histórico como
criadores, como fazedores.”
Por tudo isso, a Introdução
à metafísica converte-se numa Introdução
à política, na medida em que é transcendentalizada sem perder a sua força
inerente. Pelo contrário, a juízo de Heidegger, esta transcendentalização
servirá para devolver ao «político» o seu poder decisivo que, sem lugar a
dúvidas, devia conseguir-se no ideário sociopolítico do nacional-socialismo e
nas suas concepções organizativas. Que esta obra de Heidegger deva ser interpretada
como começo da sua ruptura com o nacional-socialismo, e que tal ruptura devia
ter lugar inevitavelmente, a menos que Heidegger renunciasse ao seu pensamento,
parece insustentável. Esta tese é defendida sobretudo por Alexander Schwan,
cuja afirmação de que Heidegger tinha deixado de alienar-se aqui junto aos
nacionais-socialistas, por ter reconhecido o carácter totalitário da sua
ideologia, não é compatível com a sua outra afirmação de que Heidegger em 1935
aprovava ainda o Estado totalitário .
Na Introdução à metafísica, Heidegger
fundamentou o mesmo Estado que havia defendido em 1933-1934 e, decerto, como
poder central de uma sociedade composta de ordens na qual o exercício do poder
político só devia caber aos homens de Estado, coincidindo plenamente neste
sentido com o fascismo.
Além disso, Schwan sustenta que Heidegger neste trabalho
compreende o «povo histórico» como categoria social central. Já que este povo
adquire a sua unidade mediante o Estado (como povo num Estado), Heidegger
conceberia o povo como «obra» do Estado, como «uma realização da verdade»
abstracta, e inclusivamente não-histórica. Mas o certo é que Heidegger nunca abandonou as suas convicções
quanto ao carácter cimentador-originário e até sacralizador do povo alemão,
ainda que nesta época já afirmasse na «obra» a equivalência de Estado e povo.
Uma vez que também em 1935 queria desenvolver o Estado apenas a partir do povo,
do mesmo modo que em 1934 exigia que o povo se encontrasse a si mesmo no Estado
e no Führer.
Os problemas editoriais da Introdução
à metafísica vão mais além do marco do presente trabalho. Em 1953, quando
se publicou o texto, a discussão centrava-se sobretudo numa determinada frase
que Heidegger reconhecia ter escrito, mas que afirmava ter omitido na leitura.
Nesta frase aparece resumida a evolução ideológica de todo o curso numa fórmula
que ilustra de um modo exemplar a sua conotação política. Depois de Heidegger
ter aludido à declinação do espírito e à sua consequente instrumentalização
numa filosofia de valores e totalidades – com o que se mostrava aos seus
prosélitos o ponto onde o nacional-socialismo se havia perdido no caminho –,
comenta:
“Tudo isto se chama filosofia. O que hoje se oferece por todos os
lados como filosofia do nacional-socialismo – mas que não tem absolutamente
nada que ver com a intrínseca verdade e grandeza deste movimento (nomeadamente,
com a confrontação da técnica planetariamente determinada e do homem
moderno) – faz a sua pesca nessas turvas
águas de «valores» e «totalidades» .

Heidegger afirmou mais tarde não ter pronunciado as palavras que
apareciam entre parênteses no manuscrito original .
Com isso pretendia indicar que as ditas palavras implicavam uma crítica aos
filósofos nacional-socialistas, à direcção política, e ao nacional-socialismo
como tal. Mas cabe perguntar-se se a crítica de Heidegger aos filósofos
nacional-socialistas e à direcção não foi pronunciada em nome daquele
nacional-socialismo que Heidegger acreditava que já em 1934 havia sido atraiçoado
e que só era de novo libertado por ele, por Heidegger, num polemos como o do
seu curso. Mesmo que as palavras colocadas entre parênteses constassem no texto
original, isso não mudava qualitativamente a orientação ideológica do curso. Se
o nacional-socialismo desembocava na «confrontação da técnica planetariamente determinada
e do homem moderno», era porque, para Heidegger, o poder e a possibilidade de
assumir tal confronto eram inerentes ao nacional-socialismo. Daí a sua verdade
e a sua grandeza unicamente alcançadas «intrinsecamente» depois de a direcção
política e os filósofos as terem convertido em exterioridades. Do que se
tratava aqui era de uma força e de um poder efectivos, de que o marxismo e o
positivismo careciam, não só porque representavam povos não-metafísicos, mas
porque Heidegger os concebia como agentes do mal. Por tudo isso, eram incapazes
de oferecer uma solução.
Rainer Marten comentou há pouco tempo como Heidegger se comportou
durante a preparação da reedição da Introdução à metafísica: «Em 1953, durante
os preparativos para a reimpressão do curso, nós três aconselhámo-lo, prevendo
a reacção pública, a que omitisse a passagem «com intrínseca verdade e grandeza
do nacional-socialismo» da frase «O que hoje se oferece por todos os lados como
filosofia do nacional-socialismo, mas que não tem absolutamente nada que ver
com a intrínseca verdade e grandeza do nacional-socialismo». Em lugar de fazer
o indicado, trocou o segundo «nacional-socialismo» por «movimento» e, depois,
pôs entre parênteses: «nomeadamente, a confrontação da técnica planetariamente
determinada e do homem moderno». No entanto, por 1935, para Heidegger, ainda
não existia a distinção de um nacional-socialismo pervertido pelo desgaste
técnico do existente. O carácter maléfico da técnica atribui-o nesta época,
unicamente e de um modo significativo, às potências não-germânicas. Heidegger
diz textualmente numa aula anterior do mesmo curso: «Rússia e América são ambas
[...] o mesmo: o mesmo delírio desesperado da técnica desenfreada e da
organização infunda do homem normal». Está claro que a «famosa» passagem
sanciona em cada uma das suas palavras inequívocas e favoravelmente o fascismo [?],
considerando-o filosoficamente autêntico e justo, e desmente automaticamente a
interpretação efectuada pelo mesmo Heidegger .
(In Victor Farías, Heidegger e o Nazismo, Editorial
Caminho, 1990, pp. 339-355).


.jpg)
.jpg)













.jpg)
.jpg)



.jpg)


.jpg)
.jpg)
.jpg)