Escrito por Ortega y Gasset
«A
experiência determinante não precisa, é claro, ser um episódio da vida exterior
do filósofo. Pode ser uma experiência puramente interior, de ordem emocional ou
cognitiva. No caso de René Descartes, a chave encontra-se nos seus três famosos
sonhos, em que se insinua pela primeira vez a figura do “génio mau” ameaçando
destruir na base toda confiança no poder dos conhecimentos humanos. Conforme
creio ter demonstrado na apostila sobre “Consciência e estranhamento”, toda a “ordem
das razões”, em Descartes, é a expressão indireta de uma luta travada – e, no
fim das contas, perdida – contra o demônio.
Das experiências fundantes nascem as
intuições centrais que dirigem a montagem das “doutrinas” filosóficas. Sem o
retorno às experiências, as doutrinas pairam no ar como puras construções
mentais, ou “obras”, no sentido literário do termo, prestando-se assim a uma
multiplicidade de interpretações heterogêneas que acabam por dissolver o sentido
originário das intuições centrais. Pior ainda: a “história da filosofia”,
contada assim, não pode ser senão uma sucessão de “pensamentos” que se geram
uns aos outros no céu das idéias puras, sem raízes no mundo da experiência
humana. Essa “história” é uma criação ficcional que, para justificar-se, tende
ela própria a transmutar-se em nova “doutrina” filosófica.
Um exemplo eloqüente é fornecido pelo próprio Guéroult: “Há em Descartes uma idéia seminal que inspira todo o seu empreendimento e que as Regulae ad directionem ingenii expressam desde 1628: é que o saber tem limites infranqueáveis, fundados nos da nossa inteligência, mas que no interior desses limites a certeza é inteira.” É uma afirmação exata e veraz, que repetidas leituras de Descartes confirmam tanto quanto o estudo da sua biografia. Essa “idéia seminal”, porém, adquire dois sentidos bem diversos se a contemplamos tão somente como validada pela “ordem das razões” – ainda que o façamos com todas as precauções guéroultianas – e se a enxertamos no tecido da experiência vivida de onde ela emergiu. No primeiro caso, temos apenas uma tese geral de epistemologia, que poderia ser proposta desde contextos muito diferentes sem nada perder da sua significação esquemática. Na verdade, essa tese, considerada em abstrato, é quase um truísmo. Quem não sabe que a inteligência tem limites mas que eles não afetam em nada a nossa certeza de que dois mais dois são quatro? No entanto, se nos perguntamos por que Descartes assumiu o empreendimento de defender o conhecimento humano dentro de seus limites e por que decidiu fazê-lo pela estratégia radical e hiperbólica de “duvidar de tudo”, entendemos que a salvação do conhecimento ante um inimigo aparentemente invencível era para ele uma questão de vida ou morte, não apenas uma tarefa científica. O problema dos limites do conhecimento tem em Descartes uma dimensão demonológica que a pura análise estrutural do texto das Meditações de Filosofia Primeira não pode revelar, mas que transparece com bastante clareza nos três sonhos de 1619. Para apreendê-la, é necessário fazer algo que vai muito além da análise de texto: é preciso refazer pessoalmente a experiência cartesiana da “dúvida universal” e, como me aconteceu a mim, perceber no fim das contas que ela é absolutamente inviável: não existe dúvida universal, há somente dúvidas específicas, e cada uma delas se ergue sobre uma montanha de certezas inabaláveis. Diante dessa constatação, o método cartesiano da dúvida muda de sentido: já não é uma precaução racional, mas um lance de retórica extremada, um hiperbolismo forçado. A máquina demonstrativa das Meditações não é um laboratório de ciência, mas um teatro do absurdo onde um ego acuado por fantasmas apela, para exorcizá-los, a gesticulações histriônicas. O resultado final do empreendimento é que o ego abstrato, reduzido à afirmação de sua própria existência num instante atomístico hipotético, se proclama a fonte de todas as certezas mas ao mesmo tempo não tem como saltar do seu isolamento solipsístico para o mundo exterior, que pretende conhecer, senão mediante o apelo extemporâneo à fé dum Deus bondoso – extemporâneo porque o mesmo Deus fora anteriormente excluído do jogo pela regra da dúvida metódica. Qual a “certeza inteira” que resta no “interior dos limites do conhecimento”? De um lado, a certeza meramente lógica de um ego vazio; de outro, a multidão das ciências, mas garantidas, em última análise, tão somente pela fé. Sem nada contestar das conclusões de Martial Guéroult, vemos que estão certas, mas invertidas. Como bem enfatiza o próprio Guéroult, a “ordem das razões” é sempre um processo de validação. Sim, mas validação de quê? De certas intuições de base que antecedem e orientam o próprio processo de validação. Se é este processo e não as intuições de base o que constitui o essencial de uma filosofia, a filosofia torna-se uma actividade puramente discursiva sem nenhum aporte intuitivo, nem nenhuma percepção da realidade, sem nenhuma experiência vivida. Compreende-se que o interesse disso acabe sendo puramente acadêmico, para não dizer filológico.»
Olavo de Carvalho («A Filosofia e seu Inverso»).
«A ciência é uma ordenação de conhecimentos. A ordenação faz-se em vista de uma finalidade que é, ou não, previamente definida. Só são, portanto, ordenados os conhecimentos que se orientam para essa finalidade, os quais se seleccionam entre muitos outros e só eles são apresentados como científicos. Deste modo existem tantas ciências quantas as finalidades definidas para a ordenação dos conhecimentos.
Das ciências existentes são-nos mais próximas a ciência clássica, a ciência moderna e a ciência ocultista.
A ciência clássica é a que teve seus inícios nos mitólogos gregos, escolarmente designados por pré-socráticos, encontrou sua ordenação no platonismo e no aristotelismo, lançou seus prolongamentos no helenismo, nomeadamente na geometria euclidiana e na geografia ptolemaica, e não deixou de conservar, até hoje, toda a potencialidade das concepções próprias, seja por elas derivarem do pensamento filosófico que lhes garante a verdade, seja por se verem utilizadas, adulteradas ou não, pela ciência moderna.
A
ciência ocultista – ocultista porque entende ocultas as causas dos fenómenos
do mundo sensível – é um conjunto de superstições de cultos religiosos mais ou
menos extintos, de persistências de formas mágicas primitivas e, sobretudo, de
prolongamentos do quietismo oriental.
A ciência moderna encerra o mundo sensível
no tempo e no espaço intransponíveis, fecha-se portanto a qualquer transcendentalismo
como a todo o finalismo e ordena os conhecimentos científicos segundo uma
doutrina da causalidade integralmente mecanicista.
A finalidade da ciência clássica é a
descoberta de como o mundo inteligível está presente no mundo sensível
(platonismo) ou de como o universal está presente nas particularidades que compõem a natureza e o cosmos (aristotelismo). Está portanto em permanente transcensão
do tempo e do espaço, ignora o infinito entendido como o infindo na sucessão
temporal e na distância espacial, desdenha o mecanicismo cujos produtos, como as
máquinas automóveis, “são admiradas nas feiras pelos basbaques” e faz do
finalismo, ou determinação dos fenómenos pela causa final, a estrutura e o
valor de todo o conhecimento científico.
A finalidade da ciência ocultista, presa à obsessão do ser enquanto ser como realidade única mas incognoscível ou oculta num mundo e numa existência sem razão de si, é a evanescência desse mesmo ser.
A finalidade da ciência moderna é a que lhe foi previamente definida por Descartes: “(...) o domínio dos corpos que nos rodeiam para os pôr ao serviço dos homens”».
Orlando Vitorino («As Teses da Filosofia Portuguesa»).
«(...) hoje não restam dúvidas de que a predilecção dos historiadores da cultura para encontrar na Renascença a grande divisória entre o mundo medieval e o mundo moderno obscureceu e, até certo ponto, deturpou o verdadeiro desenvolvimento não só da filosofia ocidental, mas também do pensamento ocidental no seu todo. Da antiguidade até meados do século XVIII, a ciência e a filosofia andaram de mãos dadas. Para o historiador das ideias é impossível separar o desenvolvimento da filosofia do desenvolvimento do pensamento científico, e, quando tomados em conjunto, torna-se visível que o mais importante período no desenvolvimento de cada uma das áreas, ocorreu, não na Renascença, mas no início do século XVIII, e que isso aconteceu em grande medida devido ao pensamento de Descartes.
Já no século XVI se discutiam vigorosamente os problemas do método científico – sobretudo na Universidade de Pádua, onde se reconhecia que a experiência científica era de importância primordial para a investigação, e também que os resultados experimentais só podem ser inteiramente compreendidos por uma ciência da quantidade e não da qualidade. Bacon tinha procurado descrever a forma de uma ciência desse tipo e a lógica que a governaria, e homens como Harvey e Galileu exemplificaram-na com os seus escritos e investigações. Mas Descartes, em parte devido às suas preocupações epistemológicas, introduziu com uma clareza sem precedentes a ideia de que existem leis físicas fundamentais tão gerais que tudo podem explicar, leis essas que são ao mesmo tempo tão abstractas que só podem ser captadas pela reflexão a priori e não pela experimentação. Enunciou essas leis nos seus Princípios de Filosofia (1644), mostrando quer a sua dependência dedutiva da metafísica quer o seu poder para gerar explicações abrangentes. A maior parte do que está contido nos Princípios foi influenciado pelo que Descartes percebera dos trabalhos de Galileu (cujo ataque generalizado à física aristotélica, os Diálogos dos Dois Principais Sistemas do Mundo, foi publicado de 1625 a 1629). Porém, Descartes terá sido o primeiro a destacar a lei da inércia. Esta lei diz que um corpo continua em movimento em linha recta até que algo o faça parar, afrouxar ou mudar de trajectória. A lei faz do movimento um facto básico do universo físico, facto esse que em certos casos não carece de qualquer explicação ou sequer a permite. Isto inverte a física tradicional, que postulara um “motor” para cada movimento, partindo do princípio de que o movimento enquanto tal exigia uma explicação. Ao aceitar a lei da inércia, e também ao colocá-la no coração do que considerava ser um sistema rigoroso e axiomático, Descartes alterou o carácter da ciência física e preparou o caminho para Newton.
Por maior que tenha sido a sua contribuição para a ciência, o certo é que Descartes atribuiu um papel secundário à experiência científica, e um papel demasiado elevado à especulação metafísica, o que hoje seria dificilmente aceitável. O seu desejo foi o de deduzir a natureza de todo o universo da natureza de Deus, numa dedução em que cada passo se apoia no seu antecessor numa cadeia inquebrável de raciocínio “geométrico”. Todas as coisas deviam explicar-se pela matemática, quer em termos de configuração quer em termos numéricos, visto que a matemática nos dá a mais completa catalogação das “percepções claras e distintas” de que podemos ter esperança de vir a alcançar. Nenhuma explicação rival pode, portanto, competir com ela. Qualquer ciência que parta dos meros dados dos sentidos produzirá forçosamente conclusões inferiores a uma ciência que comece com princípios abstractos (abstractos ao ponto de o seu poder persuasivo ser apenas apreensível pela razão). Só com os Principia de Newton (1687) é que foi definitivamente estabelecido que o método geométrico não pode provar as proposições da física, e foi só por intermédio de uma nova, e até aí insuspeitada aliança entre raciocínio geométrico e método experimental que puderam ser produzidos progressos importantes. É justo dizer, contudo, que sem Descartes a física de Newton não teria sido possível, e que, uma vez que a física de Descartes é filha da sua filosofia, temos mais uma razão para pensar que a filosofia cartesiana marca o nascimento de muito daquilo que reconhecemos como tipicamente “moderno” no interior do espírito da investigação científica.»
Roger Scruton («Breve História da Filosofia Moderna: De Descartes a Wittgenstein»).
«Ensina-se nas escolas que a ciência é
uma só e a ciência clássica não foi mais do que precursora da moderna. Ao
ensinar-se esta maneira de ver – à qual têm sido dedicados laboriosos e
notáveis estudos, como La Science dans l’antiquité,
de Abel Rey – confundem-se as concepções da ciência clássica com as utilizações
que delas faz a ciência moderna, sem se atender à adulteração que no caminho se
interpõe. A adulteração consiste, de modo geral e constante, em trocar a
biologia, em que se espelha a ciência clássica, pela mecânica, em que se
estrutura a ciência moderna, em trocar o animal
vivo, que é o mundo dos clássicos, pela natureza
morta, que é o mundo dos modernos.
Mais próxima da ciência moderna está a
ciência ocultista: o domínio mecanicista dos corpos que nos rodeiam é equivalente
ao domínio mágico das forças da natureza.
O que há de comum às diversas ciências é
serem elas ciências do mundo sensível. Os conhecimentos que seleccionam e
ordenam são, portanto, os obtidos na sensação.
À ciência moderna aqui se levantam os
primeiros problemas que, por intransponíveis, vão marcar de sucessivas aporias
todo o seu desenvolvimento.
Ordenando-se ela em vista do “domínio
dos corpos que nos rodeiam”, procura, não o conhecimento desinteressado da
natureza, mas o conhecimento que lhe dê o poder sobre a natureza. Como, depois,
o domínio que tal poder lhe trará é para pôr “os corpos” ao serviço dos homens,
a ciência tem de se permitir, como de facto se permite, exercer sobre a
natureza uma violência a que não reconhece limites e pode levar até à “transformação
do mundo”, finalidade que a generalidade dos homens, integrados na cultura
dominante, já aprendeu a desejar.
Para se autorizar o alcance de tal
finalidade, também do seu fundador recebeu a ciência moderna a tese da irrealidade
do mundo sensível. Começou Descartes por deduzir, do cogito, a existência. Mas
o cogito, ou pensamento subjectivo
ou, na expressão de José Marinho, “o pequeno pensamento com que pensamos”, é claramente insuficiente, como o próprio Descartes virá a reconhecer nas suas “meditações
metafísicas”, para atribuir, apenas assegurar, existência e realidade. Se,
antes de se deduzir do cogito, nenhuma
garantia oferece a existência quanto a si mesma, quanto à dúvida sobre a sua
realidade, como não se pôs também em dúvida o mesmo cogito? E onde está a necessidade, quer dizer, o nexo intrínseco, na
transferência da realidade do pensamento subjectivo para o pensamento objectivo
ou, empregando de novo a expressão de José Marinho, do pensamento do homem para
o pensamento no homem?
De qualquer modo, e isso é quanto basta para a ciência fazer o seu caminho, a existência do mundo sensível vir-lhe-á da existência do cogito, vir-lhe-á do pensamento do homem. Assim como dá realidade, assim o pensamento do homem retira realidade. Por si mesmo, em si mesmo, o mundo sensível é irreal. Descartes nunca falará dele sem advertir: “(...) se acaso existe”.
Estabelecida pois a irrealidade do mundo sensível, mera fantasmagoria ou fábula, e se a tese vai marcar o espiritualismo da filosofia moderna, desde logo sistematizado por Descartes e depois mais ou menos diversamente desenvolvido no ideísmo inglês e no idealismo alemão, então nada impede que a esse mundo sensível a ciência o violente, o viole, o transforme e o destrua. Transformar o mundo é transformar uma fantasmagoria noutra fantasmagoria.
O problema, intransponível e ainda
decisivo, logo se levanta. Se toda a ciência é ciência do mundo sensível, se os
conhecimentos científicos são, por conseguinte, os obtidos na sensação, como
atribuir valor de conhecimento à sensação, como atribuir valor do conhecimento
à sensação se se recusa realidade ao que é sensível? Que garantia de verdade
oferece a ciência, garantia da mais simples verdade que é a adequação do
conhecimento à realidade que se diz conhecer?
Note-se, antes de prosseguirmos, que uma subtil distinção afasta, aqui, a ciência moderna da ciência ocultista, e uma abissal distinção a separa da ciência clássica. Na primeira distinção, a ciência moderna elimina o mundo sensível enquanto a ciência ocultista elimina a vida sensitiva. Na segunda, a ciência clássica combina, muito naturalmente, a afirmação da realidade do mundo sensível com “o valor do conhecimento insofismável” que, na expressão de Leonardo Coimbra, atribui à sensação.»
Orlando Vitorino («As Teses da Filosofia Portuguesa»).
«No que respeita àquelas coisas que consideramos como tendo alguma existência, necessário é que as examinemos aqui uma após outra, a fim de distinguir o que é obscuro e o que é evidente em a noção que temos de cada uma. Quando concebemos a substância, concebemos somente uma coisa que existe de tal maneira que só tem necessidade de si própria para existir. Mas pode haver obscuridade no que toca à explicação desta frase: só ter necessidade de si próprio. Porque, falando com propriedade, só Deus é isso, e não há nenhuma coisa criada que possa existir, um só momento, sem ser sustentada e conservada pelo seu poder. Por isso há razão para dizer na Escola que o nome de substância não é “unívoco” aos olhos de Deus e das criaturas, isto é, que não há nenhuma significação desta palavra que concebamos distintamente, que convenha a ele e a elas. Todavia, porque, entre as coisas criadas, algumas são de tal natureza que não podem existir sem outras, distinguimo-las daquelas que só têm necessidade do concurso ordinário de Deus, chamando então, a estas, substâncias, e, àquelas, qualidades ou atributos das substâncias.
(...) A noção que assim temos de substância criada refere-se da mesma maneira a todas, isto é, tanto às que são imateriais como às que são materiais ou corpóreas, porque para compreender o que são substâncias, basta tão só que vejamos que podem existir sem o auxílio de qualquer outra coisa criada. Mas quando é questão de saber se algumas dessas substâncias existe verdadeiramente, isto é, se está presente no mundo, digo que não é suficiente que exista dessa maneira para que nós a apercebamos. Porque isto, só por si, nada nos faz descobrir que excite algum conhecimento particular no nosso pensamento. É necessário, além disso, que tenha alguns atributos que possamos notar; e não há nenhum que não seja suficiente para este efeito, porque uma das noções comuns é que o nada não pode ter nenhuns atributos, nem propriedades ou qualidades. Por esta razão é que logo que encontramos algum, temos motivo para concluir que é o atributo de alguma substância, e que tal substância existe.
(...) Embora cada atributo seja suficiente para fazer conhecer a substância há, no entanto, um em cada uma, que constitui a sua natureza e a sua essência e de que todos os outros dependem. Assim, a extensão em comprimento, largura e altura, constitui a natureza da substância corporal e o pensamento constitui a natureza da substância que pensa. Com efeito, tudo quanto pode atribuir-se ao corpo, pressupõe a extensão e não passa de dependência do que é extenso. Igualmente, todas as propriedades que encontramos na coisa pensante, limitam-se a serem diferentes maneiras de pensar. Assim não poderíamos conceber, por exemplo, uma figura, sem ser uma coisa extensa, nem movimento sem um espaço que é extenso; assim a imaginação, o sentimento e a vontade dependem de tal maneira da coisa pensante que não os podemos conceber sem ela. Podemos, pelo contrário, conceber a extensão sem figura ou sem movimento e a coisa pensante sem imaginação ou sem sentimento, e assim por diante.
(...) Podemos, portanto, ter duas noções ou ideias claras e distintas, uma de uma substância criada que pensa, e outra de uma substância extensa, desde que separemos, cuidadosamente, todos os atributos do pensamento dos atributos da extensão. Também nos é possível possuir ideia clara e distinta de uma substância incriada que pensa e que é independente, isto é, de um Deus, desde que não pensemos que tal ideia represente tudo o que nele é, e que a isso não misturemos nenhuma ficção do nosso entendimento: na condição de atendermos simplesmente ao que verdadeiramente está compreendido em a noção distinta que dele temos e sabemos pertencer à natureza de um Ser sumamente perfeito. Na verdade, ninguém há que possa negar que tal ideia de Deus seja em nós, pois não há razão para acreditar que o entendimento humano não possa ter nenhum conhecimento da Divindade.»
René Descartes («Princípios da Filosofia»).
«Sempre que eu disse que nos víamos forçados a transpor os limites da antiguidade e da modernidade, procurei acrescentar que os superávamos na medida em que os conservávamos. O espírito, pela sua própria essência, é, simultaneamente, o mais cruel e o mais brando e generoso. O espírito, para viver, necessita de assassinar o seu próprio passado, negá-lo, mas não pode fazer isto sem, ao mesmo tempo, ressuscitar o que mata, mantê-lo vivo no seu interior. Se o matasse de uma vez para sempre, não poderia continuar a negá-lo, e porque a negá-lo, superá-lo. Se o nosso pensamento não repensasse o de Descartes, e Descartes não repensasse o de Aristóteles, o nosso pensamento seria primitivo – teríamos que voltar a começar e não seria um herdeiro. Superar é herdar e acrescentar. Quando digo que precisamos de conceitos novos refiro-me ao que temos que acrescentar – os velhos perduram, mas com um carácter subalterno. Se nós descobrimos um novo modo de ser mais fundamental, é evidente que necessitamos de um conceito do ser, desconhecido antes mas, simultaneamente, este nosso conceito novíssimo tem a obrigação de explicar os antigos, demonstrar a porção de verdade que lhes corresponde.»
Ortega y Gasset («O que é a Filosofia?»).
A dúvida cartesiana, o primado teórico da consciência e o Eu como gerifalte
Longos anos de experiência docente ensinaram-me que é muito difícil para os nossos povos mediterrânicos – e não por causalidade – considerar o carácter peculiar, entre todas as restantes coisas do Universo, que constitui o pensamento e a subjectividade. Pelo contrário, aos homens do Norte é-lhes relativamente fácil e óbvio. E como a ideia da subjectividade é, conforme eu já disse, o princípio básico de toda a Idade Moderna, convém deixar de passagem insinuado que a sua incompreensão é uma das razões pelos quais os povos mediterrânicos não foram nunca plenamente modernos. Cada época é como um clima onde predominam certos princípios inspiradores e organizadores da vida; quando um povo não se coaduna com esse clima, desinteressa-se da vida, como uma planta em atmosfera adversa se reduz a uma vita minima, ou, empregando um termo desportivo, perde «forma». Isto aconteceu durante a chamada Idade Moderna ao povo espanhol. Era o moderno um tipo de vida que não lhe interessava, que não se harmonizava com ele. Contra isto não há maneira de lutar; somente há que esperar. Mas imaginem que essa ideia da subjectividade, raiz da modernidade, fosse superada – que outra ideia mais profunda e firme a invalidasse total ou parcialmente. Isto quereria dizer que começava um novo clima – uma nova época. E como esta nova época significa uma contradição da anterior, da modernidade, os povos maltratados durante o tempo moderno teriam grandes probabilidades de ressurgir no tempo novo. A Espanha acaso acordaria outra vez plenamente para a vida e para a história. Que tal se um dos resultados deste nosso curso fosse convencer-nos de que semelhante imaginação é já um facto – de que a ideia da subjectividade está superada por outra –, de que a modernidade – radicalmente – se realizou?
Mas a ideia da subjectividade, da primazia da mente ou consciência como facto primário do Universo é tão vasta, tão firme, tão sólida que não podemos ter ilusões de a superar facilmente; pelo contrário, temos que penetrar nela, compreendê-la e dominá-la por completo. Sem isto, não poderíamos nem tentar superá-la. Em história toda a superação implica uma assimilação: tem que engolir-se o que se vai superar, levar dentro de nós precisamente o que queremos abandonar. Na vida do espírito somente se supera o que se conserva – como o terceiro degrau supera os dois primeiros porque os conserva sob ele. Se estes dois desaparecessem, o terceiro degrau passaria a não ser senão o primeiro. Não há outro modo para ser mais que moderno que tê-lo sido profundamente. (Por isso os seminários eclesiásticos espanhóis não conseguiram superar as ideias modernas, porque não quiseram realmente aceitá-las, mas obstinadamente deixaram-nas de fora para sempre, sem as digerir nem assimilar). Ao contrário do que acontece na vida dos corpos, na vida do espírito as ideias novas, as ideias filhas levam no ventre suas mães.
Mas voltemos ao dado radical que é o pensamento.
A dúvida metódica, a decisão de duvidar
de quanto tenha um sentido inteligível duvidar, não foi em Descartes uma
ocorrência, como o é a sua fórmula inicial sobre o carácter indubitável da
dúvida. A resolução da dúvida universal é somente o anverso ou instrumento de
outra resolução mais positiva: a de não admitir como conteúdo da ciência senão aquilo
que podemos provar. Pois bem, ciência, teoria, não é senão a transcrição da
realidade num sistema de proposições provadas. A dúvida metódica não é, pois,
uma aventura da filosofia: é a própria filosofia, tomando consciência da sua
própria e nativa condição. Toda a prova é prova de resistência – e a teoria é
prova, prova da resistência que uma proposição oferece à dúvida. Sem duvidar
não há provar, não há saber.
Pois bem, esta dúvida metódica levou
historicamente, como hoje nos leva a nós, ao enorme achado de que para o
conhecimento não há mais dado radical senão o próprio pensamento. De nenhuma
outra coisa se pode dizer que basta que eu a pense para que exista. Não existem
a quimera e o centauro porque eu me
comprazo em imaginá-los – como não existe este teatro porque eu o vejo. Pelo contrário, basta que eu pense que penso isto
ou outra coisa para que este pensar exista. Tem, pois, como privilégio o pensar
a capacidade de dar-se o ser, de ser um dado para si mesmo, ou, dito por outras
palavras, em todas as coisas restantes é diferente o seu existir e o que eu as
pense – por isso são sempre problema e não um dado. Mas para que exista um
pensamento meu basta que eu pense que o penso. Aqui pensar e existir são a
mesma coisa. A realidade do pensar não consiste em mais que em que eu me
aperceba dele. O ser consiste aqui neste dar-se conta, num saber-se.
Compreende-se que seja um dado radical para o saber ou conhecer o que consiste,
precisamente, em saber-se.
A classe de segurança com que podemos afirmar
que no Universo existe o pensamento ou cogitatio
é de uma qualidade incomparável com toda outra afirmação sobre existências, o
qual, uma vez descoberto, obriga a fundar nele todo o nosso conhecimento do
Universo. Para a teoria, a verdade primeira sobre o real é esta: o pensamento existe, cogitatio est. Não podemos
partir da realidade do mundo exterior: tudo que nos rodeia, os corpos todos,
inclusive o nosso, são suspeitos na sua pretensão de existir em si mesmos e com
independência do nosso pensá-los. Mas é, pelo contrário, indubitável que
existem em meu pensamento, como ideias minhas, como cogitationes. Agora manifesta-se a mente o centro e suporte de toda
a realidade. A minha mente dota de uma realidade indestrutível o que ela pensa,
se o tomo pelo que primordialmente é – se o tomo por ideia minha. Este
princípio leva a procurar um sistema de explicação de quanto há, interpretando
tudo o que aparentemente não é pensamento, não é ideia, como consistindo não
mais que em ser pensado, que em ser ideia. Este sistema é o idealismo e a
filosofia moderna é, desde Descartes, em sua raiz, idealista.
Se ao duvidar da existência independente do mundo exterior chamávamos há pouco um enorme paradoxo, a sua imediata consequência, que é converter esse mundo exterior em mero pensamento meu, será o arquiparadoxo que faz da filosofia moderna uma conscienciosa contradição da nossa crença vital. Desde Descartes, na verdade, a filosofia, ao dar já o primeiro passo, dirige-se em direcção oposta aos nossos hábitos mentais, caminha em direcção oposta à vida corrente e afasta-se dela com um movimento uniformemente acelerado, até ao ponto de que em Leibniz, em Kant, em Fichte ou em Hegel chega a ser filosofia o mundo visto do avesso, uma magnífica doutrina antinatural que não pode entender-se sem prévia iniciação, doutrina de iniciados, sabedoria secreta, esoterismo. O pensamento engoliu o mundo: as coisas tornaram-se meras ideias. No escrito a que antes eu me referia, Heine pergunta à sua amiga: «Senhora, tem uma ideia do que é uma ideia? Porque ontem eu perguntei ao meu cocheiro o que são as ideias e ele respondeu-me: as ideias..., as ideias, pois são as coisas que se vão metendo na nossa cabeça». O cocheiro de Heine conduz durante três séculos – toda a plena Idade Moderna – a esplêndida carroça barroca da filosofia idealista. A cultura vigente caminha ainda nesse veículo e não tem havido maneira de sair dele com honestidade intelectual. Os que o tentaram não saíram dele: simplesmente se atiraram pela janela e partiram a cabeça – a cabeça do cocheiro de Heine onde as coisas se tinham metido.
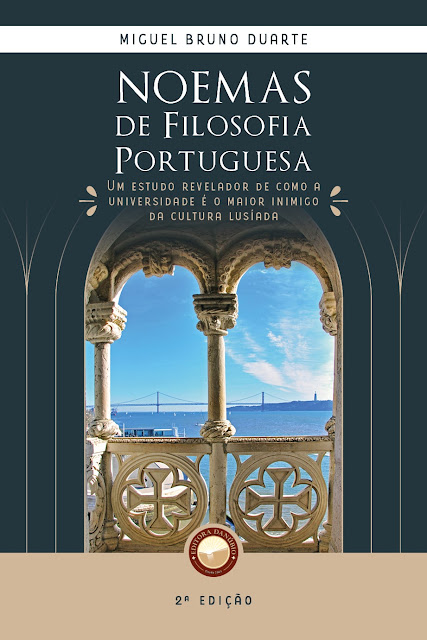 |
| Ver aqui |
A
superioridade do idealismo procede de ter descoberto uma coisa cujo modo de ser
é radicalmente diferente do que possuem as restantes coisas. Nenhuma outra
coisa do Universo, mesmo supondo que as haja, consiste fundamentalmente em ser
para si, num dar-se conta de si mesma. Nem as cores, nem os corpos, nem os
átomos, nenhuma matéria, portanto; o ser da cor é branquear, verdecer, azular,
mas não ser para si branco ou verde ou azul. O corpo é gravidade, peso – mas
não é pesar-se a si mesmo. Tão-pouco a ideia platónica consiste em aperceber-se
de si mesma: a ideia do bom ou do igual não sabe o que é bondade ou igualdade.
Tão-pouco a forma aristotélica consiste nesse saber-se e tão-pouco o Deus de
Aristóteles – apesar da sua definição, como espero veremos – nem tão-pouco o logos de Filón e Plotino e S. João
Evangelista, nem tão-pouco a alma de S. Tomás de Aquino. Trata-se, na verdade,
da noção mais peculiar à modernidade.
Se se me entende cum grano salis direi que o modo de ser de todas essas coisas longe de consistir em ser para si ou saber-se a si mesmas, consiste antes em todo o contrário; em ser para outro. O vermelho é vermelho para alguém que o vê, e a bondade platónica, a bondade perfeita, é tal para quem seja capaz de pensá-la. Por isso o próprio mundo antigo acabou, nos neoplatónicos de Alexandria, por buscar aos objectos ideais de Platão alguém para quem fossem ou tivessem ser, e pô-los com hesitação, confusamente, como conteúdos da mente divina. O mundo antigo na sua totalidade só conhece um modo de ser que consiste em exteriorizar-se, portanto em abrir-se ou ostentar-se, em ser para fora. Daqui que ao achado do ser, isto é, à verdade, chamassem «descobrimento» – ἀλήθεια, manifestação, desnudamento. Mas o pensamento cartesiano consiste, opostamente, em ser para si, em dar-se conta de si mesmo, portanto, em ser para dentro de si próprio, em reflectir-se em si, em meter-se em si mesmo. Frente ao ser para fora, ostentatório, exterior, que conheciam os antigos, ergue-se este modo de ser constituído essencialmente em ser interior a si, em ser pura intimidade, reflexividade. Para uma realidade tão estranha foi preciso achar um nome novo: o vocábulo «alma» não servia, porque a alma antiga era não menos exterioridade que o corpo, como era em Aristóteles, e foi ainda em S. Tomás de Aquino, princípio da vitalidade corporal. Por isso é grande problema para S. Tomás a definição dos anjos, que são almas sem corpo, quando a definição aristotélica de alma inclui a vitalidade corporal.
Mas a cogitatio não tem que ver com o corpo. O meu corpo é, além do mais, somente uma ideia que a minha mente tem. Não está a alma em ou com o corpo, mas a ideia corpo dentro da minha mente, dentro da minha alma. Se, além disso, acontece que o corpo é uma realidade fora de mim, uma realidade externa, efectivamente material ou não ideal – quer dizer que alma e corpo, mente e matéria não têm nada que ver entre si, não podem tocar-se nem entrar em relação directa. Pela primeira vez em Descartes o mundo material e o espiritual separam-se pela sua própria essência – o ser como exterioridade e o ser como intimidade são, sem dúvida, definidas como incompatíveis. Não é possível um antagonismo maior com a filosofia antiga. Para Platão, como para Aristóteles, a matéria e o que chamavam espírito (para nós, netos de Descartes, um pseudo-espírito) eram definidos como se define a direita e a esquerda, o anverso e o reverso: a matéria era o que recebe o espírito e o espírito era o que informa a matéria; define-se, pois, um para o outro e não como o moderno faz, que define um contra o outro, pela exclusão do outro.
O nome que depois de Descartes se dá ao pensamento como ser para si, como dar-se conta de si, é... consciência ou conciência. Não alma, ánima, ψυχή – que significa ar, sopro, porque anima o corpo, insufla-lhe vida, move-o como o sopro marinho impele a vela curvando-a –, mas consciência, isto é, aperceber-se de si. Neste termo, aparece à intempérie o atributo constituinte do pensamento: que é saber-se, ter-se a si mesmo, reflectir-se, entrar em si, ser intimidade.
A consciência é reflexividade, é intimidade e não é senão isso. Quando dizemos «eu», expressamos o mesmo: ponho o meu ser com somente referir-me a ele, isto é, com somente referir-me a mim. Sou eu na medida em que volto sobre mim, em que me refugio no próprio ser – não saindo fora, mas, pelo contrário, num perpétuo movimento de regresso. Por isso, involuntariamente, ao dizer eu, voltamos o dedo indicador para o nosso peito, simbolizando nesta pantomima visível a nossa invisível essência que retorna, reflexiva. Por certo que os estóicos, de ideação sempre materialista, viam nesse gesto uma prova de que a alma principal do homem, o eu, habitava no esterno. O eu é o gerifalte – e não consiste em mais que nessa inflexão do voo para dentro de si; esse pássaro que, deixando o firmamento e o espaço, anula com o seu voo o espaço refugiando-se a si mesmo, internando-se a si mesmo – asa que é ao mesmo tempo o seu próprio ar –; diríamos um voar que é des-voar, desfazer o voo natural. Descobrir tão estranha realidade como a consciência, não implica voltar-se de costas para a vida, não é tomar uma atitude perfeitamente oposta à que, ao viver, nos é natural? Não é o natural viver para o mundo em volta, crer na sua realidade, apoiar-se na magnífica circunferência do horizonte como num aro inalterável que nos mantém a flutuar sobre a existência? Como chega o homem a esse descobrimento, como verifica essa antinatural torsão e se volta para si e, ao voltar-se, encontra a sua intimidade, cai na conta de que não é senão isso, reflexividade, intimidade?
Mas há algo mais grave: se a consciência
é intimidade, se é ver-se e ter-se a si próprio – será convívio exclusivo
consigo mesmo. Descartes, consequente, embora sem última claridade, corta as
amarras que nos unem e misturam com o mundo, com os corpos, com os outros
homens, faz de cada mente um recinto. Mas não sublinha o que isto significa:
ser recinto não quer dizer somente que nada exterior pode penetrar na alma, que
o mundo não nos envia a sua realidade enriquecendo-nos com ela, mas, ao mesmo
tempo, significa o inverso: que a mente só trata consigo mesma, que não pode
sair de si mesma, que a consciência não é só recinto, mas é reclusão. Portanto,
que ao encontrar o verdadeiro ser do nosso eu constatamos que ficámos sós no
Universo, que cada eu é, na sua própria essência, solidão, solidão radical.
Com isso pusemos o pé em «terra incógnita».
(In Ortega y Gasset, O que é a Filosofia?, Biblioteca Editores Independentes, 2007, pp. 114-120).
 |
| Gerifalte |


.png)





.jpg)

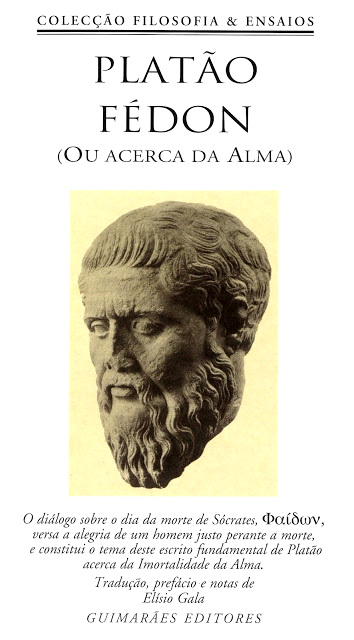






















Nenhum comentário:
Postar um comentário