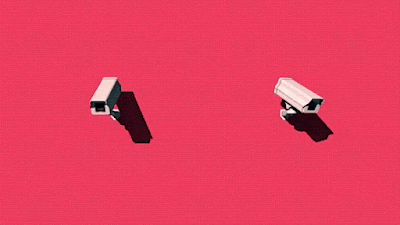« (…) O poder autêntico, o poder pelo qual temos de lutar noite e dia, não é o poder sobre as coisas, mas sobre os homens. - Calou-se, voltando a assumir por instantes o semblante de mestre-escola a interrogar um aluno promissor.
- Como é que um homem afirma o seu poder sobre outro, Winston?
Winston reflectiu.
- Fazendo-o sofrer - disse.
- Exactamente. Fazendo-o sofrer. A obediência não basta. A menos que sofra, como posso eu ter a certeza de que obedeceu à minha vontade e não à dele? O poder consiste em infligir dor e humilhação. O poder consiste em desagregar a mente humana para a reconstituir sob uma forma nova, sob a forma que entendermos dar-lhe. Começas agora a ver que tipo de mundo estamos a criar? Precisamente o oposto das estúpidas utopias hedonistas que os antigos reformadores imaginaram. Um mundo de medo, traição e tortura, mundo onde se pisa e se é pisado, mundo que se tornará mais impiedoso, e não menos, à medida que se for aperfeiçoando. O progresso, neste nosso mundo, será um progresso no sentido de cada vez maior sofrimento. As antigas civilizações afirmavam basear-se no amor ou na justiça. A nossa baseia-se no ódio. Não haverá lugar para outras emoções além do medo, da raiva, da humilhação e do triunfo. Tudo o mais será por nós destruído. Tudo! Já hoje estamos a liquidar hábitos mentais que sobreviveram dos tempos anteriores à Revolução. Cortámos os laços entre filhos e pais, entre homem e homem, entre homem e mulher. Já ninguém se atreve a confiar na própria mulher, no filho ou nos amigos. E no futuro suprimiremos esposas e amigos. Os filhos serão tirados às mães à nascença, como se tiram os ovos às galinhas. O instinto sexual também será suprimido. A procriação transformar-se-á numa formalidade anual, como a renovação dos cartões de racionamento. Aboliremos o orgasmo. Os neurologistas já estão a estudar o assunto. Não restará lealdade, senão a lealdade ao Partido. Nem amor, senão o amor ao Grande Irmão. Nem riso, senão o riso da vitória sobre um inimigo aniquilado. Nem arte, literatura ou ciência. Desaparecerá a distinção entre beleza e fealdade. Não haverá curiosidade, nem o gozo de viver. Todos os prazeres que possam fazer concorrência ao Partido serão destruídos. Mas haverá sempre (nunca te esqueças disto, Winston), haverá sempre a embriaguez do poder, cada vez mais intensa, cada vez mais subtil. Sempre, a todo o momento, a emoção da vitória, a sensação de esmagar um inimigo indefeso. Se queres uma imagem do futuro, pensa numa bota a pisar um rosto humano. Para sempre.
Fez uma pausa, como se esperasse de Winston alguma reacção. Winston tentava de novo enterrar-se mais na cama. Não conseguia dizer nada, tinha o coração gelado. O'Brien prosseguiu:
- E não te esqueças de que isto é para sempre. Há-de lá estar sempre esse rosto pisado. O herege, o inimigo da sociedade, estará sempre presente, para ser de novo derrotado e humilhado. Tudo aquilo por que passaste desde que caíste nas nossas mãos, tudo isso vai continuar, vai tornar-se ainda pior. A vigilância policial, as traições, as prisões, as execuções e os desaparecimentos nunca acabarão. Será um mundo tanto de terror como de triunfo. Quanto mais poderoso o Partido, menos tolerante há-de ser; quanto mais ténue a oposição, mais cerrado o despotismo.
A peça de teatro que para ti representei durante sete anos há-de ser representada vezes sem conta, geração após geração, sob formas cada vez mais subtis. Havemos de ter sempre o herege aqui à nossa mercê, gritando de dor, arrasado, desprezível... e por fim completamente arrependido, salvo de si próprio, rojando-se aos nossos pés de livre vontade. É esse o mundo que estamos a preparar, Winston. Um mundo de vitórias sobre vitórias, triunfos sobre triunfos: assédio constante, constante, constante, ao âmago do poder. Vejo que começas a perceber como será esse mundo. Mas por último não te limitarás a perceber. Aceitá-lo-ás, saudá-lo-ás, passarás a fazer parte dele.
Winston recompusera-se o suficiente para conseguir falar:
- Não podem! - disse debilmente.
- Que queres dizer com esse comentário, Winston?
- Não podem criar um mundo como o que acabas de descrever. É um sonho. É impossível.
- Porquê?
- É impossível fundar uma civilização sobre o medo, o ódio e a crueldade. Nunca poderia durar.
- Porque não?
- Não teria vitalidade. Desintegrar-se-ia. Suicidar-se-ia.
- Que disparate. Estás convencido de que o ódio é mais esgotante do que o amor. Porque havia de ser assim? E se fosse, que diferença faria? Imagina só que decidimos consumir-nos mais depressa. Imagina que aceleramos o ritmo da vida humana a pontos de os homens ficarem senis aos trinta anos. Mesmo isso, que diferença faria? Não percebes que a morte do indivíduo não é a morte? O Partido é imortal.
Como de costume, aquela voz reduziria Winston à impotência. Além disso, ele receava que, ao persistir naquela discordância, O'Brien tornasse a puxar a alavanca. Contudo, não conseguiu ficar calado. Debilmente, sem argumentos, sem nada a que se apoiasse senão o horror indistinto pelo que O'Brien acabava de dizer, voltou ao ataque.
- Não sei... não me interessa. Vocês hão-de falhar. Alguma coisa irá acontecer-vos. A vida há-de vencer-vos.
- Nós controlamos a vida, Winston, a todos os níveis. Tu imaginas que existe uma coisa chamada natureza humana que vai ficar indignada com o que fazemos, virando-se contra nós. Mas nós criamos a natureza humana. Os homens são infinitamente maleáveis. Se voltaste à tua antiga ideia de que os proletários ou os escravos se hão-de erguer para nos derrubar, tira daí o sentido. Eles estão impotentes, como animais. A humanidade é o Partido. Os outros situam-se fora... são irrelevantes.
- Não me interessa. Hão-de acabar por vos vencer. Tarde ou cedo vão ver o que vocês realmente são e hão-de acabar convosco.
- Vês algum indício de que isso possa acontecer? Ou razão para que aconteça?
- Não. Acredito que vai ser assim. Sei que vocês vão fracassar. Qualquer coisa no Universo… não sei, um espírito, um princípio… invencível.
- Acreditas em Deus, Winston?
- Não.
Então qual é esse princípio que nos derrotará?
- Não sei. O espírito do Homem.
- E tu consideras-te um homem?
- Sim.
Se és homem, Winston, serás o último. A tua raça extinguiu-se; somos nós os herdeiros. Já percebeste que estás sozinho? Fora da História, inexistente...».
George Orwell («1984»).
GEORGE ORWELL
1984
OU A VERDADE AO ALCANCE DAS MÃOS
Este livro tem por fim apresentar ao leitor o romance de Winston Smith. É um romance, exactamente porque narra a mutação sentimental de um carácter humano; mas é também uma tragédia, porque descreve a frustração da liberdade em luta inglória com o destino. Se o leitor simpatiza, logo às primeiras páginas, com o protagonista, a breve trecho com o mesmo se identifica, para sofrer com ele os efeitos fascinantes de uma obra de arte.
A narrativa desenrola-se num ambiente de ficção, quer dizer, de artifício estranho à realidade, que lembra por vezes o processo clássico das utopias e das ucronias. Não é, porém, este livro uma utopia, porque o autor determina o local da acção: a cidade de Londres. Não é também uma ucronia, porque o autor define a data dos acontecimentos: o ano de 1984. O artifício é tal que quase parece uma antecipação da sociedade futura. Interroga-se, perplexo, o leitor sobre se os postulados erróneos da sociologia contemporânea hão-de conduzir os homens e os povos àquela alienação mental que o romancista descreve como termo duma dedução necessária, e nessa perplexidade o leitor pergunta se há que rever, discutir e desprezar os preconceitos e os sofismas que há quase dois séculos militam contra a liberdade.
Ante o poderio das máquinas, dos aparelhos e dos utensílios, que parece aumentar indefinidamente de século para século, a consciência humana vê-se inerte e hesita agora, sabendo que os mesmos meios podem igualmente servir contrários fins. Num estulto encómio perante os inventos, confundindo técnica e ciência, confundindo ciência e metafísica, em vez de distinguir a gradação, difundiram os homens cultos, e até os doutos, uma série de equívocos de que tardiamente se libertam com melancólica apologia. Os esperados benefícios da técnica, a que chamavam progresso material, surgem e geram novos malefícios, que não tardam a revelar-se, e contra os quais ainda não há esperança de protecção metafísica, científica e técnica. A esta sucessiva deslocação do sofrimento humano, a esta agonia sem fim, clamante como a verdade, nada vale opor a mentira artificial de um narcótico, de um ópio, de uma ilusão.
A invenção da imprensa dá-nos um exemplo típico. Uma indústria que parecia de bem para a liberdade do pensamento humano e para a difusão dos valores culturais transforma-se em arma de calúnia, de injúria e de insulto nas épocas mais conturbadas da opinião pública, ou subverte a ordem dos valores sociais, adormecendo a mentalidade do vulgo por habilidosas campanhas publicitárias. Tão certo é que os mesmos meios de expressão do pensamento podem servir contrários fins de lealdade ou de mentira.
A mecanização, que parecia libertar o trabalho humano daquele excesso de fadiga que vai até ao extremo da dor, substituiu o flagelo do cansaço pelo do aborrecimento. O homem, que de bom grado abraça o trabalho quando este corresponde a uma expressão da sua personalidade, e que vence a fadiga com a alternação rítmica de períodos de esforço e de períodos de repouso, olha com aborrecimento e com desânimo a laboração contínua de uma empresa em que não está interessado. Trabalhar com a convicção de que o trabalho será, afinal, inútil; que o trabalho não está ordenado a um fim superior; que o trabalho não será produtivo - é tormento que não desampara a consciência esclarecida. Enquanto o desgaste muscular pode ser compensado por providências conhecidas pelos higienistas, o aborrecimento, estudado pelos psicanalistas nas suas manifestações nervosas, oprime e deprime os seres humanos, com efeitos rebeldes a várias formas de terapêutica.
A mecanização do trabalho impossibilita a organização, sabido que o mecânico se opõe ao orgânico, como a justaposição se opõe à compenetração, como o exterior se opõe ao interior. A falsa organização, ou a falsa corporação das actividades sociais, torna fictícia a coordenação mental da monarquia, remota a autoridade e explica-se por delegação descendente dos mandos que impessoalizam o Poder até à máxima gravidade. Entre os elos da corrente não passam as iniciativas pessoais, aquelas que dariam ao trabalho o colorido jubiloso da criação. A atitude desumana de cada chefe para com os seus subordinados imediatos, dentro de limitados ambientes de trabalho, exprime-se em várias formas de frieza impersonalista, contra a qual não há apelo no regulamento aprovado pelos superiores desconhecidos.
Não será, pois, de estranhar que em vez de optimistas utopias e ucronias, a ficção hodierna nos ministre avisos de antecipação e sinais de alarme, já que a humanidade tanto mais se aproxima do abismo quanto mais pretende revogar as leis naturais e as leis divinas. A lição a extrair dos livros de ficção como este de George Orwell é de ordem problemática, e todo o problema consiste na dificuldade de restabelecer incessantemente a verdadeira hierarquia dos poderes humanos, segundo a qual a técnica se subordina à ciência e a ciência à metafísica. A dificuldade será tanto maior quanto mais veloz for a transformação social, porque hão-de sempre parecer obsoletos os pensamentos hierarquizados. Aquele problema é, intransferível; quer dizer, há-de ser pensado por cada um de nós em cada fase variável do respectivo enunciado.
 |
| Ver aqui e aqui |
 |
| Ver aqui e aqui |
 |
| Ver aqui, aqui e aqui |
Sabemos que ao longo do século XIX os técnicos, na qualidade de especialistas, ditaram as suas exigências aos sábios, considerados homens de cultura geral; sabemos que os cientistas demitiram das suas funções os metafísicos, cujas doutrinas e disciplinas se perdiam entre expressões vagas. Clamaram pela liberdade e proclamaram a liberdade dos povos mais ansiosos de felicidade terrestre. A liberdade ficou, consequentemente, inscrita nas constituições políticas. Visto, porém, que a liberdade não é um princípio organizador, tendeu-se a fortalecer no princípio contratual o estatuto das relações humanas, esquecido ou ignorado o princípio associativo. O contrato, dependente da vontade ou da noluntade, do quero ou não quero, do aceito ou rejeito, ascendeu a modelo da vida jurídica e foi perdendo a maleabilidade comercial até atingir a rigidez escrita e impressa que parecia estruturar as instituições. Do contrato ao regulamento há como que uma metamorfose visível em vários estádios da legislação, na sucessão dos quais se acentua o predomínio do espírito contabilístico e estatístico, a ambição de medir até o imensurável. Esvaziadas, assim, da diversidade psicológica, todas as relações jurídicas haveriam de postular a igualdade entre os homens. Este esquema bilateral das vontades em contrato, ou em conflito, contaminou a cultura humanista em detrimento do princípio associativo, conciliador da fraternidade com a liberdade.
Não é possível conceber uma política independente da ética, nem uma ética independente de um sistema de filosofia. É certo que muitas vezes os escritores políticos não confessam o sistema filosófico a que se encontram necessariamente submetidos, mas o facto não vale de argumento. George Orwell apresenta-nos a caricatura da filosofia alemã na medida em que eleva ao exagero de 1984 as consequências terríveis do comunismo e do nazismo. Convém, pois, não esquecer que a filosofia alemã, através dos seus intérpretes nacionais e estrangeiros, conseguiu dominar o pensamento europeu dos séculos XIX e XX. Em Kant vemos subordinada a razão teórica à razão estética e a razão estética à razão prática, o que tem por corolário inevitável o predomínio social dos técnicos. A vontade, com o seu dualismo de potência e resistência, assume em Fichte a representação dialéctica. Karl Marx propõe o mito da luta de duas classes (mito no qual será possível converter todas as representações dinâmicas da sociedade), para descrever a evolução em termos de materialismo histórico.
Vemos a caricatura da dialéctica no esforço dos dicionaristas da nova língua artificial para eliminarem as gradações semânticas, para reduzirem os adjectivos a pares de opostos, para exprimirem a contrariedade mediante o prefixo de negação. Vemos a caricatura do materialismo histórico na adaptação incessante dos velhos documentos aos novos acontecimentos, para que o passado não contradiga o presente nem o futuro. Há uma parte de verdade nesta caricatura, que descreve os elementos que hão-de paralisar de vez a filosofia alemã.
Na progressiva tensão da vontade, que vai ao extremo da violência, a consciência embriaga-se com a ideia do dever, do que deve ser. A razão da violência esquece, ou ignora, a natureza da razão. Na presunção de contrariar, ou de anular, os instintos e os afectos humanos, o utopista recorre à técnica, à ciência e à metafísica; mas porque não sabe que cada uma tem diferente critério de verdade, não pode reconhecer que os efeitos imediatos não adiantam nem retardam o processo de evolução. Todo o engenho despendido no combate à astúcia individual, que se revela em imprevistos modos de desistência, fraude e resistência, não logra mais do que complicar a regulamentação, a proibição e a repressão, demonstrando assim que a complexidade está na razão inversa da normatividade. A vontade é simplista, deseja proceder segundo linhas nítidas e sóbrias; repugna-lhe por vezes respeitar as distinções da legalidade; mas a nova simplificação, que se tornou necessária, actua como catástrofe, permitindo restabelecer a vigência das leis naturais e das leis divinas.
Todas as utopias, bem analisadas, nos deixam ver que o homem não é um animal social, e que estão errados os sistemas de sociologia cujos conceitos aparecem definidos e determinados depois da abstracção da liberdade individual. A sociologia é um prolongamento da zoologia, e, se pudermos falar de sociedades animais, já não poderemos sem equívoco falar de sociedade humanas. O homem é livre, e associa-se, num plano superior ao da animalidade, acima do campo de observação e experimentação, no domínio do invisível.
Ao longo do romance de George Orwell surgem de vez em quando leves referências a uma autêntica sociedade secreta, secreta porque não tem sede, nem corpos gerentes, nem estatutos, nem registo de filiados. A lendária Fraternidade, de que todos duvidam, não é uma corporação, não tem corpo, não é natural. Nem sequer é uma ideologia que se desarticule em frases susceptíveis de sucumbirem aos golpes de dialéctica. É algo de inefável que, para além da natureza em pecado, representa a sublimidade da graça. Sendo o elemento de redenção pelo qual esperam os homens que sentem diminuída a liberdade, na esperança configura a misticidade do Evangelho.
A tese central deste livro é, pois, a de que a humanidade, enredada pelos erros da sua metafísica, da sua ciência e da sua técnica, não se salva a si própria, apesar das utopias devidas ao intelecto e à vontade dos homens superiores. A expressão trágica dessa tese está garantida apenas pelo ateísmo que convém postular nesta espécie de obras de ficção. O artifício, neste caso, é contrário à arte. Quando o leitor, interessado no romance de Winston Smith, fecha o livro para despertar de um pesadelo, logo verifica a constância dos instintos e dos afectos na natureza humana, logo vê horizontes de evolução para a glória. Todo o proveito da leitura consiste em obter a demonstração de que seria absurdo e, porque absurdo, cruel, um mundo regulado e regulamentado por homens destituídos das virtudes teologais.
A obra de ficção seria ininteligível se não contivesse suficiente analogia com a realidade. Vale ela exactamente porque nos representa em algumas personagens o paradigma desumano para que tendem as personalidades inferiores, com boa ou má consciência da sua inferioridade. O homem superior qualifica-se, como dizemos, pela plenitude das virtudes teologais. Esquecido, porém, o significado da monarquia, pluraliza-se o Poder, que desce em escala até aos agentes ínfimos, e estes, mais do que os outros, cobrem de soberba a falta de autoridade. Os subordinados que se envaidecem com as suas respectivas situações de chefes ignoram muitas vezes que chefe é aquele que pensa e não aquele que manda. Nos ambientes de trabalho são quase sempre as personalidades inferiores aquelas que mais abusam de um poder que recebem por delegação. A má consciência acusa-as, porém, de não serem livres, e perante a injustiça claramente demonstrada mal sabem defender-se, transferindo para outrem a verdadeira responsabilidade.
Aos leitores portugueses, habituados à brandura dos nossos costumes e à reacção da consciência moral contra todos os procedimentos de violência, há-de parecer estranho, longínquo e inverosímil muito do que George Orwell prevê para 1984. Não será inútil a advertência quando alguns dos espíritos mais lúcidos parecem contaminados de preconceitos e sofismas oriundos de culturas alheias. Se, fiéis às nossas tradições, conservamos a verdadeira doutrina das relações da natureza com a graça, continuaremos a ver que a liberdade humana é solidária com a existência de Deus. (Prefácio a 1984, de George Orwell, tradução portuguesa de Paulo Santa Rita. Lisboa, Editora Ulisseia, 1955, pp. 7-14).
 |
| A nova "realidade" do mundo pós-orwelliano vista pelo actual presidente da república socialista em Portugal. |
 |
| Ver aqui, aqui e aqui |