«(...) uma agitação vinda de longe, e transmitida através das diversas comunidades israelitas da Europa, uma ânsia de libertação, que lhes fazia antever para breve a realização das promessas divinas, cuja esperança é a fé de ser da nacionalidade, repercutiu-se em Portugal, e preparou o cenário para a aparição de uma das mais singulares figuras de sonhador, que a raça hebraica, aliás nelas tão fecunda, tem produzido. E foi um português, nascido no catolicismo, a criatura destinada a fornecer às crónicas judaicas a estranha lenda, que conserva ainda agora seus crentes. O ambiente meio pagão da Renascença, nos países em que foi mais intenso o culto da antiguidade, preparava os espíritos para a indiferença religiosa, quando não para a tolerância em tudo o que não afectava os interesses materiais da Igreja, que ela sobretudo tinha a peito. Roma era com certeza a terra menos intolerantemente religiosa da Cristandade. Com a paixão da arte, o desejo de saber invadia os espíritos de escol, e os doutos da época, saturados já das línguas clássicas, voltavam também para o hebraico sua atenção. Isso lhes revelou um tesouro de poesia e de especulações filosóficas, acumulado por séculos, o qual, patente só aos iniciados, e oculto pelo obstáculo da língua, a imprensa agora divulgava, e o trabalho diligente ia facultando aos estudiosos. A Cabala, principalmente, pseudo-ciência, que procurava interpretar os inúmeros criptogramas, existentes, diziam os adeptos, na Bíblia e por tal meio descortinar os mistérios do porvir, a Cabala tinha particular sedução, nesta época de imoderado gosto pelas ciências herméticas, e em Itália, Alemanha e França eram em quantidade os seus cultores. Daí resultou o maior apreço das classes ilustradas pela raça perseguida, e para esta, a consciência mais viva do seu valor, com o redobrar dos anelos que lhes são caros, e que o ínfimo dos seus membros jamais de todo abandonou.
A Portugal, embora afastado dos centros intelectuais da Renascença, onde o movimento se produzia, chegou como que uma vibração distante, que sacudiu o povo de Israel, ignorante do que a motivara. Em Lisboa aparece então um aventureiro singular, impostor e visionário, vindo de Roma, da Núbia e do remoto Oriente, não se sabe bem de onde, pequeno de corpo, escuro de face, minguado de carnes pelos jejuns, David Reubeni de nome, que se dizia enviado do monarca de uma nação judia da Arábia descendente da tribo de Ruben, para solicitar do Papa, e dos soberanos católicos, artilharia e mais armamentos para trezentos mil guerreiros, afim de expulsar os turcos da Palestina. Segundo a lenda, Clemente VII recebeu-o com pompa, e recomendou-o a D. João III, pensando, com o auxílio de Portugal, organizar uma cruzada. Se, como do silêncio dos cronistas se colige, David Reubeni não foi buscar o Rei, precedido de um estandarte em que iam bordados os dez mandamentos, nem foi em Almerim, onde estava a corte, recebido em solene audiência, o que referem os escritores hebreus, é certo que a presença dele produziu grande alvoroço entre os cristãos novos de Espanha e de Portugal, por efeito das prédicas, em que anunciava a restauração próxima do reino de Judá e a vinda do Messias. Para muitos mesmo, era ele o próprio prometido.
Com essas prédicas, ninguém tanto se exaltou como um mancebo, chamado Diogo Pires, escrivão da Casa da Suplicação, que, receoso de não alcançar as boas graças do profeta, tão inteiramente como desejava, por lhe faltar o sinal físico do judaísmo, a si próprio se circuncidou. Posto de cama pela grave operação feita por sua mão inexperiente, representava-se-lhe em sonhos ver o céu, e ouvir de vozes divinas a confirmação das crenças e esperanças, em que vivia agora unicamente embebido. Quando convalesceu, por inspiração que também teve, fugiu de Portugal e dirigiu-se à Turquia, adoptando então o nome de Salomão Malco, pelo qual ficou conhecido no judaísmo. Desde esse instante, desaparece o halo do maravilhoso de David Reubeni, e passa ao iluminado português. Em pouco tempo, a fama de um novo profeta se espalha no império, e traz a escutarem-lhe o verbo inflamado turbas de correligionários, sequiosos de terem da boca dele a data certa da chegada do Messias, que anunciava. Em 1531, Diogo Pires encontra-se em Roma onde, como o seu precursor David Reubeni, logra também as graças de Clemente VII. Com a sua eloquência e o saber da arte da Cabala, adquirido no Oriente, seduz o Pontífice, e o cristão de ontem - tanto lhe atribuem os seus entusiastas - procura converter à lei mosaica o próprio chefe do catolicismo. Ao mesmo tempo, faz predições. Anuncia uma grande inundação em Roma, que se realiza, e o tremor de terra de 1531, em Portugal. Pelo menos, assim refere a lenda que lhe diz respeito. Como era de esperar, não lhe faltaram, entre os da sua fé, invejosos e detractores. Os hebreus ortodoxos detestavam-no como ímpio, e, movendo poderosos amigos, fizeram intervir contra ele o Santo Ofício. O profeta foi preso e condenado ao fogo. Salvou-se, ao que contam, por um ardil do Papa (que se não ofendera com a tentativa de conversão, e lhe fez substituir, na hora do suplício, outro condenado) ou talvez, como pretenderam alguns crentes, por um prodígio divino. Como quer que seja, Salomão Malco, fugindo de Roma, dirigiu-se para Bolonha, Mântua e Ratisbona, onde estava a corte do Imperador, e tentou também converter Carlos V. David Reubeni acompanhava-o. Aí terminou a carreira do impostor e a do visionário. Acusados de heresia, e levados na comitiva do soberano para Mântua, o português foi condenado à pena de fogueira, que se cumpriu, tendo ele rejeitado a vida que lhe ofereciam a troco de regressar à fé católica. O companheiro passou dali para os cárceres da inquisição em Espanha.
Diogo Pires sucumbiu inacessível às dores e absorto no sonho magnífico da redenção da sua raça, em que tentara, por meio da conversão, envolver os dois super-homens da cristandade o Papa e o Imperador. Há quem pretenda que também Francisco I de França. Realidade? Invenção de espíritos ardentes? Não se saberá nunca porventura; mas a vida de Salomão Malco, verdadeira ou meramente lendária, ficará para sempre na história, como síntese das aspirações, do ousado esforço, da ânsia de viver de uma nacionalidade, que, pulverizada e dispersa, consegue ainda manter-se pela tenacidade da sua crença».
J. Lúcio de Azevedo («História dos Cristãos Novos Portugueses»).
«Na generalidade, os hebraístas portugueses, quando não foram opositores públicos à Cabala, como ocorre no De Vera Sapientia (1572), de D. Jerónimo Osório, tornearam as questões de fundo, de modo a adequar a simbólica cabálica à teologia cristã, como sucede no De Ophira (1561), de Gaspar Barreiros (falecido em 1574), sobrinho de João de Barros e notável cabalista salmanticense.
Os factores cabalísticos motivaram as ciências médicas, obedientes a uma tradição que vinha da Clavícula Salomonis, um livro pré-medieval, miscelânea de elementos gregos, árabes, judios e cristãos, que não é de um judaísmo puro. A Cabala sefardita distinguiu a praxe cabalístico-profética (baalei hasefiroth) da práxis cabálico-mágica (shimusha raba), e teúrgica, que, no fundo, se opõe à doutrina especulativa, prenhe de ideia pura, do Zohar. O facto não tira às consequências de, no norte da Europa, as comunas hebraicas terem preferido a Cabala teúrgica e mágica, menos especulativa e mais cousista, de onde a panóplia de talismãs do judaísmo asquenazi. João Bravo o Charissimus, ou Chamisso, que viveu nos finais do século XVI e começos do XVII, defendeu, no De Intentionibus Chirurgis, o tratamento das doenças por ensalmos, preconizando a eficácia das palavras na cura das doenças, o que supõe uma renovação da medicina terapêutica e da espiritualidade carismática dos primevos judio-cristãos. O sortilégio da palavra é questão antiga, e os judeus controversistas acusavam Jesus de ter violado a palavra inefável do Templo, palavra essa que lhe permitia fazer milagres. Os carismas terapêuticos (renovados pelo movimento cristão dos Pentecostais e dos Carismáticos) têm longa fundação na sabedoria do olvido e da memória, mas tal facto não obstou a que, Diogo Pereira, no livro que redigiu contra a magia das palavras, impugnasse a tese de Chamisso. Uma tese média foi preconizada por Manuel de Vale de Moura (falecido em 1650), um eborense ilustre, autor do De Incantationibus et Ensalmis (1620), que combateu a tese da superioridade do hebraico na arte de curar. Para o teólogo, deputado à Inquisição eborense, todas as línguas tinham a mesma virtude, já que a eficácia não depende das palavras em si mesmas (o que seria literalismo mágico), mas dos humores (graça) de quem as pronuncia. Moura justificava que os milagres de Jesus dependiam, não tanto da palavra, mas da graça de Cristo. Admirador de Moura, foi D. Francisco Manuel de Melo (falecido em 1666) que, não obstante, pouco sabe da Cabala hispânica, tudo tendo aprendido em Mirandola e Reuchelin. O Tratado da Ciência da Cabala (ed. póstuma, 1724) posto a circular pelos favores de António Nunes Correia, publicado para desengano da curiosidade dos simpatizantes da Cabala, é um livrinho noticioso, e sem pretensões.
(...) A década dos sinais messiânicos diz que o Messias iluminará o mundo; de Jerusalém, sairão águas vivas; as árvores darão fruto mês a mês; as cidades desoladas serão reconstruídas; Jerusalém será edificada sobre um monte de safiras; haverá paz perpétua e universal, mesmo entre os animais, como no paraíso; não haverá, nem mais choro, nem mais pranto; não haverá mais morte; enfim, o termo dos suspiros e dos gemidos virão. A profecia visa mais a prognose do mundo novo do que a nostalgia do mundo velho.
Menassé mostra-se oposto a Isaac Abravanel, que conjecturara o ano de 1503, a Salomão Malco, a Manuel Bocarro Francês (cujo prognóstico era para 1653) e aos sabetaístas, que preconizavam 1666. Os adivinhadores de datas merecem a crítica de Menassé, por desejarem exceder a capacidade humana, mas admite que, embora o homem não possa marcar a data, o tempo está próximo. O exame crónico e lógico do sonho de Daniel evidencia a derrogação das quatro monarquias materiais ou metálicas. A cabeça de ouro significa a monarquia babilónica, o peito de prata a monarquia de Ciro, o ventre de bronze o império helénico-macedónico, as pernas de ferro a monarquia turca e o império romano (Islão e Igreja, unidos para uma destruição recíproca). A quinta monarquia é Israel, a pedra sobre a qual o povo será edificado, o Messias. Israel "será senhor do mundo, com temporal, terrestre, e eterno domínio", sob o céu.
A proximidade dos sinais requer a vigília. Se o povo dorme, para que servem os sinais? Seria o mesmo que deitar vinho novo em odres velhos. Menassé aproveita as oportunidades para exorcizar os tempos e as circunstâncias. Fez o que lhe foi possível para abrir as portas da Suécia aos judeus, embora sem resultado positivo; e foi mediante a sua actuação, que a Holanda se tornou o cento irradiador de judeus para outras partes do mundo. Há um paralelismo com a vida portuguesa: os portugueses irradiam de Lisboa em busca de terras; os judeus de matriz hispânica irradiam de Amesterdão em busca da vida, nessas mesmas terras. A concorrência messiânica entre Israel e Portugal pode ler-se, em termos de simples história, na concorrência mercantil e territorial de Portugal e Holanda».
Pinharanda Gomes («A Filosofia Hebraico-Portuguesa»).
«Os mouros foram forçados a transpor o Estreito e a refugiarem-se em Marrocos. Anteriormente os judeus tinham-se em parte refugiado em Portugal, onde a administração não estava ainda arrebatada pelo ardor religioso que um pouco mais tarde a inspirou também. Não era que no povo português a fé tivesse menos calor: era que D. João III, na sua sabedoria, não concordava com o pensamento nacional. Com efeito, já nas Cortes de Évora, em 1481, as riquezas e a ostentação dos Judeus tinham sido arguidas. Mais de vinte mil famílias de israelitas espanhóis tinham buscado refúgio em Portugal, e D. João III dera-lho por oito meses, mediante imposto de oito cruzados por cabeça e pena de escravidão quando não saíssem no prazo marcado. Esta dura condição não chegou a ser cumprida; mas nos fins do reinado do Príncipe Perfeito o ardor era já tanto, que se propôs o plano de colonizar S. Tomé com os filhos dos judeus. Com a elevação de D. Manuel ao trono volta uma política de tolerância; mas o casamento do rei com a filha do rei católico determina uma mudança na política portuguesa; e, como presente de bodas, D. Manuel publica, em 1496, a ordem de expulsão de todos os judeus e mouros forros, quer naturais quer imigrados, que recusassem o baptismo. A morte e o confisco puniriam os que insistissem em não adoptar nenhuma das duas alternativas, exílio ou conversão.
Parece que na máxima parte os judeus optaram pelo segundo expediente - muito mais fácil decerto, desde que intimamente estavam decididos a burlarem-se das águas lustrais, como prova o pedido que fizeram e a concessão que se lhes deu de por vinte anos não serem devassados nas suas crenças. Esta solução perigosa, e num sentido absurda, irritou o fanatismo do povo sem trazer aos judeus a paz que desejavam. Os fiéis logo perceberam a burla; e, se primeiro os ofendiam a liberdade, a riqueza e a influência dos judeus, a tudo isso vinha agora juntar-se o espanto do sacrilégio. Sacrílegos eram esses baptismos; e permanente sacrilégio o uso dos sacramentos que, como supostos cristãos, os judeus faziam, pensando com isso melhorar a sua sorte.
Daqui principia essa terrível comédia de ignomínias e sangue, que a decisão de D. Manuel pôs em cena. As matanças de Lisboa ecoavam em todo o Reino, e a custo eram violentamente reprimidas as repetições. O ódio antigo ateava-se agora com alimento novo, e o espectáculo do sacrilégio impune enchia de legítimas indignações a alma crente do povo. Essa indignação rebenta em bárbaros morticínios que são o lado trágico da comédia em que a abjecção dos judeus representa a ignomínia. O povo, tumultuária e caprichosamente, exercia uma devassa permanente sobre as crenças dos novos cristãos; e amiúde pela mesma forma, avocava a si o direito de executor da justiça eclesiástica. Era uma Inquisição informe, que precedia o estabelecimento do tribunal da fé.
É isto o que D. João III, príncipe em cuja alma todo o fanatismo da Nação encarnara, logo compreende porque o sente; e, na viva paixão do rei por esse tribunal que conseguiu fundar contra a resistência de Roma, deve o historiador ver este o motivo íntimo. Dada a situação criada por D. Manuel, impossível como era uma solução tolerante qual seria em nossos dias, força é reconhecer que a organização de um tribunal da fé era preferível à existência anárquica desse mesmo tribunal, confiados os cargos de juízes a uma plebe fanatizada por outra plebe de frades energúmenos. Se a paixão do rei é a paixão do seu povo, devemos reconhecer que, ainda sob o ponto de vista da boa economia administrativa, ainda sob o ponto de vista da justiça e da ordem, a fundação da Inquisição era desejável.
Se tais motivos influíam nos Conselhos do monarca, o espírito particular dele ardia nesse entusiasmo de purificação, geral a toda a Espanha. Torquemada tinha em dezoito anos processado mais de cem mil pessoas; e de seis a sete mil tinham sido queimadas em efígie; e nove mil realmente queimadas em carne e osso, nos altares de Cristo - como em Cartago, no ventre de Baal ardendo em chamas, se deitava diariamente o repasto do deus.
 |
| Tomás de Torquemada |
No espírito de D. João III, a quem a paixão levou um historiador nosso a chamar "fanático, ruim de condição e inepto", cintilava a mesma chama, então fulgurante em toda a Nação. Condenar o príncipe sem a condenar a ela, é falsear a história, aplicando-lhe um critério que lhe não convém. Esse historiador, tão nobre pelo carácter quanto ilustre pelo saber e benemérito pelo trabalho, deixou-nos escrita a narrativa das negociações que prepararam o estabelecimento da Inquisição em Portugal. Na sua vontade de deprimir o príncipe para ele culpado de um crime que, a sê-lo, cabe à Nação inteira; na sua vontade de condenar, num homem, aquilo que com toda a razão o eu moderno e forte espírito condenava, não poupa as vaias e os insultos, e quase exulta quando nos mostra D. João III mandando assassinar um homem que embaraçava a realização dos desígnios da coroa. Quem não sabe a que loucuras e crimes conduz a Razão de Estado? Qual será o príncipe desse século XVI - e de todos os séculos afinal! - que não tenha nas dobras do manto mais de uma nódoa de sangue, e nas recônditas voltas da consciência mais de um remorso pungente?
Apesar de tudo, dessa história sai porém uma impressão: D. João III seria inepto e fanático, mas era sincero na sua crença; Roma seria corrompida e vil, mas a corrupção e a vileza serviam neste momento a humanidade; os judeus, porém efectivamente martirizados, não merecem o lírico aplauso de uma filantropia rasteira, porque o amor dos homens é sobretudo o amor da dignidade humana; e esses mártires não a conheciam, na abjecção com que tudo confiavam ao dinheiro corruptor, e na indignidade com que se submetiam a praticar os actos de uma religião aborrecida.
Tudo isto a história das negociações evidentemente demonstra. Entre Roma e os judeus há um mercado aberto; e os últimos conseguem dos Papas, a peso de ouro, a resistência às pretensões do rei. A humanidade e os direitos pontifícios são as frases com que, nas bulas protectoras dos judeus, se traduzem as quantias recebidas. A correspondência entre o embaixador e o rei português é eloquente:
Toda a importação que se fez ao Clemente [VII] pera dar esse breve á ora da morte foy porque lhe dysse o seu confessor induzido dos cristãos novos que poys tinha avydo o dynheyro deles que era concyencya non lhe deyxar o perdão limpo e livre. E isto he verdade e assy o dysse Santiquatro ao papa Paulo [III] perante noos.
Noutro lugar Santiquatro, vendo que os judeus em Roma obtêm o que desejam com dinheiro, propõe a divisão:
O que diz Santiquatro he que o nom levem estes Judeus tão sabroso, e que lhes penitencia de vinte ou trinta mil cruxados, ou os que V. A. ouver por bem, que partaes com papa para suas necessidades.
Os embaixadores, como políticos sem preconceito, vivendo nessa Itália devassa, insistem com o rei:
Tudo o que V. A. quizer negocear bem com este papa [Paulo III] ade ser pondolhe seu enteresse diante; tudo se fará como lhe non tocarem no enteresse. E V. A. deste pão do seu compadre deixe ao afylhado levar uma parte.
Pois bem: D. João III teima - não cede, nem partilha. É um crente, não é um político. Admirá-lo-íamos, se imitasse o Papa? Ou pretenderíamos que fosse, no século XVI, como é o tipo dos grandes homens que hoje, à luz das ideias do século XIX, concebemos? Para nós, a sua grandeza está precisamente nessa exaltação religiosa que hoje temos de condenar de um modo abstracto, mas que não podemos nem devemos condenar na história aplicando o critério de princípios então desconhecidos.
A paixão religiosa de D. João III é tal que "se este cargo (o de inquisidor-mor) fora de príncipe secular com mui grande gosto me empregara nele". Isto escreve para Roma ao seu embaixador. Finalmente, em 1536, obtém para o seu reino o desejado tribunal, e repete-se aqui o furor de purificação da fé havia muito praticado no vizinho reino».
Oliveira Martins («História da Civilização Ibérica»).
«Desde meados do século XV que se acentuava a importância do comércio português com o Norte da Europa e a consequente necessidade de melhorar ou garantir a inserção autónoma de Portugal em circuitos monetários europeus mais amplos e variados. Na realidade, a perseguição ao judeu em Lisboa, a conversão forçada facilitou ou dificultou a satisfação dessa necessidade?
 |
| D. João II armado cavaleiro por D. Afonso V, na cidade de Arzila (pintado por Domingos Sequeira). |
A ligação do judeu com os circuitos económicos internacionais, na Flandres e sobretudo na Itália, é indiscutível, embora estivesse longe de ser exclusiva. Que papel esse facto desempenhou nas atitudes de D. João II, D. Manuel e depois de D. João III? Mas seja qual for a resposta, é um problema de história social (e não um esclarecimento) sabermos passar dessa questão e do seu papel, em Lisboa ou noutros povos marítimos, para a influência ou pressão social que o cristão-novo (ou o judeu) representava na Beira ou em Trás-os-Montes: que funções exerciam nos circuitos locais? Não é possível unificar o cristão-novo do século XVI num grupo economicamente delimitado; há cristãos-novos com as mais variadas fortunas, ocupações, apoios e interesses. E numa época em que a dificuldade de comunicações põe obstáculos consideráveis à definição homogénea de classe, a heráldica, a raça, o modo de realizar a fé, o estatuto profissional, os costumes têm funções unificadoras efectivas, que, desaparecida a urgência, se tornam incompreensíveis. Não pode dizer-se, sem prova, que os motivos concretos de perseguição aos cristãos-novos em Lisboa tenham sido os mesmos que em Lamego ou Bragança ou que a alegada operosidade, gosto pelo trabalho e pelo estudo existissem em todos eles, tivessem o mesmo efeito público em toda a parte e fossem sempre superiores. A acusação de "cristão-novo" unifica o ódio, não os motivos que o fixaram. Quer isto dizer que o antagonismo aos cristãos-novos se decompõe em diversas razões, conforme os lugares, as épocas e os interessados; os motivos de fé e raça são modos aceites para generalizar realidades sociais e económicas muito diversas: os cristãos-novos nem sempre são ricos, trabalhadores e superiores e os seus adversários nem sempre fanáticos pobres ou ricos invejosos. Unificar uma realidade social complexa é um processo usual em todas as sociedades; o cristão-novo é uma dessas generalizações, facilitada por alguns pontos comuns mais flagrantes: a referência à raça e à religião. Passar daí para a sua definição como uma categoria artificial ou compulsiva, para qualidades de excepção ou para uma unificação "contra vontade" é um passo que nenhum historiador, hoje, se atreverá a dar sem provas bem determinadas. A história tem de servir mais para analisar as categorias sociais que cada época concebeu do que para as tomar como indiscutíveis e planeadas. Como quer que seja, impossível esquecer-se que fidalgos e mercadores não constituíam categorias contrárias e a ambos podia interessar, tal como a alemães e flamengos, a eliminação ou o enfraquecimento do circuito monetário judaico-italiano, tão poderoso e quase monopolista até ao século XV e em via de transformação e ajustamento no século seguinte, para enfrentar novos concorrentes.
Depois do caminho marítimo para a Índia, a importância das comunidades, ou mesmo personalidades, judaicas do Índico ao Mediterrâneo dava-lhes uma projecção nova, como meios de "furar" o monopólio das especiarias ou garantir o trajecto das pedras preciosas. Os portugueses, ao percorrerem o Índico, encontraram sempre, nos grandes e pequenos centros, judeus. Não raro lhes aproveitavam os conhecimentos e relações. Desde o judeu de Beja que trouxe a D. João II as informações de Pero da Covilhã, aos que apareceram em Adem, Ormuz, Goa, Calecut, Diu, Cananor, etc., ajudando ou combatendo os portugueses, todos se apresentam como constituindo uma bem estabelecida via de contacto e de informação para a Europa. Os seus recursos, nesse domínio, não podiam desprezar-se. A tentativa da imposição do monopólio da pimenta pelos portugueses precisava de ter presente as possibilidades dessas vias judaicas que se acrescentavam a outras. Facto semelhante se verificava quanto às praças de África. Os cronistas mencionam o papel relevante desempenhado por judeus em muitas operações realizadas pelos portugueses em Marrocos: quando, a partir de 1530, começou a declinar o interesse da realeza por aquela área, declinou também o cuidado que esses mesmos judeus mereciam à coroa, pelos serviços que ali podiam prestar: a perseguição aos cristãos-novos em Portugal é contemporânea da política de abandono das praças de África. E uma vez reduzido o interesse pela colaboração judaica em Marrocos, tomavam vulto os prejuízos que, no Oriente, se atribuíam ao judeu, em contacto directo com o Império Turco e o Mediterrâneo. Os cristãos-novos portugueses não eram grupos só significativos no contexto metropolitano: para a definição dos seus serviços, interesses e capacidade de pressão, é preciso considerar o papel que desempenhavam na Europa, África, Índico e Mediterrâneo, tanto eles próprios, como os seus amigos, colaboradores e adversários. A política contra os cristãos-novos é uma opção extremamente complexa. A ideia do rei D. João III, fanático e bronco, apoiado nas massas portuguesas, ignorantes e invejosas, contra os cristãos-novos, lúcidos e endinheirados, Deus ex machina da Inquisição, é inaceitável.
Estabelecendo condições prévias gerais - assaz discutíveis -, preparava Alexandre Herculano a história da instituição propriamente dita do Santo Ofício em Portugal. Para tal, o autor estabeleceu ainda um conceito de rei absoluto, criador das decisões de governo, mais do que suporte delas, como o entendiam os teóricos do Poder do século XVI, ao fazerem a distinção entre a "forma ordinária" e a "voluntária", para depois, chegarem ao debate sobre se o rei absoluto constituía garantia bastante. Por esse tempo, já na Inglaterra se considerava que a pessoa-rei não bastava; nas monarquias absolutas do continente entendia-se que os privilégios em exercício, as hierarquias defendidas pelos próprios interessados, a função nacional, constituíam cautela suficiente para a segurança e limite quanto à garantia-rei: este, sem tais apoios (e limites), perdia força - portanto, autoridade. Mas o rei, como criador exclusivo das decisões que encabeça, é mesmo para o século XVI, um caso excepcional e, como doutrina, tem poucos partidários. E mesmo estes últimos acentuam a importância da "formação" do rei. No século XIX, face aos textos, a interpretação autocrática continuava indefensável no que se refere a Portugal, embora muitas vezes fosse assim caricaturada, por motivos da história recente.
 |
| D. Manuel I |
Noutro ângulo, tomava Alexandre Herculano as épocas características dos governos como suficientemente definidas a partir dos reinados. Perspectiva que, para lamento da historiografia portuguesa, se prolongou até hoje, com direito de cidade, mesmo nos mais inesperados intérpretes. E no entanto, com a subida de D. João III ao Poder, os quadros da administração central de D. Manuel foram conservados na sua quase totalidade. O facto foi louvado pelos cronistas do rei "piedoso", por constituir uma solução habitualmente desejável, embora pouco comum. Herculano, porém, tomou o reinado de D. João III como uma realidade em si mesma, apontando a continuidade governativa - paradoxalmente - como resultado da "incompetência" que levava o rei a aceitar o que havia. Apesar de considerar que este último dispunha de um executivo particularmente operoso, sensível em todos os negócios da coroa, o historiador, para manter a sua ideia relativa ao papel pessoal do rei no caso da Inquisição - pedida por D. Manuel I -, abre uma excepção à provada continuidade governativa (que noutros campos aceita) e dá o tribunal como resultado da insistência obstinada de D. João III. E no entanto, este, no início do reinado, tinha confirmado as garantias atribuídas por seu pai aos cristãos-novos. Contudo, para Alexandre Herculano, "os factos relativos ao estabelecimento da Inquisição que vamos narrar provar-nos-ão mais de uma vez a espontaneidade do rei nesta matéria e que, por grande que haja sido a preponderância dos seus ministros nos negócios públicos, no que tocava às questões religiosas essa preponderância era subordinada à sua vontade". Muitas razões podiam apresentar-se contra esta interpretação, qualquer que fosse o conceito de D. João III acerca dos judeus e que não diferia muito do que tinha D. Manuel.
O abandono da unidade de medida política chamada "reinado" é indispensável. Na realidade, no primeiro trinténio do século XVI podemos determinar uma política e uma orientação regular na corte portuguesa, do reinado de D. Manuel para o de D. João III, no sentido de uma relativa tolerância para como os cristãos-novos. A esse respeito, começa a acentuar-se uma modificação por volta de 1527. Há razões para considerar o facto também relacionado com as necessidades da política externa portuguesa, que, depois de muitas hesitações e em face dos constantes ataques franceses à navegação portuguesa, acabava por se aproximar de Carlos V, cuja regra visava, dentro da fórmula "paz com os cristãos, guerra ao infiel", promover uma espécie de solidariedade europeia e católica, sob a sua direcção. Por muito difícil que fosse um acordo efectivo entre D. João III e Carlos V, o seu alcance não escapava à governação joanina, segura como estava de que os acontecimentos do Próximo Oriente mediterrânico se reflectiriam tanto no mar Mediterrâneo como reforçariam ou enfraqueceriam a linha de auxílio turco Adem-Diu-Calecut, que tanto prejudicava o tráfico português da pimenta. Não deve também esquecer-se que, por esta altura, existia nos reis peninsulares, tal como existia na França e na Inglaterra, uma certa orientação de tipo galicano. É de 1527 o saque de Roma pelas tropas de Carlos V, coroado imperador em 1530, sem esquecermos o encontro, em 1534, do papa com Francisco I, rei de França. D. João III casara em 1525 com a irmã do imperador e este, no ano seguinte, com a irmã do rei português. Acontecimentos de toda a ordem chamavam a atenção para o papel do Mediterrâneo e da posição espanhola no equilíbrio dos portugueses no Oriente, enquanto a acção francesa, a esse respeito, se colocava num plano muito diferente. Aproveitando esta ponderação de forças que lhe era favorável, o rei de Espanha pretendia que se criasse em Portugal uma Inquisição dependente da espanhola. Qual o peso destes esforços de Carlos V nas urgências de D. João III?
A perspectiva galicana, por sua vez, evidencia-se na correspondência do rei com o bispo do Funchal (tão precipitadamente julgado por Herculano) e acentua-se aquando do conflito entre D. João III e D. Miguel da Silva, bispo de Viseu, feito cardeal depois de fugir para Roma, por incompatibilidade com a corte portuguesa. O esforço da realeza para criar um orgão de pressão próprio e o mais independente possível do papa - o Tribunal do Santo Ofício - tem implícito um ponto de vista galicano, mesmo que mantivesse uma dependência jurídica difícil de concretizar. Foi o que sucedeu. Como é sabido, referiu-se, na roda de D. João III, a possibilidade de uma decisão semelhante à que Henrique VIII tomara, quando constituiu a Igreja anglicana. Neste ambiente quase anticlerical do século XVI, frequente no país (não se analisa a validade mas a vitalidade), sem prejuízo de uma crença católica profunda, junto a interesses diplomáticos prementes, é proposta a instituição do Santo Ofício. A vigilância da fé deixaria de depender dos bispos, tantas vezes tolerantes, caridosos e humanos, discordantes prováveis do princípio do baptismo forçado ou da cedência à Inquisição das suas responsabilidades na defesa da ortodoxia.
A preocupação pelo tribunal corresponde a um movimento político e de opinião, e não à vontade, por si própria, muito limitadamente criadora, do rei que a executava. As forças em que assentava derivam dos princípios da Igreja nacional, tentando criar um organismo mais dependente e local para manter a ortodoxia, dotada, naquele período, de valor político. O rei, quando requeria a Inquisição, encabeçava no momento oportuno essa corrente, poderosa, com expressão literária, doutrinária e social, que lhe reforçava a audiência. A hipótese de D. João III, criador temperamental do Santo Ofício, não resiste à crítica histórica; liga-se tanto à interpretação insuficiente que Alexandre Herculano tinha do absolutismo, como ao espírito faccionário com que determina as forças concretas que, na sociedade portuguesa da primeira metade do século XVI, apoiavam a instituição do tribunal. Poucos dados podemos invocar para referir a colaboração activa de grande parte do clero nesta operação. Pelo contrário: nas notícias que dos concelhos reais chegaram até nós podemos encontrar, vindas do clero, opiniões discordantes, tanto acerca do baptismo forçado, como da intolerância para com os judeus ou a Inquisição.
 |
| Alexandre Herculano |
 |
Túmulo de Alexandre Herculano no Mosteiro dos Jerónimos. Construído no fim do século XIX, em estilo neo-manuelino, foi alterado e "amputado" no século XX, restando actualmente apenas a arca tumular. |
E a resistência do papa ao estabelecimento do tribunal? E o sucesso dos cristãos-novos para o constante adiamento, no apoio que encontravam em Roma? E a final imposição do Santo Ofício?
À determinação das condições gerais do reino de Portugal estabelecidas com base nos capítulos das Cortes de 1525 e 1535, à notificação dos judeus e cristãos-novos pelas suas capacidades profissionais (não é, naquela época, a única maneira de lhes dar diferenciação social), à referência a D. João III, como responsável pela introdução do Santo Ofício, segue-se, na obra, a narrativa da longa série de manobras, avanços, recuos e desvios diversos, entre a coroa portuguesa e a Cúria romana, logo depois de esta ter revogado a licença para o estabelecimento daquele tribunal. Tanto na exposição dos passos portugueses como nos do papado, os elementos preferidos por Herculano conservam o tópico individualista e tão restrito que é flagrante a insuficiência desta hipótese para explicar esse complexo rateio. Não obstante, esses preconceitos têm limitada interferência no relato das decisões e articulações diplomáticas.
Num livro dentro da estrita técnica da referência às relações bilaterais entre Portugal e o papado, para a compreensão histórica de um tribunal cuja legitimidade dependia acima de tudo da licença a obter junto da Santa Sé, excluir os problemas mais instantes da conjuntura internacional, tanto mediterrânica, como do Norte da Europa, pode, em certa medida, justificar-se, caso o inventário das fases não obrigue à procura das motivações. Mas quando é proposta uma interpretação ou se apresenta uma hipótese própria, já o estudo da conjuntura, nas suas diversas modalidades, se torna indispensável, uma vez que é preciso provar a coerência entre a explicação bilateral e o todo onde se insere.
A política da Santa Sé neste período desenvolvia-se numa grande diversidade de confrontos. Não podemos deixar de mencionar, em todos eles, a sua indispensável preocupação com o prestígio que se sustenta pela defesa de posições justas e difíceis, a que, por outro lado, era obrigada pela própria doutrina. Na verdade, seria muito difícil lutar contra a reforma religiosa, ou contra o "galicanismo", se não houvesse da parte da Igreja uma exposição e prova coerente, sacrificada e árdua, dos seus pontos de vista, religiosos e políticos, tanto na Alemanha como em todos os lugares onde, em termos de cisão, era desafiada a interpretação católica do cristianismo. A defesa da Igreja fazia-se no sentido de mostrar a ligação necessária entre as teses católicas e uma concepção social e política mais eficaz, na defesa dos privilégios comuns e liberdades em que assentava a vida das populações e dos grupos representativos. A Igreja não partilhava do conceito corrente e galicano do direito de impor uma crença; facto que precisava de ser visto na prática e constantemente aplicado, quer em Portugal, quer em Espanha, na França ou na Inglaterra, em toda a parte, sem que se excluíssem as necessidades da defesa do catolicismo. Acresce que o papa pretendia promover um concílio geral que esclarecesse (e portanto renovasse) os termos em que a doutrina católica era expressa. Carecia para isso da colaboração das realezas católicas, assim como de manter a audiência política e social, tanto como a religiosa. O prestígio era uma das condições para o sucesso de todos estes projectos, necessidades ou deliberações. Aquilo que a coroa portuguesa pretendia (e que noutra conjuntura, no século XV, tinha sido concedido à coroa de Aragão) só podia ser concedido se não colidisse com estes novos factores; é o que se vê nas razões alegadas por Clemente VII para suspender o tribunal autorizado pouco antes. E Paulo III manteve a mesma prevenção. Era preciso que, a ser autorizado o Santo Ofício em Portugal, fosse patente que resultara da insistência política do poder local, e depois de ressalvadas pelo papa todas as garantias de que a transgressão das regras de humanidade e de justiça, se as houvesse, só podiam ser da responsabilidade do tribunal português, sem afectar a Santa Sé, que se opunha a elas. Esta encontrava-se em necessidade, em Portugal como em toda a parte, de negociar e de se conservar em equilíbrio. As suas decisões, ao serem executadas, não podiam tomar formas agressivas ou doutrinárias extremas, se atendermos que a situação e os poderes do estado absoluto e as correntes de opinião na época tornavam fácil contestar politicamente a Santa Sé, apesar do catolicismo militante e da devoção do rei e colaboradores. O papa não podia tomar uma atitude intransigente quanto ao seu ponto de vista, na altura em que Portugal tinha, no Oriente, uma tão grande responsabilidade, cujo nexo com as condições e possibilidades do Mediterrâneo Oriental não ofereciam dúvidas: a chegada à Índia pelo Atlântico tornou ainda mais clara a ligação entre o mar Mediterrâneo, o mar Vermelho e o oceano Índico.
A suposição de que, no século XVI, foi aniquilado, com a descoberta do caminho marítimo para a Índia, o tráfego das especiarias por via mediterrânica, está longe de ser verdadeira. Vulgarmente exposto no século XIX e até no século XX, esse erro impediu que se compreendessem muitas questões do Mediterrâneo e do Índico. Os interesses da Santa Sé, no equilíbrio de forças do Mediterrâneo e a sua orientação no sentido de enfrentar os Turcos, exigia-lhe cuidado, face às exigências, tanto da monarquia portuguesa como do império de Carlos V, aquando das manobras de Francisco I e das preocupações de Veneza. Diplomacia de confluência, de adiamentos, reticências e esperas, cuja definição se não pode alcançar, por certo, com fórmulas simples, menos ainda pessoais. Vai muito além do conceito da corrupção dos agentes. Na realidade, a suposição de que a política do Vaticano a respeito da Inquisição portuguesa estava dependente das peitas a cardeais ou ao próprio papa (como chegou a dizer-se) pelos cristãos-novos portugueses ou pelos enviados do rei de Portugal, ao desafio, carece de capacidade para determinar o sentido constante das negociações realizadas entre personalidades, portuguesas e romanas, durante tantos anos. O que pode verificar-se é uma atitude regular por parte da Santa Sé e de Portugal: tratava-se de uma política bem determinada de parte a parte, sem dependência de prensas ou conivências de variável cotação. Se as houve (e sem dúvida que houve), é escasso o significado que podem ter tido no conjunto das negociações. Podemos definir uma linha diplomática sem considerar factores dessa ordem. A declaração de Roma como a "Grande Babilónia" para explicar a política externa da Santa Sé pode ser feita por almas que se tomam por justas, mas está muito aquém dos problemas essenciais: não é proporcional nem às soluções nem aos interesses em debate.
E na verdade, podemos perguntar por que motivo essa hipótese dava resultado em Roma e não em Lisboa, por que motivo os cristãos-novos iriam corromper tão longe, quando o poderiam fazer aqui, onde os cardeais não eram tantos, nem as recompensas teriam de ser tão repartidas. A corte de D. João III não seria incorruptível, e caso a questão do Santo Ofício só dependesse dessas sinuosidades seriam elas, decerto, em Portugal, muito mais acessíveis. É para responder a esta objecção implícita que intervém a opinião de Alexandre Herculano sobre o papel determinante de D. João III no estabelecimento da Inquisição: em Portugal seria preciso corromper o rei fanático, o que era impossível. Estas hipóteses e soluções elementares não servem para coisa alguma.
A instituição do Santo Ofício, pedida por Portugal, envolve forças políticas e sociais, arranjos diplomáticos e confrontos, muito para além da intervenção do rei e da hipocrisia romana ou suborno dos agentes. Pertence ao drama da repressão das minorias que os estados absolutos empreenderam sistematicamente nos séculos XVI e XVII, repressão realizada quando a corrente de opinião pública que a aprovava tinha força política, pelo que o espírito evangélico e a justa razão não foram capazes de intervir, em Estado, exceptuando algumas áreas que, por diferentes motivos, não seguiam o procedimento geral. E mesmo nessas áreas, seria preciso saber até que ponto a aceitação das minorias era acompanhada do respeito por elas ou se, para se poderem defender, estas se não isolavam, no conjunto da população, transformando-se em maioria dentro de si própria, embora minoria no todo social onde se encontravam. Desde os católicos ingleses aos huguenotes franceses e aos cristãos-novos portugueses, mouriscos espanhóis ou cristãos do Império Turco, a situação era a mesma. O drama da Inquisição portuguesa no século XVI, com todo o seu cortejo de violências, barbaridades e opressões, não é diferente do que se passava por toda a Europa a respeito das minorias vigiadas. Não se explica por razões menores do absolutismo real sobre uma vontade portuguesa entorpecida. Durante esse período de predomínio da razão de estado sobre as consciências (ou antes, enquanto houve condições para a razão de estado, assim entendida, se impor), a discordância e crítica também se levantou em Portugal. Uma literatura política relativa aos deveres do rei representava a defesa da restrição do poder absoluto pelas regras morais e constituiu uma das formas (não a única) que revestiu a defesa da tolerância, e do princípio da responsabilidade do cristão. E não podemos dizer que representou pouco na cultura portuguesa».
Jorge Borges de Macedo (Introdução a Alexandre Herculano, «História da Origem e do Estabelecimento da Inquisição em Portugal», tomo I, Livraria Bertrand, 1975).
«PORQUANTO, se uma primeira falta é grave por si própria, muito mais grave se torna pelas suas consequências, na medida em que abre caminho a pecados outros. Na velha imagem, é aquela fenda, que pode ser insignificante, e não o era no caso presente de Portugal, mas que vai a pouco e pouco, por seus alargamentos, acabar na ruína das muralhas. Pecando, com o Infante D. Henrique, Portugal, a par de todo o grandioso que vai realizando pelo mundo, deixa que nele penetre o que, mais tarde, também apesar de sua grandeza haveria de fazer condenar a Europa e de levá-la àquilo que tem hoje, uma civilização sem saída. Morto D. Duarte, o trágico Hamlet deste bipartir-se entre um catolicismo que se queria conservar integral e esta primeira aldrabada de um rebate protestante, morto depois D. Afonso V, cuja mística obstinação o põe de certo modo fora das correntes do seu século, chega a vez de D. João II. E quando um homem, político, acha que há tempos para voar de falcão e tempo para voar de coruja, sem ter sequer uma palavra de lembrança para a pomba mística de Portugal, para aquele símbolo do Espírito Santo, consolador dos homens, que entrara com a Rainha Isabel e voara sobre as linhas portuguesas de Aljubarrota, esse homem pode ter uma grandeza tal que os tempos se não cansem de o louvar; pode ter cumprido uma missão que era necessário desempenhar-se no mundo; pode ter sido o representante admirável de uma importante massa dos cidadãos do tempo; mas há sobre ele uma fatal condenação: adorou não a Deus, mas a bezerros de ouro; traiu a nação no que ela tinha de essencial; e acabará por ter de correr à noite os devãos do Paço, açoitado pelas assombrações.
Com D. João II entrou Maquiavel, apesar de todo o protesto dos portugueses que entendiam o que era Portugal e entendiam o que era catolicismo e que viam um e outro perfeitamente incompatíveis com as doutrinas italianas, com as doutrinas daquele Renascimento italiano que foi, infelizmente, no que mais pesou em história do mundo, o renascimento de Roma, de Roma cesarista, de Roma centralista, de Roma regedora de povos, não sua irmã, e no que mais pesou em história das almas individuais, a transformação da virtude cristã, que é amor de Deus e respeito do Decálogo e mais ainda no que ele tem de espírito do que na sua letra, naquela virtù que consiste em afirmar o valor do homem individual sobre todas as coisas e em pisar todo o direito para que se satisfaça a sua vontade. De nada, porém, valeu a luta de todos os anti-maquiavelistas portugueses, ao lado dos quais formaram, para sua honra, os anti-maquiavelistas espanhóis. Foram vencidos pela vontade duríssima do Rei e pelo império das circunstâncias; as quais circunstâncias passaram de ser nacionais a ser na realidade circunstâncias de carácter europeu; de carácter protestante, muito mais próximo do que em geral se julga do carácter pagão.
É exactamente com D. João II que se alarga aquela tal fenda que era inglesa e anti-católica. E, pela já brecha, vão entrar e tomar conta da inteira história de Portugal dois acontecimentos que por completo destroem tudo quanto se pudera levantar de extraordinário na Idade Média: de modo que se poderia dizer que Portugal, depois do século XV, só vai ser grande naquilo em que continua a ser medieval; no resto se empequenece. O primeiro desses acontecimentos é o que diz respeito ao tratamento dos judeus logo agravado por D. Manuel e pelos reis seguintes. Sabemos perfeitamente como o grande pecado dos judeus é, por assim dizer, um pecado contra a inteligência, um pecado contra a lógica; capazes de seguir seu pensamento até o fim quando se trata de matemática, de física ou de vida prática, o judeu revela-se singularmente incapaz de ser inteiramente lógico no que diz respeito a pensamento religioso ou às raízes metafísicas da tal vida prática: é como se, em virtude de alguma antiga falta de fé, lhe tivesse sido vedada essa verdadeira Terra da Promissão. E sabemos que foi perseguido pelos judeus o único judeu que neste domínio soube ser lógico; sabemos como a Sinagoga esteve contra Spinosa.
 |
| Bento de Espinosa |
Mas sabemos por outro lado como os portugueses tinham conseguido o milagre de dar alguma lógica aos judeus, como igualmente deram lógica aos mouros, esses de resto muito mais defensáveis. Os portugueses tinham aceitado que, contra tudo o que deveria ter sucedido desde que Cristo viera completar a lei, ou antes revelar-lhe o íntimo sentido de Fé, contra tudo o que deveria ter sucedido depois da doutrina de pré-figuração e depois da introdução na liturgia de tudo quanto havia que conservar no Velho Testamento, os judeus continuassem praticando a sua religião mosaica, como que numa forma particular de linguagem que eles porventura entenderiam melhor, já que os judeus por seu turno não levantavam oposição alguma a assistir reverentemente a esse culto do Espírito Santo, o qual, como já foi dito, descera em novo Pentecostes sobre a nação portuguesa, sagrando-a para seu apostolado. Eram, e em muito melhor, todas as condições que tinham permitido aquele milagre de civilização, dos raros do mundo, que fora o califado de Córdova. E nele entrava o mouro também, como se a revelação dele fosse uma revelação de um Espírito pairando sobre o universo e lentamente e seguramente o modelando em Reino de Deus.
Pois bem: interesses europeus ou de talhe europeu repeliram judeus. O que teve duas consequências de aspecto bem diferente; a dos judeus que refugiando-se no Brasil foram tentar continuar aí uma comunidade fraternal de tipo português escapando à acção do Rei e de seus instrumentos de repressão; aquela comunidade e aquele estilo de vida a um tempo racional e místico, embriagado de Deus e atento às formas e às leis da matéria, resolvido a ser um pensamento e a ser um procedimento, mais amigo das sínteses do que das exclusões, altíssimo até os céus e humílimo sobre a terra, que vai ser exactamente o estilo de vida pensado pela filosofia de Spinosa, à qual só faltou para ser perfeita que fosse uma teologia e não uma filosofia e que, sendo uma teologia, fosse católica. Mas a outra consequência do gesto real português foi muito grave para o conjunto da civilização europeia: soltou sobre a Europa um judeu completamente virado agora, por ressentimento e desespero, para o tal pendor da vida prática que já o tinha levado a, desprezando o Salmo, emprestar a bom juro, e a cristãos, o dinheiro que, no fundo, de cristãos era. E é este judeu agudamente arguto, diligente e resistente, sabendo aguentar todas as humilhações e sabendo também não as poupar no momento oportuno, o grande agente daquela civilização de tipo germânico que nos nossos dias veio a dar, por um lado, os Estados Unidos, por outro lado a Rússia, até opor os dois blocos no que, com todas as consequências que, boas ou ruins, daí possam advir para a humanidade e com todas as diferenças que devamos pôr entre as duas orientações, não é mais do que novo cisma das tribos.
Por se não ter sabido guardar católico, por se ter querido impor a Portugal uma unidade que vai sempre contra o que é sua essência, por se ter sido realista em lugar de se ter sido idealista, o que é sempre o erro mais grave, deu-se à Europa um bem ruim presente; mas dela se recebeu um outro pior ainda: o do direito romano e, com o direito romano, o da mentalidade romana. Efectivamente, a luta vinha de longe; no final de contas, o demónio solto no mundo nunca se conformara com o terem os forais vencido Justiniano; sempre houvera fogo de inferno latente sob as cinzas; e avisadamente andaram burgueses e populares de Portugal quando acharam que lhes era uma luta fundamental a de se fazerem conceder forais cada vez mais amplos e de maiores garantias. No que outros povos, embora com menos decisão e menor originalidade, lhe eram de certo modo companheiros. Mas a batalha começava a decidir-se para o lado dos reis. Porventura o ponto máximo fora o da luta entre os juristas do Rei de França, à volta de Nogaret, e os canonistas de Bonifácio VIII, com as doutrinas fixadas na série de documentos papais que vai da Clericis laicos à Unam sanctam. O resto seguir-se-ia naturalmente. E faria que Portugal, depois de ter assentado base de império sobre sacrifício de irmão; depois de, secundando, outra base de império ter lançado sobre outro sacrifício de irmão, desta vez o judeu; o terceiro alicerce fundaria sobre terceiro sacrifício: o do direito concelhio ao direito cesarista, imperialista, anti-católico de Roma.
Que se havia de esperar? Era impossível ainda cumprir todos os projectos formulados na grande Idade Média? Não teria o jovem deus de se curvar às misérias de um destino puramente humano? Não haveria, para os menos bons, o único recurso de sobreviver dentro das condições gerais do tempo, embora conhecendo tudo o melhor que se perdia, e é porventura essa a origem das amargas reflexões de um Fernão Mendes Pinto quando compara os ideais dos portugueses com o que na realidade praticavam? E não haveria para os outros, os que se não rendiam, o único recurso de emigrar, não para uma Europa corrompida, não para um Oriente tão corrompido praticamente quanto a Europa, não para uma África demasiado próxima e já em decadência cultural, mas, quando a ocasião se apresentou, para uma viagem à América, sobre a qual poderia um Thomas More ordenar intelectualmente o que instintivamente faziam os marinheiros, os aventureiros portugueses e, entre eles, os sisudos, calmos e precavidos cidadãos do Porto, ansiosos de poder renovar em outros mundos as liberdades de sua terra? Esses se salvavam, porque ficavam fiéis às duas palavras de ordem, aos dois signos iniciais dos destinos de Portugal: a acção e a saudade. Mas, para os que se deixavam ficar, só havia o ver aproximarem-se cada vez mais as soluções da melancolia, da loucura ou do suicídio.
 |
| Serra da Arrábida |
 |
| Convento de Nossa Senhora da Arrábida |
Retiram-se para quintas distantes, onde chegue um mínimo de notícias do mundo, isto é, da Corte, os que não podem suportar que o reino que fora a esperança de Cristo se estivesse despovoando não ao apelo da cruz, não ao chamamento da missão, mas ao "cheiro da canela" e ao tinir dos míseros pardaus que já iam correndo por Cabeceiras de Basto. Retiram-se para Arrábidas, onde vão ser ermitães e ter pelo menos o consolo daquele mar e daquele céu e daqueles longes de paisagem que nunca faltam a quem é triste em Portugal, os que, por não terem podido empregar a sua mocidade ao serviço de Deus, a matam sob a disciplina e o hábito feito de velas velhas e, queimando seus versos, só têm o recurso de chorar "por haver tão mal cantado". E retiram-se para entre árvores que ninguém corte e de que ninguém venha sequer colher o fruto os que percebem quanto em desacordo com o mundo à volta estavam eles quando, em lugar de pensarem nos ganhos materiais, se dedicavam a defender Diu cercado ou, mergulhando sob as ondas, lhes sondavam fundos e determinavam correntes ou, pacientemente e gostosamente e artisticamente, desenhavam e coloriam conhecenças de costa.
Ou então, ainda mais melancolicamente, com o Hospital de Todos os Santos os vendo já como de boa presa, os que nem se retiravam nem emigravam e ficavam, perto demais da Corte, longe demais de seus amores, percebendo como dia a dia se iam dissociando como a sua personalidade se desfazia, espectadores de si próprios, se viam embarcando no largo rio de perturbadas águas e, ao mesmo tempo, ficavam nas margens olhando o barco que se afastava; sob o impulso de estranhos fados; e ao impulso de estranhos remadores, os que não tinham nem saudade bastante para sua acção nem acção bastante para sua saudade. E, para o triste de Avalor, passageiro mais estranho ainda que remos e remeiros, o que havia de mais terrível não era não saber se voltaria: era o saber, obscuramente, que nem voltava nem chegava».
Agostinho da Silva («Reflexão à Margem da Cultura Portuguesa»).
«Mouros, gentios e judeus, os submetera Portugal ao flagelo abominando duma superstição implacável e, na fúria de suas diabólicas perseguições, excedera a meta da tradicional crueldade.
Porém ao judeu o constituímos, especificadamente, na vítima preferida; e assim é que, em particular contra nós, piedosamente, à atormentada gente judaica se dá ao dever de a confortar em o transe terrível R. Samuel Usque, natural de Lisboa, no seu livro, escrito em português, Nahon Israel, isto é, Consolação de Israel, e continua: Consolação às Tribulações de Israel composto por Samuel Usque. Impresso em Ferrara em casa de Abrahão Aben Usque, da criação 5313 (de C. 1553), 27 de Setembro.
Este livro é raríssimo; há uma edição de Amsterdão, de caracteres redondos.
A de Ferrara é impressa em caracteres góticos; o prólogo exibe esta epígrafe: Da ordem, e razão do livro Prólogo. Aos Senhores do desterro de Portugal. "Nele (assim nos informa António Ribeiro dos Santos) expõe o autor a sua ideia na composição desta obra, que foi consolar os judeus, seus contemporâneos, na mágoa, em que estavam, de haverem sido desterrados de Portugal, trazendo-lhes à memória outras muito maiores calamidades, que haviam experimentado os seus antepassados; e para isto se propôs recontar, um por um, todos os trabalhos e desventuras com que os judeus haviam sido maltratados em todas as idades".
Até às lágrimas nos comove a firmeza no parentesco moral com a pátria que os repudia, quando atentamos no motivo pelo qual Samuel Usque escreveu a sua obra em português. É porque, diz ele, sendo o seu principal intento falar com portugueses e, representando a memória deste seu desterro, buscar-lhes, por muitos meios e longo rodeio, algum alívio aos trabalhos que passavam, desconveniente era fugir da língua que mamara e buscar outra emprestada, para falar a seus naturais.
(...) Sem embargo, é de justiça consignar que o rancor inexorável contra o judeu não se restringia só ao ânimo português e cumpre ter presente que esse ódio temulento não escolhia a terra lusitana para sua residência exclusiva. Fora pertença de todo o Velho Mundo e, por uma lastimosa recorrência atávica, reaparece hoje em dia, na França, na Alemanha, proclamado como uma teoria social por todos aqueles que se não pejam de se chamarem anti-semitas.
Anti-semitas!
A penúria de lealdade começa logo pela designação. Denominam-se anti-semitas, em vez de se chamarem, espessa e grossamente, antijudeus. Como se algum empenho os assanhasse contra os árabes! E, todavia, a juízo do sábio Maury, para topar com o verdadeiro semita, cumpriria ir buscá-lo entre os árabes do deserto. Seria propriamente a eles que coubesse o quadro célebre que do seu condicionalismo de espírito traçou o eminente historiador de seus idiomas, o ilustre Ernesto Renan.
 |
| Ernesto Renan no Colégio de França |
Mas estes anti-semitas de agora o que são é inimigos da raça judaica, para a qual endereçam um ódio arcaico, cobiçoso de fanáticas perseguições. Isto sob o lance da iniciação do século XX, na culta Alemanha, na espirituosa França, à laia das investidas desse rancor hispano-português das datas esplendorosas da Inquisição aqui!
Constitui uma das modernas vergonhas a literatura copiosa antijudaica que tem infectado as livrarias do mundo que pomposamente se intitula civilizado; ela não traz, porém, ao mercado dos ódios novidade e nem só uma das acusações compendiadas nas bonitas brochuras hodiernas prima pela invenção; tudo se encontra já nos dislates que compõem as toscas encadernações da biblioteca anti-rabínica.
Os números constam do "Memorial dos Escritores Portuguezes que escrevêrão de Controversia Anti-Judaica", segundo a lista organizada por António Ribeiro dos Santos, para as Memórias de Literatura da Lusitana Academia Real das Ciências de Lisboa.
E os nossos mais facundos e fecundos, disertos e dissertos anti-semitas do século XVII nada adiantaram, eles mesmos, sobre as invectivas da Antiguidade clássica, à qual se volveram antipáticos certos peculiares traços da fisionomia moral do judaísmo. O eruditíssimo Teodoro Reinach entendeu poder resumi-los em dois grandes capítulos de acusação contra a gente hebreia: o seu particularismo religioso, o seu particularismo social. Ele reuniu, com destino à colecção das publicações da Sociedade dos Estudos Judaicos, larga ajunta de textos de autores gregos e romanos relativos ao judaísmo, os quais traduziu e anotou.
Aí vem já tudo: a covardia dos judeus, a lepra dos judeus, a sarna dos judeus, a teimosia dos judeus, o servilismo dos judeus, a temeridade dos judeus: - os vícios mais opostos, os defeitos mais contraditórios. Marco Aurélio acha-os embrutecidos; são considerados os mais ineptos de todos os bárbaros. Tácito exprobra-lhes a devassidão - projectissima ad libidinem gens; Marcial e Amiano Marcelino, o cheirete; do texto deste último nasceria a famosa acusação do faetor iudaicus, a crença, muito espalhada na Idade Média (pondera Reinach), de que os judeus têm um mau cheiro especial.
Mas não tão-só na Idade Média. Em 1668, em Lisboa, Vicente da Costa (Breve Discurso Contra a Herética Perfídia do Judaísmo) nada deixa, sobre o ponto, a desejar.
(...) Na época cristã, a causa do morticínio ritual provém do deicídio de Jesus Cristo; em virtude deste crime inconcebível (qual o do assassinato de Deus pelos homens) os descendentes dos criminosos foram castigados por certo modo espantoso, e assim os "Iudeus padecem fluxos de sangue nas partes secretas", informa-nos Vicente da Costa. Ora, no fito de acabar com isso, que fizeram eles? "Para alimpar esta praga diz Frey Rodrigo de Hiepes no seu tratado do Minino da Guardia, que introduzirão os Iudeus matar crianças innocentes por lhe dizerem que com aquelle sangue se avião de remediar, & aly authoriza esta verdade, & cita alguns Authores na terceira parte da historia, no capitulo quarto".
(...) Na Alemanha (como na França), em nossos dias, reproduziu-se contra os judeus a acusação do assassinato periódico do menino cristão; há numerosos livros com este objecto. Porém, na Alemanha (como na França) ainda se não deu com o motivo e o proveito dessa abominação.
Seria prestar serviço ao anti-semitismo do século XX o indicarem-lhe a luminosa explicação aprovada no século XVII pela Inquisição Portuguesa.
A qual não carecia aliás de pretender punir esse crime para ir queimando, intermitente mas sistematicamente, nos judeus cristianizados. Regularidade perfeita!
Por isso, mestre José Ha-Cohen, em seu Emek Ha-Bakka, designou pelo expressivo cognome de "o forno de ferro" a esta terra lusitana: "... o forno de ferro, Portugal, que Deus amaldiçoe!".
 |
| Sampaio Bruno |
Categoricamente lhe marca o motivo específico. Indigita-no-lo quando em sua crónica prossegue. "Após a morte (escreve) desse feroz e violento Manuel, ao qual sucedeu João, os conversos multiplicaram-se em número e propagaram-se consideravelmente em Portugal, olvidaram Deus seu Criador e ajoelharam perante o ídolo de ferro fundido. Mas, ao cabo de algum tempo, por ordem do rei, estabeleceu-se sobre eles inquisidores que os acusaram da não-observância dos éditos régios, acabrunharam-nos de tormentos e, no arrebatamento de seu ódio, deles encarceraram e queimaram grande número no ano 5291, isto é, 1531. Muitos outros surdiram apanhados em os laços que lhes armaram seus perseguidores no momento de se escaparem, ou ainda reconduzidos os levaram dos navios onde se tinham escondido para fugir, e foram igualmente arrojados à fogueira; um grande número, finalmente, em sua pressa de se escaparem por mar, caíram ao fundo das águas como chumbo e ninguém lhes veio em socorro. Multidão deles fugiu por sete caminhos, em todas as direcções (Deuter., 28, 25), todos os dias, como diante da perseguição da espada, e sofreram males numerosos e terríveis durante suas peregrinações depois que saíram do forno de ferro, Portugal, que Deus amaldiçoe!"».
Sampaio Bruno («O Encoberto»).
«Sampaio Bruno, cujo judaico-maçonismo é gato escondido com rabo de fora, não deixou de assinalar a aliança dos Cavaleiros do Amor Anti-Roma, que se mantiveram e transitaram desde o trobar clus medieval às academias do século XVII, e às Lojas, do século XVIII em diante. A ideia religiosa do judaísmo, como José de Maistre evidenciou, e como Bruno viu - dá aso a que se admita que o projecto judaico de conquista do mundo se sirva da Maçonaria, ao menos como elemento dissolutor do Cristianismo.
Noutra esteira, que não a dos legitimistas, Bruno apontou as analogias da vida maçónica e da moral hebraica, sublinhando os artigos da crença maçónica, mas os factos não são as regras, e por saber fica se a aliança existe; e, se existe, qual a natureza do projecto: actual ou intencional.
Da actualidade do projecto se convenceram muitos. Sem uma Justiça nacional, os grupos em confronto procuram aplicar ou distribuir Justiça. Retomando uma tradição antiga, a Ordem de S. Miguel da Ala ressurgiu, sob o signo da Cruz, contra a actuação maçónica.
O Cardeal Saraiva procurou demonstrar a inexistência histórica da Ordem, mas fica por saber qual o seu intento: se provar o infundado dos restauradores, se, pela negação de S. Miguel da Ala, insinuar a inexistência das ordens secretas, para defender aquela a que pertencia, como Irmão Condorcet, a Maçonaria. Não obstante, manifestando o ideário alista, e combatendo a influência maçónica, distinguiu-se o jornal A Nação (1848), tido e havido como porta voz de S. Miguel da Ala.
Parece que a Maçonaria é apenas um "mito", que justifica o combate da "reacção" contra os partidários da separação do Trono e do Altar, ou contra o jacobinismo e o judaísmo. Ora, o maçonismo faz a sua guerra a vários níveis; e, se falha na esfera iniciática, obtém vitórias na esfera do militantismo político, nas escolas e nos sectores públicos. Os intelectuais do liberalismo podiam não estar inscritos na ordem, mas aderiam aos seus ideais e colaboravam com denodo, dirigindo as actuações para o enfraquecimento da Igreja.
Jesuíta foi, desde muito cedo, não tanto um substantivo, mas um adjectivo qualificativo, tal como Judeu. O termo jesuíta, como ápodo pejorativo, começou a ser usado cerca de 1540, com intento malévolo, aplicado a todo o católico que punha reservas às modificações protestantes. O processo inquisitorial contra a Inquisição visou mais longe - o alvo era a Igreja Católica, Roma. As ideologias nórdicas e reformistas teriam escolhido deficiente alvo, se este fosse apenas o Santo Ofício. O fogo polémico visou todas as instituições que contrariam o projecto protestante, instituições essas que, no mínimo, e na Península Ibérica, eram a Inquisição, a Companhia de Jesus e o Aristotelismo. A corrente nórdico-reformista venceu em termos de política. Em 1759, quando se assistia aos últimos actos inquisitoriais, a Companhia de Jesus era suprimida, a Inquisição secularizada, a Universidade reformada, e Aristóteles banido.
A delimitação política dos lugares empurrou a Companhia para o espaço tradicionalista, pelo que, restaurada em 1814, por Pio VII, o seu aparecimento sob o domínio miguelista seria inevitável. Inevitável foi também o efeito constante da Lei de 1910, que restaurou a Lei de 1759. Vencido o tradicional-nacionalismo, substituídos pela nação republicana neopombalina, os Jesuítas iam de novo para o exílio. Os argumentos antes manipulados contra os judeus passaram a ser utilizados contra os Jesuítas; e as propostas de solução do problema judaico passaram a ser propostas de solução do problema jesuítico. Aquele tipo de literatura em que os antijesuítas José Caldas e Alexandre Braga foram exímios, no trânsito para a República Positivista, abunda em autores e títulos; e uns defenderam a expulsão, enquanto outros defenderam a presença, com submissão aos interesses do Estado, leia-se, do regime político. O decalque da questão judaica não podia ser melhor, nem mais falha de imaginação.
A oposição das sociedades secretas anticatólicas à Companhia de Jesus começou em 1614, com a revelação de uma presumível vida oculta adentro da Ordem, conforme o testemunho da Monita Secreta, publicada em Cracóvia, atribuída ao jesuíta polaco Jerónimo Zahorowsky, que constituiu fonte para outras divagações, como essa que Fernando Pessoa aceitou, da existência do Oriente Feota, ou maçonaria Jesuítica, cujo Mestre seria o Papa. São ainda as sociedades secretas que movem a abertura de fossos entre judeus e Jesuítas, no sentido de evitar eventuais acordos de princípio entre a Igreja e a Sinagoga. É esse o objectivo da novela O Judeu Errante, de Eugénio Sue, cujas artimanhas foram refutadas por Víctor Joly em 1813, numa análise dos mitos definidos e manipulados pelo pombalismo e pelo liberalismo maçónico, segundo os quais os Jesuítas seriam os inimigos da Nação republicana, imoladores de inocentes, e, mais tarde, fabricantes de óleo humano. Na mente de Magalhães Lima, o maior inimigo da Maçonaria era a Companhia de Jesus, e todas as acusações que antes se dirigiam aos Judeus eram boas, se aplicadas aos Jesuítas. Autores como Brito Aranha (falecido em 1914) e Mariano José Cabral, apoiaram a transferência da mítica antijudaica para a mítica antijesuítica: que o propósito jesuíta é o domínio do mundo, e, por isso, nalguns casos, não é estranhável que haja quem pense existir uma aliança entre Maçonaria e Jesuítas. O combate aos Jesuítas, que, em 1899, se expressou na série novelo-folhetinesca de Guedes de Quinhones, (descendente daqueloutro, que acusava os judeus de mau cheiro?), visava a Igreja, sendo concordante com a tendência hebraica, que vê o Império Judaico na sucessão da destruição de Roma.
Em 1895, a quando do Congresso Católico, os socialistas, ligados à Maçonaria ateia francesa, levaram a efeito o Congresso Socialista Anticatólico, em que se preconizou a aplicação à Igreja das medidas que o poder praticara em relação aos judeus: suspensão do ensino religioso, supressão do orçamento de culto, "ampla liberdade" religiosa e política, e apologia do registo civil. O registo civil era, para a época, o que o baptismo fora para os judeus: quem se baptizava, bem; quem não se baptizava, tinha de sair. Quem se regista bem; quem não se regista, mal. Este espírito socialista era o mesmo que levara a efeito a Conferência de Tomar, em que algumas das comunicações reivindicavam o parentesco com os Templários, sem atenção aos valores da genealogia espiritual e da teologia simbólica.
Reconhecendo apenas a soberania do povo maçónico, a Maçonaria dividiu-se em dois Grandes Orientes, de algum modo identificativos da Maçonaria do Norte e da Maçonaria do Sul, desde então se acentuando a divisão nacional, em duas metades, que não se toleram uma à outra, embora coexistam. Metade do país é republicana, outra metade é monárquica; metade é cristão-velho, metade é cristão-novo. Levando o efeito estilístico mais longe, Mário Sáa poderia identificar os cristãos-novos com os republicanos e mações, e, os cristãos-velhos, com os monárquicos e católicos. A consciência maçónica desta divisão fá-la saber que, à unidade nacional não se segue uma unidade territorial. População e território não estão aderidos um ao outro em perfeição de forma: o povo português não é; será o povo a construir pela Maçonaria. O que é, o que se vê como facto presente é o território, que, não tendo perfeita soberania, é mais do que o solo permanente, um deserto de trânsito. Curioso é de notar que, nas sucessivas constituições, desde 1822, Portugal não é definido como uma Pátria, mas como um sítio onde se está, um território que se ocupa, aspecto que não deixa de convergir com certas noções existenciais do galut judaico, e que se agravou nas duas Constituições ditadas pelo poder não-maçónico, a de 1933 e a de 1971, que começaram por definir os limites territoriais, quando, em vista da evolução política, era mais justo definir a amplitude das gentes. A Constituição do Estado Novo delimitou a pluricontinentalidade, mas não definiu à letra a plurirracialidade, cujo conceito foi pensado e desenvolvido nos escritos ideológicos, mas que devia constar da Constituição. Se importa dividir para reinar, a Maçonaria coetânea conseguiu os intentos, ao desmembrar o território, sem a provocação de um exílio massivo, como decerto ocorreria, se houvesse população constitucionalmente definida. Houve os milhentos casos de desalojados, por terem optado pela nacionalidade portuguesa, mas isso pode não constituir uma diáspora, como seria de esperar, se a partilha de cidadania portuguesa fosse dirigida à profundidade. Assim, o território maçónico parece ser o território da União Ibérica, aspecto em que há nítida identificação com as imagens sefarditas, nas quais o Sefarad é apenas um. União Ibérica é, de resto, a existência histórica da comunidade judaica de Amesterdão, onde judeus portugueses e castelhanos comungavam e falavam, quer em português, quer em castelhano...».
Pinharanda Gomes («A Filosofia Hebraico-Portuguesa»).
«A História de Portugal cinde-se em dois períodos radicalmente distintos. Sobretudo através de A Pátria e de A Mensagem, os nossos poetas, prolongando neste ou naquele sentido o ensino de O Encoberto, [e] os nossos filósofos tiveram disso perfeita consciência e o correspondente saber. O primeiro período, de um só rei para três Repúblicas - a judaica, a cristã e a islâmica -, vai até D. João III; com D. João III e o estabelecimento da Inquisição em Portugal tem início o segundo período. A tese de Sampaio Bruno é, porém, que foi no período, de absoluto predomínio da "casta" cristã, para empregar a expressão de Américo Castro, que se deu o maior avanço no aperfeiçoamento dos espíritos, cada vez mais próximos, de vinténio para vinténio, da era messiânica. O segredo deste contra-senso terá sido o aparecimento na história do cristão-novo. Deste ponto de vista, o estabelecimento da Inquisição foi providencial. É certo que os aspectos negativos ou sinistros da nossa sociabilidade se devem à especial complexão dessa criatura híbrida pela qual se define o cristão-novo: os judeus e os muçulmanos que não puderam ou não quiseram partir para o exílio, ao verem-se de repente obrigados a praticarem outra religião, aterrorizados com a destruição das suas mesquitas e sinagogas, tiveram de fingir o fanatismo, de cultivar a hipocrisia e a tradição, de praticar a denúncia ou então tiveram de viver em medo e inquietação constantes o seu criptojudaísmo ou o seu criptoislamismo. O ateísmo é também, em certos casos, um dejecto desta situação. A astúcia e o espírito diplomático, a capacidade de falar ou de pensar em duas línguas e o subtil sentido da metáfora ou da ironia são, entre outros, os seus produtos superiores. Esta última linha é a da nobreza espiritual sufi ou sefardi.
Toda a psicologia do cristão-novo converge para o dar como o elemento activo capaz de realizar a síntese entre as duas religiões, a antiga dos seus pais e a nova dos seus dominadores, isto no caso evidentemente de não ter sido corrompido pela hipocrisia, pela cobardia ou pelo ódio. Sampaio Bruno dá os jesuítas, no período de formação da Companhia, como um grupo de conversos, não diz qual a sua origem, se judaica se islâmica, mas Álvaro Ribeiro em Escolástica e Dedução Cronológica claramente significa que, ainda hoje, conduzem, na melhor forma cristã, o pensamento islâmico. Muito mais do que o sinal pela arquitectura das igrejas-salões barrocas nos alerta a semelhança dos Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola com os exercícios espirituais dos sufis. O jesuíta espanhol Asín Palacios tratou largamente da analogia no seu Islão Cristianizado. Santo Inácio era espanhol e, na verdade, a influência muçulmana é muito mais acentuada em Espanha do que em Portugal, com nítido reflexo nos fonemas da língua. Esta distinção entre portugueses e espanhóis carece de mais sólida fundamentação, mas fica aqui como uma aliciante hipótese.
"Heterodoxia" e "ortodoxia" são relativos entre si. Se houvesse incompatibilidade da doutrina, do dogma e dos sacramentos da Igreja de Christo com a kabbalah, como teria sido possível a obra catolicíssima de Joseph de Maistre, guia oculto da Ordem maçónica martinista? Joseph de Maistre não se afasta um yod da ortodoxia e, no entanto, outra coisa está por debaixo. Não será uma relação análoga que o próprio Filho do Homem estabelece entre o Novo e o Velho Testamentos?
No mundo árabe e no mundo hebraico, as relações entre heterodoxos e ortodoxos nunca atingiram o ponto de cisão que a história regista no mundo ocidental cristão, nem da parte dos primeiros nem da parte dos segundos e, se é possível, por exemplo, lembrar a excomunhão, na Holanda, de Espinosa e de Uriel da Costa, a verdade é que os kubbalim judeus ou muçulmanos nunca deixaram de respeitar integralmente a revelação dos profetas e de praticar os ritos da religião. A cisão entre heterodoxia e ortodoxia é a principal causa, no Ocidente, das grandes concepções científicas, elaboradas longe da Igreja e, por fim, contra a Igreja, que se mostra desde o início hostil ao livre pensamento, sem o qual não há filosofia, e à livre imaginação, sem a qual não há poesia. Tais concepções, nascidas da contemplação religiosa dos mistérios do universo, degeneraram, nos seus divulgadores, no materialismo mais estúpido, mas é nesta forma que abrem curso, se tornam prestigiadas pelas suas consequências no domínio da técnica e acabam por se impor ao próprio magistério eclesiástico, nos tempos modernos. Tenta-se então conciliar fé e razão, religião e ciência, mas tardiamente esquecido ou ignorado já o processo mental esotérico que poderia servir de mediador. Em consequência, têm se produzido verdadeiras monstruosidades, no domínio da apologética, como essa, por exemplo, de, perante o darwinismo vencedor, se ter chegado ao ponto de defender que Deus insuflou o espírito, o Espírito Santo, no "antropopiteco", como aquela de se vir a garantir o dogma da virgindade de Maria pela fisiologia, para não falar já das várias teses do pensamento de Teillard de Chardin, em que Deus é gerado pela própria matéria».
António Telmo («Filosofia e Kabbalah»).
«No propósito imenso de conciliar pessoalmente a razão com a fé, ou a razão com a vida, - porque a fé também nutre a vida espiritual, - procurei completar os estudos de filosofia, com os de teologia, e atraído pelo pensamento racionalista de Santo Anselmo fui levado a estudar também o problema enunciado no Cur Deus Homo. A relação do espírito divino com a alma humana, atestada por muitos testemunhos fidedignos que constituem a Bíblia, desde o profetismo ao messianismo, nunca opusera dificuldade à minha razão, mas a inserção directa do logos na carne transiente, corruptível e sofredora aparecia-me como um mistério hostil à puridade religiosa. Na perfeita consciência de que publicava um apelo a quem por demais meditara no pecado original e alcançara a fé que há-de ser católica, escrevi esta dedicatória a quem considerava integrado na filosofia portuguesa:
A JOSÉ RÉGIO,
POETA DO MISTÉRIO DA ENCARNAÇÃO
A significação subtil do epigrama crucial foi entendida pelo comum dos leitores, mas a incompreensão do vulgo letrado ainda mais me fez meditar, obstinadamente, na razão universal que suporta o alcance transcendente de tão breves dizeres.
(...) No livro de A Chaga do Lado nada vemos de satírico, de fáunico, de dionisíaco nas imagens dos poemas, mas apenas o desenvolvimento da ironia em zombaria, sarcasmo, cómico, caricaturando a reacção passional de indignação e plasticizando o sentimento do pobre. Como também nada vemos de frieza lapidar dos números pagãos nos outros poemas, embora reconheçamos a existência do talento epigramático em outras obras de José Régio. Todo o livro é, pelo contrário, a expressão séria de um cristianismo notável, actuante e dominante.
A intenção cáustica, fogosa e ígnea no procedimento de Jesus para com os vendilhões do templo nem sempre tem sido bem entendida pelos cristãos que celebram nesse episódio o justo castigo contra um crime comparável à simonia. Todos os antecedentes evangélicos, isto é, os livros dos profetas, parecem aconselhar outra interpretação. Jesus não faz mais do que proceder segundo o que disseram Isaías e Jeremias contra os holocaustos e os sacrifícios que os saduceus realizavam no Templo. O profeta havia afirmado que tal não era a vontade de Deus de Israel, o qual ordenara apenas aos fiéis que ouvissem a sua voz e cumprissem seus mandamentos.
Fiel ao Espírito Santo, Jesus exprime a sua ira e o seu furor. Justo é que se interprete a indignação do profeta contra aqueles que, apesar de tudo, tendem a conservar o culto dos sacrifícios em oferendas, vítimas expiatórias ou esmolas pecuniárias, lamentáveis restos de um paganismo de que o homem se desprende e desonera, em vez do aperfeiçoamento ético da alma, do culto de espírito a espírito, que só esse é verdadeiramente agradável a Deus. Não está, portanto, esse episódio focado sobre o pecado venial dos comerciantes que auxiliam os fiéis a praticar um culto errado, mas na significação do destino que os sacerdotes zeladores devem atribuir ao templo.
Convém não esquecer que Jesus também disse: Pai, perdoa-lhes que não sabem o que fazem. Esta frase está, aliás, mencionada num verso do poema intitulado Non est hic. Sentença de sublime ressonância que, aplicada não só aos juízes judeus como aos centuriões romanos, poderia ser estendida sobre a maioria dos cristãos ou glosada por outra de maior actualidade: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem... o que dizem.
Eis que José Régio se nos apresenta neste livro singular, como iluminado pela doutrina verdadeira que, alguns anos mais tarde, haveria de ser de católica evidência, e saudada como o advento da compreensão universal. Esta doutrina é a de revisão do processo de Jesus, em diálogo fraterno, não só por meio de estudos bíblicos e teológicos, mas também por meio de estudos históricos, a fim de ilibar da culpa de deicídio os Judeus, suas autoridades e seus sequazes, culpa que foi outrora fanaticamente transformada em maldição sobre todo o povo de Israel. Toda a documentação histórica concorre para a verdade de que Jesus Cristo foi condenado à morte pelas leis e pelos interesses do Império Romano, quando a Judeia estava sob o poder de Pôncio Pilatos, representante de César [Jules Isaac - L'Enseignement du mépris - Verité historique et muthes theólogiques - Paris, 1949].
 |
Ecce Homo ("Eis o homem"), pintura de António Ciseri, ilustrando a apresentação de Jesus Cristo por Pilatos à população de Jerusalém.
|
"Estava ali como Pilatos no Credo", dizem por vezes os cristãos que não sabem interpretar a verdade teológica da notação histórica e muito menos entender a razão bíblica de comparar o César com o Faraó. Tem, no entanto, muito alto significado para a cultura europeia o facto de o último profeta haver sido supliciado pelos legionários do Império Romano. No próprio credo litúrgico se faz a extensão católica desta verdade, quando se afirma que Jesus Cristo "foi por nós crucificado, morto e sepultado", o que significa o sacrifício pela redenção de todos os pecadores, sem distinção de cultos, povos ou raças.
(...) José Régio escreve como quem acredita ter sido Jesus o Messias, o Cristo, o Ungido, o Redentor, pois celebrou em muitos poemas o mistério do Natal. Os evangelhos de S. Mateus e de S. Lucas são claros e explícitos ao afirmarem a divindade de Jesus, anunciada a Maria por intermédio verídico dos Anjos. Ora a aceitação da divindade de Jesus, e a crença perfeita nestes passos misteriosos dos Evangelhos, é que distingue o cristão de todos os outros fiéis da Bíblia, nomeadamente dos que seguem a religião de Moisés e a religião de Maomé, os quais de outro modo interpretam a divina missão do profeta de Deus.
José Régio teve ocasião de se pronunciar sobre a figura de Cristo em um escrito notável. Manifestou a sua dificuldade em conciliar as diferentes morais do Evangelho, ou a moral de Jesus. No entanto declarou limitar-se a falar apenas de Jesus Nazareno, Jesus Cristo homem, abstendo-se de quaisquer referências ao problema delicadíssimo da divindade.
Mais tarde, em escrito oportuno disse José Régio condenar "todo e qualquer antropomorfismo religioso". Esta sentença que afasta o mistério da encarnação, tão avultado no paganismo como no cristianismo, surpreendeu muitos leitores. Significou, para muitos, falta de consciência responsável perante uma obra artística.
Dir-se-ia que o douto jornalista se esquecera de que o antropomorfismo é uma condição natural do conhecimento humano, se não a sua norma, no dizer de Protágoras, para alcançar objectivamente as representações artísticas e religiosas, porque só o filósofo como tal pode aspirar a intuir o Espírito Absoluto. É a antropolatria, e não o antropomorfismo, que merece condenação, numa total repugnância pela divinização do homem, tal como surgiu historicamente no culto dos Faraós e no culto dos Imperadores. O Império Romano define a verdade que os Estados ensinam, e a presença de Pilatos na Judeia significa o intento de manter o predomínio de uma antropolatria ameaçada por um povo religioso que exalta a transcendência da fé.
Esquema lógico para esta meditação subtil é a tríade aristotélica de Tempo, Espaço, Movimento, referida em A Ideia de Deus, livro de Sampaio Bruno. Convém, todavia, recordar que para Aristóteles o movimento não se limita à deslocação na linha do espaço ou na linha do tempo, como acontece na física de Descartes. O movimento é a passagem da potência ao acto, e desta noção deriva a infinidade da vida religiosa.
Em réplica ao livro de Sampaio Bruno, escreveu Leonardo Coimbra uma tese cujo título exacto poderia ter sido Deus e o Mundo. Com efeito, ao problema que nestes dois termos se enuncia, só há duas soluções possíveis: a criação e a emanação. Leonardo Coimbra optou pela tese bíblica, judeo-cristã, que defendeu científica e filosoficamente no admirável livro que intitulou de O Criacionismo.
Jesus não se propôs ensinar a cosmologia do Génesis, nem defender a fidelidade literal aos escritos atribuídos a Moisés. A filosofia de Jesus, predominantemente messiânica, aparece muito mais voltada para o inteligível do que para o sensível, e o profeta, desinteressado das coisas deste mundo, nem sequer ensinou uma gnoseologia condicionada pelas ciências positivas. Tal é um ponto sobre o qual devem fixar seus olhos todos os historiadores ao julgarem como os cristãos procederam quando exigiram fidelidade a todas as palavras intangíveis da Vulgata Latina.
Tanto Leonardo Coimbra como José Régio se interessaram pela vida de Jesus, especialmente tal como ela aparece narrada nos Evangelhos, ou livros angélicos. A atenção à figura de Satanás, o tentador, como à dos diabos e demónios preocupou os dois escritores, como se pode verificar em leitura subtil de escritos muito notáveis. Diremos, todavia, que a figura mais sinistra dos Evangelhos nos parece ser a de Pilatos, homem suficientemente humano, político que não altera uma palavra das suas sentenças ou dos seus decretos, porque lhe repugnava emendar seus erros.
Estamos a vê-lo com todo o relevo actual a fazer perguntas escarninhas ao profeta. "Então o Senhor dedica-se à filosofia? Diga-me lá o que é a verdade". Jesus não responde porque as respostas excedem a inteligência limitada de quem se ocupa só com o reino deste mundo.
 |
| Cristo perante Pilatos, de Mihály Munkácsy (1881). |
Aos Judeus, sobre os quais governava, Pilatos ousa dizer: "Este idiota parece-me inofensivo. Não vejo em que possam as suas opiniões loucas fazer qualquer mal à sociedade". Logo replicam os sacerdotes e os anciãos: "Mas vemos nós, porque as suas parábolas heréticas e as suas blasfémias sacrílegas incitam as multidões a revoltar-se contra o poder de César e o poder de Deus". Considerando de pouca monta a condenação à morte de mais um homem, Pilatos, depois de haver açoitado Jesus, limita-se a dar testemunho da sua neutralidade e da sua indiferença, lava as mãos, presta satisfação aos ímpetos sanguinários dos componentes do Sinédrio.
Cristo não professou qualquer doutrina política, económica ou social, e muito menos defendeu qualquer sistema jurídico semelhante aos que concorrem nas sociedades do nosso tempo. A Igreja de Cristo só perde, portanto, em se solidarizar com quaisquer teses alheias, e muito em considerá-las partes alienáveis do seu apostolado. A distinção entre o que é de César e o que é de Deus significa para o homem religioso a afirmação de que só é válida uma política de direito divino, isto é, convergente para a teocracia.
Jesus ensinava, de certo, na sinagoga ou biblioteca, a doutrina dos livros de Moisés, não à maneira dos escribas, mas com inspiração própria, ou autoridade. Usava, de preferência, uma linguagem com parábolas, pelo que é incorrer em erro interpretar à letra as palavras que Jesus dizia em acepção simbólica. Em especial os termos que usamos para designar valores económicos, tais como tesouros, riquezas, moedas, serviam muitas vezes para designar valores espirituais, como as parábolas e as palavras que os ricos hão-de distribuir pelos pobres.
Pobres e ricos, pobres de Espírito e ricos de Espírito, todos quantos entendiam as palavras de Jesus só pensavam no Reino dos Céus. Não assim aqueles que lhe faziam perguntas capciosas acerca da interpretação dos textos sagrados, nem aqueles que promoviam intrigas para que o sacerdócio judaico se incompatibilizasse com o Império Romano. A doutrina de Jesus, essencialmente voltada para o futuro incógnito, era por isso mais messiânica do que profética.
Jesus pede apenas aos homens de Israel que façam penitência, isto é, que se arrependam de seus pecados. Almas do Purgatório, que é o verdadeiro nome deste Mundo, sofrem a purificação pelo fogo e pela água, praticam meticulosamente as abluções sacramentais no Templo, quando João baptiza no rio Jordão. Cristo doutrina superior processo catártico, verdadeiramente espiritual, que é o perdão de todas as ofensas, e desse modo uma mudança de procedimento para com os homens e para com Deus.
Jesus ensina o que seja o Reino dos Céus por parábolas ou comparações. Entre elas avulta a de que o semeador é o orador; a semente, a palavra; a doutrina, o pão-e-vinho, pelo que a homilia vale de Eucaristia. Nutrimento e medicamento, o verbo simboliza o Espírito Santo.
Há muitos séculos já que estas parábolas foram difundidas, vulgarizadas pelo mundo inteiro. Muitos homens as conhecem bem, e ao aplicarem os seus provérbios rememoram a santidade do Velho Testamento, aliança de Deus com Israel. Diferem, porém, os crentes no discernir qual seja a originalidade da doutrina de Jesus.
Aos seus discípulos eleitos ensina Jesus uma doutrina superior, que eles haveriam de desocultar e propagar em tempo oportuno. "A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou". Ao declarar-se, como Moisés, enviado de Deus, mas também filho de Deus, usava de uma expressão tradicional que os seus contemporâneos já não entendiam, por muito que Jesus, referindo-se ao Espírito Santo, explicitamente dissesse: "Também vosso Pai, que está nos Céus".
Jesus ensina a invocação, antes de mais. Ensina os homens a receberem a mensagem divina. Jesus ensina os mandamentos de Moisés, que os fariseus, saduceus e escribas haviam deixado de cumprir e até de ensinar, mas o primeiro mandamento da lei de Cristo resume-se em dois verbos: doar e perdoar. Este preceito é constante e insistente ao longo das narrativas evangélicas. Ele aparece simbolicamente explicitado na expulsão dos demónios, no curativo das doenças, no desprendimento dos bens materiais, em sucessivos exemplos e conselhos.
 |
| Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas!, por James Tissot. |
A alusão torna-se explícita no comentário ao preceito da separação, do desquite ou do divórcio consentido por Moisés em atenção à dureza de coração, mas até nesse domínio delicadíssimo das relações entre homem e mulher aconselha Jesus a virtude infinita de perdoar. Apologia do perdão universal, do acto de perdoar ao irmão, ao amigo, ao próximo, ao vizinho, ao forasteiro, ao estrangeiro e até ao inimigo, como graça propiciatória do amor preceituado nos dois principais mandamentos de Moisés, causava escândalo aos legistas e escribas, homens dos livros, que começavam a adaptar os seus preceitos éticos às normas pautadas pelo direito romano. Eram legistas romanos os inspiradores daquela justiça social que não perdoa desigualdades, mas que para definir a igualdade recorre à abstracção matemática, por conta, peso e medida, que no rigor formal se desprende dos aspectos concretos nas relações humanas.
No código romano, o direito de matar, de prender e de punir, já se humanizava em contraste com as práticas vingativas que eram usuais nos povos bárbaros, conquistados e dominados, mas extraída dos livros inspirados por Deus, a doutrina de Jesus era infinitamente superior quando insistentemente afirmava: Não julgueis. "Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém, julgo". Jesus Cristo lutava contra a tendência de cada homem para condenar o seu semelhante, depois de o julgar em sentenças cujo formulário começa por expressões análogas a estas: O que ele merecia era que... Havia de haver uma lei que punisse... Não há direito!
Todos os homens querem dar sentenças, ser juízes, apreciar a justeza antes da justiça. O processo tem por fim condenar o culpado, e ao juiz compete escrever a sentença que determina a qualidade e a quantidade da pena, mediante recurso ao texto codificado. A condenação é essencial ao juízo, já que a absolvição é, tecnicamente, retrocesso, ou interrupção do processo a favor do acusado, que, desprendido de vínculos jurídicos, deixa de ser sujeito de qualquer sentença.
A justiça teológica é, deveras, o prémio, a recompensa, a retribuição, a dádiva, a graça. Eis o que, no direito romano, está fora da alçada do juiz, cujo raciocínio matemático permanece aquém da intuição de amor. Jesus ensina aos ricos de espírito que distribuam os seus bens pelos pobres de espírito, em parábolas que não entendem quantos as interpretam à luz da política, da economia e da técnica, como justiça de César e não como amor de Deus.
Interpretando com espírito cristão a letra dos Evangelhos redigidos em grego e traduzidos em latim, veremos que a penitência aconselhada ao povo de Israel para advento do reino dos céus significa exactamente aquele esforço de ascética, dificílimo ao homem inferior ou decaído, de sublimar a vingança pelo seu contrário, de abrir-se ao amor universal. As palavras evangélicas oscilam da designação para a significação, em obediência às leis da semântica. As parábolas de Jesus são comparações, e portanto juízos, na acepção teorética de opinar, apreciar, dizer, porque só os juízos permitem formar doutrina.
A mensagem cristã não era, pois, de condenação mas pelo contrário, de redenção. Só nesta acepção se entende que Jesus aceitasse ser condenado à morte na cruz romana, símbolo de um acontecimento que seria de assombro para os juízes da terra, a revogação final do direito de punir. Mais eloquente, e por isso mais profética, foi também a exclusão da espada romana como símbolo da pena de morte, nos dizeres condenatórios do procedimento livre de Pedro contra o automatismo inconsciente dos soldados.
Eis porque nem a cruz, nem a espada, nem o escudo nos parecem dignos de simbolizar a verdadeira doutrina de Cristo, ou cristismo. São meros emblemas acidentais de referência ao Império Romano e à sua justiça legal, desenhos de muito menor valor artístico do que a esfera armilar, símbolo da expansão generosa do povo português. Levar as riquezas do Espírito aos pobres de Espírito, difundir a revelação de Deus nas palavras de seus profetas, completar a doutrina messiânica pela acção missionária, são realidades que requerem símbolos próprios da filosofia literária.
Não era só a citação exacta de muitos passos das Sagradas Escrituras e de invocação aos patriarcas e profetas, o que na oratória do letrado Jesus, segundo os Evangelhos, causava assombro aos saduceus, aos fariseus e aos escribas. A sua argumentação surpreendia pela mobilidade da inteligência que, passando por tropos inauditos, rechaçava novas significações dos termos estratificados: esta pedra, este templo, este reino. Tais palavras vulgares, quando transformadas em símbolos de realidades superiores, transferência, desprendimento, absolvição, eram incompreendidas e deturpadas até por aqueles que se afirmavam doutores da lei.
 |
| Amaldiçoando os fariseus, por James Tissot. |
O entendimento universal, católico e ecuménico entre judeus, cristãos e pagãos não foi dificultado por intriga dos que temiam reconhecer o Messias, mas foi efectivamente impedido pela política do Império Romano, mediante os seus magistrados que ditavam leis a cumprir pelos cobradores de tributos e pelos militares a soldo. Acompanhado por lanceiros e escudeiros, o Rei dos Judeus não foi lapidado pelos seus correligionários mas obrigado a levar a cruz ao Calvário, onde morreu e perdoou àqueles que não sabiam o que faziam, pois limitavam-se a cumprir o que diziam as profecias. Outros impérios, séculos depois, assentes na tirania, no tormento e no trabalho, segundo a tríade clássica, continuaram a impedir o entendimento universal, católico e ecuménico de todos os povos.
Depois de Cristo, o messianismo já não pode ser interpretado como espera do advento de um homem superior. Tal não é também o dogma de quantos não reconhecem em Jesus a figura angélica ou sobrenatural do Messias. O messianismo é uma doutrina de fé, esperança e caridade, a propagar na intenção da fraternidade universal...».
Álvaro Ribeiro («A Literatura de José Régio»).
HÁ UMA IDEOLOGIA DOS CRISTÃOS-NOVOS?
O problema da ideologia dos Cristãos-Novos não pode pôr-se unicamente no terreno religioso. Haveria que averiguar, antes de mais, se este grupo social manifesta uma atitude global perante o mundo prático em que participava.
Para uma primeira sondagem, dispomos de um conjunto de textos em que, justamente a propósito da situação particular dos Cristãos-Novos, é patente uma concepção mercantilista que se apresenta como previdente e sensata frente ao aventurismo, à delação gratuita, ao fanatismo devastador ou à ignorância que se atribuem à sociedade tradicional.
Duarte Gomes de Solis é genro de Francisco Dias Gomes de Brito, grande capitalista de Lisboa, o qual é por sua vez sobrinho do célebre Francisco Mendes, Cristão-Novo emigrado, cunhado de Gracia Nassi. Na sua Alegación en favor de la Compañia de las Indias Orientales (1628), que é uma defesa das companhias de tipo holandês, ao mesmo tempo que uma apologia dos «homens de negócio» ou «homens da nação», um ataque à discriminação de que são vítimas e uma reivindicação do lugar que lhes compete na sociedade portuguesa e espanhola, o autor nota «o grande ódio que em Portugal se tem contra os homens de negócio», ódio que se manifesta na discriminação a que estão sujeitos, inclusivamente no que respeita aos contratos do Estado. Afirma que o comércio com as Índias Orientais deve correr por via destes «homens de negócio», «homens tão honrados como ricos, que não por contratos com chatins pobres. Que se os fidalgos e ministros apreciassem a mercancia, saberiam fazer diferença entre mercadores e mercadores» (30). Incita o Rei a «favorecê-los com privilégios e imunidades conforme à qualidade das suas pessoas e ao que delas pode esperar nas coisas do seu real serviço, para lhes levantar ânimo [...] E que os Portugueses da nação que hoje residem no reino de Portugal e em todas as suas conquistas sejam tidos na mesma conta, honrando-se aos que mais tratarem de aumentar a contratação, por ser a gente mais necessária e de que maior necessidade têm todas as Espanhas» (31). Gomes de Solis, em nome do interesse do Reino, identificado com o interesse da mercancia, insiste na necessidade de abolir a discriminação; e não deixa de tocar, embora sem alusão explícita, no melindroso problema da Inquisição. Propõe que «para que os bons possam gozar dos privilégios que a naturais são devidos», se desterre «a gente de má vida ou ruim presunção» e que fiquem os outros com todos os direitos dos «naturais». «Sejam as leis que se arbitram contra os Cristãos-Novos [para] os que saem sambenitados; e gozem os que podem provar nos seus ascendentes limpeza e fidelidade das imunidades de que gozam os naturais em todas as partes do mundo» (32). Esta proposta será retomada e desenvolvida mais tarde, como veremos, por D. Luís da Cunha e outros adversários da Inquisição. A peroração do livro é uma apologia da «gente da nação» portuguesa: «... tudo são causas para que a gente da nação portuguesa possa gloriar-se da natureza que lhe deu Portugal, com tão grande fama que possam valer tanto nas terras dos príncipes cristãos e tão pouco na sua própria pátria. Que, se nela o valor e a virtude pudessem granjear-lhes a honra, o ânimo se lhes levantaria a feitos históricos, pelo prémio que se poderia seguir. Pelo que não somente aventurando as vidas, mas ainda as fazendas, próprias e dos parentes, inventariam instrumentos de guerra para maior defesa da Pátria, se soubessem que seriam premiados pelos mesmos seus feitos. E cessariam os bandos que destroem tudo».
A Inquisição aparece, implicitamente, neste livro de Solis, como a inimiga do comércio, sendo este, ao fim e ao cabo, a base da prosperidade do império. A apologia da gente da nação não se apresenta neste Cristão-Novo como uma reivindicação de grupo; ela decorre naturalmente das necessidades económicas. É como se a Inquisição fosse um corpo estranho obstaculizando a ordem natural das coisas, que é progresso da riqueza pela expansão mercantil.
Outro autor fala dos «bandos que destroem tudo». É António Henriquez Gomez num livro que se refere especialmente a Portugal e escrito na comunidade portuguesa de Ruão. Este suposto judaizante, condenado pela Inquisição espanhola, era filho de um cristão-velho, casado com uma cristã-velha, homem de negócios e autor literário. Acabou queimado em estátua pela Inquisição espanhola. Numa obra impressa em 1647 com o título Política angélica (33), sustenta que «a maior ruína que pode vir à monarquia, à república, à nobreza e enfim à salvação das almas é excluir, apartar e vituperar as linhagens. Este é o mais acautelado, o mais cruel e o mais bárbaro arbítrio que o Demónio semeou entre a Cristandade. Com ele se manchou todo o lustre da nobreza, com ele se ausentaram do Reino as melhores famílias. Este arbítrio fez milhares de infiéis, tiranizou o amor ao próximo, dividiu os povos em bandos espirituais, empobreceu as cidades, eternizou as vinganças, tirou da Igreja de Deus muitos varões justos, levantou um cisma diabólico entre as gentes, deu vingança aos estranhos e pouca estimação aos próprios, pôs nas igrejas, em vez de santos, pinturas diabólicas como são chamas de fogo e figuras do Inferno, desterrou os mortos, desonrou os vivos, exibiu as estátuas dos ausentes, deu a entender ao povo inocente as heresias dos réus para meter cizânia nos discursos humanos [...]» (34).
Henriquez Gomez visa especialmente nos seus ataques o Fisco inquisitorial, que dá causa a se ausentarem muitos homens de negócio. Sem o comércio quebram-se as rendas reais, por falta de matéria tributável; decai a agricultura, por falta de investimento (como diríamos hoje); enche-se o Reino de vagabundos e de malfeitores. Entram em acção os «arbitristas», charlatães que querem fazer crer ao Rei que sabem tirar água de uma pedra. Estes agravam a situação propondo remédios desastrosos onde é preciso «deixar obrar a natureza». Acrescem os denunciantes e malsins, que vivem das confiscações. Em suma, o confisco, que é uma forma de roubo, consome os capitais do Reino, e «um império sem comércio é o mesmo que um corpo sem alma» (35).
Mais longe porque se eleva a um nível ideológico superior, vai o nosso conhecido Manuel Fernandes Villa Real, amigo de Henriquez Gomez e do P. Vieira, no seu mencionado El Politico Christianissimo. Sem dúvida que na origem das suas reflexões estão também os problemas económicos, porque o objectivo último dos seus esforços é levantar a hipoteca que por via do confisco inquisitorial pesava sobre a riqueza dos «homens de negócio» (36). No seu livro que já referimos há uma alusão expressa ao confisco: um vassalo que se convence de que o querem converter para lhe tomarem os bens julga que essa acção procede mais da cobiça que da caridade cristã. Mas o essencial é que o Autor se eleva a um ponto donde abrange todo o problema da liberdade de crença. A pretexto do panegírico do cardeal Richelieu, este cristão-novo português emigrado em França escreve que a redução dos súbditos à verdadeira religião se deve fazer pela persuasão e nunca pela força; não se pode iluminar uma alma cega «pela obscuridade de um processo e pelas trevas de uma longa prisão». De caminho, (...) o nosso Autor alfinetava a Inquisição portuguesa. Encontram-se no seu livro belas fórmulas inspiradas no racionalismo burguês, que Villa Real só podia ter conhecido fora da Península Ibérica: «Fazer escravos aqueles que a natureza fez livres não é obedecer a Deus, mas contradizer as suas obras». Por este lado, o livro aproxima-se ainda que discreta e longinquamente da problemática de Uriel da Costa.
Mas convém notar, sobretudo no que respeita aos temas económicos, que estas e outras ideias não são exclusivas dos Cristãos-Novos. Na realidade eles levantam problemas de que os homens esclarecidos desta época vão ganhando consciência à medida que se torna latente a contradição entre as instituições senhoriais dominantes e o processo de formação da riqueza, cada vez mais predominantemente mercantil. Adiante encontraremos homens como o marquês de Nisa, como Duarte Ribeiro de Macedo, como o embaixador Sousa Coutinho, no campo de Solis, de Villa Real ou de Gomez Henriquez, na luta contra a Inquisição em nome do interesse económico do Estado. O que está em causa, no fundo, é a transformação geral resultante do surto da burguesia mercantil e o ter ou não foro de cidade a mentalidade compatível com o papel dominante que ela se propunha desempenhar na sociedade portuguesa.
Mais do que todas significativa é a posição em que se coloca o P. António Vieira nos seus escritos a favor dos Cristãos-Novos a partir de 1646. Sendo Jesuíta, o P. António Vieira está em princípio excluído da mancha de cristão-novo. Mas na sua campanha pelos Cristãos-Novos retomou os argumentos e exprimiu os pontos de vista deles. A seu lado, na mesma trincheira, concertadamente com ele, combateu o cristão-novo Manuel Fernandes Villa Real e provavelmente Henriquez Gomez, que acabamos de conhecer. Como este último, Vieira desenvolve o tema da importância do comércio na «República». Segundo Vieira (37), foi pela navegação e pelo comércio que cresceu outrora a prosperidade do Reino, e foi por falta de comércio que Portugal decaiu no miserável estado a que está reduzido. A insegurança das fortunas dos homens de negócio, em resultado do fisco inquisitorial, é a causa principal da decadência do comércio. O que se impõe, portanto, é «libertar o comércio» isentando da pena do confisco a fazenda dos mercadores ou gente da nação. De passagem, Vieira sublinha o antagonismo entre as duas políticas económicas: a que vive da opressão tributária e a que vive da prosperidade comercial: «Onde se há-de advertir a diferença que há entre o rendimento dos tributos e o do comércio: que o dos tributos, além de ser violento, necessariamente mingua, e o do comércio a ninguém molesta e sempre vai em aumento» (38). As necessidades da guerra davam extrema acuidade a este dilema: «Portugal não poderá continuar a guerra presente [...] sem muito dinheiro; para este dinheiro não há meio mais efectivo, nem Portugal tem outro senão o do comércio; e o comércio considerável não o pode haver sem a liberdade e segurança das fazendas dos mercadores» (39). Tais são as razões que justificam a abolição do fisco inquisitorial. E Vieira vai mais longe. Atendendo à importância do comércio na «República», propõe a nobilitação dos mercadores: "que vossa Majestade fizesse nobre a mercancia, de maneira que não só lhe não tirasse mas desse positiva nobreza, ficando nobres todos os mercadores não só os que chamam de sobrado ( = comércio a retalho). Com o que muitas pessoas de maior qualidade e Cristãos-Velhos se aplicariam ao comércio mercantil com grande utilidade do Reino, a exemplo de Veneza, Génova, Florença e outras repúblicas em que os Príncipes são mercadores e elas por isso opulentíssimas" (40).
Esta curiosa proposta de nobilitação dos mercadores só se pode compreender no contexto da discriminação inquisitorial e dentro da interpretação segundo a qual a Inquisição pretendia isolar a burguesia mercantil em favor da nobreza dominante. Uma vez que os Cristãos-Velhos se entregassem ao comércio, desapareciam os «bandos» que são causa de todos os males. Mas a proposta de Vieira põe em questão nada menos que a estrutura político-social portuguesa no século XVII.
Pode, assim, falar-se de uma visão social e económica do mundo a que os Cristãos-Novos aderiram pela força da sua condição de mercadores, mas que de modo algum é uma visão consubstancialmente étnica. Se passarmos ao plano religioso, a situação deste grupo social aparece-nos dependente de variados factores.
Como notou Groethuysen na obra já citada, o Burguês é tendencialmente ateu. A sua própria actividade obriga-o à previsão, mostra-lhe que é possível disciplinar a fortuna caprichosa, dominar em certa medida o destino individual. «Os balanços do fim do ano, como os livros de Física, expulsam os mistérios» (41). Mesmo quando cumpria os ritos, o Burguês tendia a descrer do Deus medieval, deixando-o a um vulgo com que ele, Burguês, não se sente confundido. Mas no caso português há outros elementos a ter em consideração que são, por um lado, os antecedentes religiosos de uma parte dos antepassados da gente da nação, por outro, os efeitos da repressão inquisitorial.
Indicámos as razões pelas quais nos parece que o Judaísmo deixou de ser praticado em Portugal, a não ser excepcionalmente, em famílias muito tradicionais e que não se misturaram com os Cristãos-Velhos. Estas últimas devem ter constituído uma boa parte das primeiras vagas de emigração, e puderam judaizar além-fronteiras. Elas foram os pioneiros dos núcleos de Judeus portugueses na Turquia, em Marrocos, na Itália, na França, nos Países Baixos. Citemos, por exemplo, os irmãos Usque, Abraão, que editou livros portugueses em Ferrara, e Samuel, autor da Consolação às Tribulações de Israel, obra que pertence simultaneamente à cultura judaica e à literatura portuguesa.
Mas tem-se exagerado a importância destes núcleos como prova de persistência do culto judaico em Portugal. O facto de muitos dos emigrantes que posteriormente partiram para escapar à repressão inquisitorial aderirem às sinagogas já instaladas (embora outros, mesmo no estrangeiro, continuassem católicos) não prova que judaizassem em Portugal. A este respeito temos testemunhos preciosos de Cristãos-Novos e outros portugueses emigrados. Um deles é o de Ribeiro Sanches na obra já citada. Para se pôr a salvo de novas prisões, o Cristão-Novo que já conheceu o cárcere abandona a pátria na primeira oportunidade. «A navegação mais fácil que acha é para a Holanda, Inglaterra ou França, aonde chega ignorante da língua daquelas terras, sem conhecimentos mais do que dos Judeus portugueses ou castelhanos entre os quais acha parentes e amigos; e, ou de boa vontade, ou forçados da necessidade, como já sucedeu algumas vezes, se fazem judeus». Perdido no estrangeiro, outrora como hoje, o emigrante português tendia a aproximar-se dos compatriotas já instalados e organizados, sujeitando-se para tanto à lei em que estes viviam. Tanto mais que esses núcleos de portugueses eram ricos e poderosos.
Outro testemunho, muito curioso, é um passo pouco citado de Uriel da Costa, no Exemplar Humanae Vitae. «Por mero acaso», conta ele, «tive conversa com dois homens que, de Londres, vieram a esta cidade [Amsterdão], um espanhol, outro italiano. Eram cristãos e não tinham ascendência judaica; mas apertados pela penúria pediram-me conselho acerca de entrarem na sociedade dos Judeus e aderirem à religião deles». Uriel, que detestava a Sinagoga, onde era aliás obrigado a viver, tratou de dissuadi-los. «Mas, como agradecimento, estes maus homens, interessados no sórdido lucro que esperavam cobrar, revelaram tudo aos meus caríssimos Fariseus» (42). Tal era a força dos interesses representados na Sinagoga, que mesmo cristãos sem ascendência judaica, e inclusivamente não espanhóis, tentavam nela penetrar, com vista ao negócio. Entrar na Sinagoga, independentemente de motivos religiosos, ou mesmo nacionais, era entrar num clã e numa espécie de maçonaria cujas malhas se estendiam através do mundo. E, pelos vistos, havia muito nesta época quem pensasse que Paris vale uma missa - ou uma Páscoa judaica. De resto, a história do próprio Uriel da Costa, que teve de abdicar perante a Sinagoga, apesar de descrer do judaísmo, é muito significativa a este respeito.
O Cavaleiro de Oliveira, que saiu de Portugal em 1734 e que percorreu a Europa, tendo vivido vários anos em Amsterdão, testemunha acerca da crença dos supostos judaizantes portugueses emigrados, muitos dos quais conheceu pessoalmente. Escreve ele no Discours pathétique (1756):
«Essa pobre gente, vendo-se errantes e vagabundos pelo mundo, ignorando a língua desses países onde procuravam asilo, privados de todas as comodidades de vida, e até de pão [...] caíam nas mãos do Judeus, que os recebiam no pé de prosélitos da lei de Moisés. Uns tomavam esse partido porque encontravam nisso vantagens materiais, outros porque tinham inclinação. Mas que trabalho não tinham os mestres das sinagogas para os instruírem numa lei cujos mandamentos e preceitos eram para esta gente coisa inteiramente nova? Conheci alguns que por muito judeus que se dissessem nunca conseguiram desfazer-se da preferência pelos princípios da religião em que tinham sido criados. Havia os que chegavam a rezar todos os dias o rosário; outros conservavam e adoravam ainda as medalhas e imagens de vários santos, que tinham trazido de Portugal. Houve um que me confessou que, se se dissesse a missa na sinagoga, se faria judeu de todo o coração, mas, não sendo assim, só o seria nas aparências, a fim de alcançar a subsistência de que necessitava».
O nosso Autor dá como exemplo uma mulher chamada Ana, que ele conheceu pessoalmente, convertida com o marido, ao Judaísmo, «e que nunca deixava de rezar o seu rosário todas as noites, e de recitar o ofício de Santa Ana, diante duma imagem desta santa posta em cima de uma mesa e iluminada por duas velas».
Mas, conclui ele, «se estes pobres ignorantes se não tivessem retirado a tempo de Portugal, teriam infalivelmente caído nas mãos cruéis dos inquisidores e perdido a vida nos patíbulos» (43).
Estes testemunhos concordantes mostram que do grande número de Portugueses emigrados que participavam nas sinagogas não se podem tirar conclusões sobre a religião que praticavam em Portugal. As sinagogas fundadas pelos emigrados portugueses foram obra da minoria irredutível, a que aderiram, pelas circunstâncias indicadas, fugitivos estranhos à religião hebraica, mas perseguidos pela Inquisição.
Tem-se atribuído especial importância ao grande número de processos inquisitoriais movidos em Espanha aos Portugueses imigrados a partir do final do século XVI, prova, segundo se supõe, de que eles continuavam a praticar os ritos judaicos do seu país de origem, diferentemente do que sucedia com os Cristãos-Novos espanhóis, nesta época quase inteiramente cristianizados. Mas este problema precisa de ser revisto tendo em conta que os perseguidos, antes de Cristãos-Novos, eram Portugueses, que ainda por cima ocupavam posições privilegiadas em terra estranha. Como veremos adiante, os Portugueses constituíam um grupo económico poderoso espalhado em toda a Europa e com ramificações no Ultramar. Em Espanha particularmente tinham na mão uma grande parte das rendas e monopólios do Estado, sem falar da sua função de banqueiros e agiotas e do seu valimento na Corte. É natural que esta minoria nacional poderosa se tornasse alvo da animosidade dos naturais. Nenhuma conclusão definitiva pode tirar-se enquanto não for experimentada esta hipótese de trabalho. É certo, entretanto, que em muitos dos processos resumidos ou extractados por Júlio Caro Baroja encontramos frequentemente as pegadas de malsins, provocadores, testemunhas falsas, inclusivamente ao serviço do Conde-Duque de Olivares, dentro das redes de intrigas que, como no caso de João Nunes Saraiva, resultam de rivalidades entre grupos de interesses mercantis. E seja dito de passagem que o mesmo processo de Saraiva, tal como o resume Baroja, está cheio de episódios e diligências que fazem pôr em dúvida a culpabilidade do réu (44).
Mas da própria emigração é possível tirar argumento contra os que, tal como os inquisidores, acreditam no Judaísmo dos Cristãos-Novos. Muitos membros desta minoria perseguida emigraram para o Brasil, onde durante mais de um século desfrutaram de quase completa liberdade. Antes do século XVIII a Inquisição apenas fez ali três ou quatro breves investidas. Se estes Cristãos-Novos emigrados praticassem, de facto, o Judaísmo, o Brasil ter-se-ia tornado terra de judaizantes ou de fortes tradições marrânicas. Ora isto não aconteceu neste país onde, todavia, o encontro das culturas cristã, ameríndia e africana deu lugar a movimentos heréticos, e onde ainda hoje florescem ritos de origem africana. Não há uma tradição marrânica brasileira. O único núcleo de judaizantes conhecido foi fundado por dois rabinos portugueses vindos da Holanda, com a invasão holandesa, em terra ocupada por Holandeses. Por ocasião da «visitação» ou inspecção inquisitorial de 1591 já havia numerosos emigrados no Brasil; no entanto, as denúncias conhecidas quase não se referem a actos de Judaísmo. O próprio Lúcio de Azevedo o reconhece: o visitador recebeu poucas denúncias «em que aparecesse clara a prática das cerimónias judaicas...» Mas acrescenta, mostrando o seu parti pris: «tanto se acautelavam os observantes» (45). É mais simples e mais lógico supor que não havia tais «observantes», sobretudo tratando-se de uma terra onde as pessoas viviam muito mais soltas e com menos cautelas do que em Portugal. O que na realidade sucedia é que não existia ainda uma burguesia brasileira bastante considerável para interessar os inquisidores.
Houve-a mais tarde, no começo do século XVIII, e é então que a Inquisição começa a descobrir judaizantes numerosos entre os senhores de engenho e outros burgueses brasileiros. De tal modo que o rei de Portugal teve de proibir as confiscações dos "engenhos", especialmente atingidos pelo saque inquisitorial (46). A este grupo de perseguições pertence António José da Silva e sua família, cujos processos merecem o crédito que vimos noutro capítulo.
Mas o problema religioso dos Cristãos-Novos não se reduz ao Judaísmo que lhes é imputado pela Inquisição e pelas pessoas que ela influenciou. Além da condição de burgueses que lhes inspira uma certa mundividência, e provavelmente uma tendência à incredulidade, há a considerar que a conversão forçada, primeiramente, e a perseguição inquisitorial, depois, os colocaram sob o ponto de vista espiritual numa situação particular. A conversão forçada foi o ponto de partida, como vimos, de uma assimilação progressiva. Mas nas primeiras gerações, que por ela foram directamente atingidas, causou uma ruptura ideológica e psicológica cujas consequências não é fácil medir. Por um lado, uma duplicidade. Houve, certamente, uma minoria que sob a exterioridade do culto cristão se manteve fiel pelo coração à religião da infância e dos antepassados, minoria que tende a extinguir-se quer pela morte natural, quer pela emigração. Outros, pelo contrário, em virtude de uma lei psicológica bem conhecida, que deu origem, ao longo da história, a tantos renegados, tornaram-se cristãos fanáticos, como para se libertarem violentamente de uma opção vedada. Num e noutro caso, da antiga cultura devem ter subsistido usos e costumes tradicionais que, justamente por terem perdido o significado religioso, não eram obstáculo aos casamentos entre descendentes de antigos judeus e descendentes de antigos cristãos, e podiam inclusivamente transmitir-se a estes últimos. É o que sucede, parece, com certas receitas culinárias que começaram por ser ritualmente hebraicas e acabaram por se tornar tipicamente espanholas: caso do emprego do azeite onde no resto da Europa, como na Espanha antiga, se usa normalmente a gordura animal.
O que mais importa, no entanto, é que do traumatismo da conversão forçada parece resultar, globalmente, uma certa inquietação, ou talvez melhor um certo dinamismo que podiam aliás conduzir a duas conclusões opostas. Estes cristãos, que tinham sido judeus e portanto tinham conhecido duas formulações diferentes do sentimento religioso, podiam ser levados a depreciar o ritual exterior, precário e mutável, e a procurar, através de uma vivência religiosa intensa, a substância espiritual que ele esconde e degrada. Sob a letra morta ressuscita o espírito. Bataillon chama a atenção para a importância dos Cristãos-Novos nos movimentos místicos dos «alumbrados» e dos «desejados» em Espanha, cerca de 1525 (47); e não deixa de ser curioso que Santa Teresa de Ávila pertencesse a uma família de Cristãos-Novos, embora de longa data assimilada. Mas a atitude oposta, ou seja a incredulidade, era também possível como resultado da duplicidade, do formalismo, do sentimento de precariedade dos ritos. É à primeira vista surpreendente ver João de Barros em 1534 polemizar com o "averroísmo", nome pelo qual vulgarmente se designava a negação da imortalidade da alma e de outra vida além da terrena; mas, segundo parece, ele tinha em vista uma doutrina que tendia a expandir-se entre os antigos Judeus Portugueses (48). Não é difícil respigar aqui e além casos de cepticismo religioso, sobretudo na emigração, como o daquele médico de Santarém, que Fr. Pantaleão de Aveiro encontrou em Trípolis, praticando em público o Judaísmo mas vivendo na realidade como "gentio", descrendo da vinda do Messias e da ressurreição dos mortos (49). Já na época dos Muçulmanos grassava esta forma de materialismo entre os Judeus de Espanha, assumindo forma filosófica no chamado materialismo averroísta e expressão mais popular na doutrina dos «três impostores», que seriam os fundadores das três religiões então conhecidas na Península Ibérica, o Cristianismo, o Islamismo e o Judaísmo (50). Esta tradição, favorecida pela situação dos Hebreus cultos entre duas outras religiões que pretendiam igualmente o exclusivo da verdade, encontra um terreno favorável nas condições criadas pelo traumatismo da conversão forçada de 1497 e vem por outro lado ao encontro da própria mundividência nascida da experiência burguesa segundo a teoria de Groethuysen.
E há a considerar, além disso, as condições resultantes da existência e da actividade do tribunal do Santo Ofício. Em que medida e em que sentido a discriminação condicionou e estimulou espiritualmente o grupo discriminado? Até onde chegou e que efeitos teve o processo de dissimulação com que a Inquisição procurou inverter a assimilação, em curso, da antiga comunidade judaica?
Não há, de momento, elementos para responder a esta pergunta, mas há lugar para propor algumas considerações e para lembrar alguns exemplos que talvez não sejam insignificativos.
Ribeiro Sanches sugere que as famílias que se sentiam discriminadas e ameaçadas pela Inquisição, quer por contarem judeus entre os seus ascendentes, quer por terem parentes penitenciados ou relaxados, criavam um reflexo de defesa fechando-se perante o exterior. Tendiam desta forma a isolar-se, por precaução, das famílias cristãs-velhas ou de todas aquelas donde poderiam sair eventuais inimigos. Uma vida secreta se constituía assim no interior destas famílias, que, já por isto, já pela pressão externa das leis discriminatórias, tendiam a solidarizar-se e a aliar-se entre si. O meio particular que por este processo se constituía era, segundo Ribeiro Sanches, um terreno favorável à difusão da semente judaica, aliás rara.
A constância e a densidade destes meios fechados e com tendência para o segredo deve ter variado naturalmente com as circunstâncias geográficas e sociais. Na grande e média burguesia urbana, especialmente em Lisboa, a mobilidade das famílias é maior, as mudanças de fortuna são mais fáceis, os encontros e as alianças chamados mistos mais frequentes. Mudando de condição, dissolvendo-se em meios diferentes, é evidente que o particularismo e o secretismo gerados na defesa contra a Inquisição não podiam fixar-se em formas perduráveis. Pelo contrário, nas aldeias e vilas era difícil, a não ser pela emigração, escapar à condição hereditária e à vigilância dos vizinhos. Daí resultou que a tradição impropriamente chamada «marrânica», uma certa vida secreta que em raros casos se conservou até ao nosso século, se fixou especialmente em pequenas povoações do interior com preferência pelas proximidades da fronteira. António Vieira diz-nos que existiam no seu tempo povoações inteiras constituídas exclusivamente por Cristãos-Novos, e a esse número devia pertencer a aldeia dos Carções, no distrito de Bragança, cuja personalidade de «judeus» ainda hoje é apontada pelos vizinhos. São também do interior do país, na maior parte, as famílias descobertas por Samuel Schwartz em 1920 que praticavam rituais secretos com reminiscências judaicas (51). Este é um sector fossilizado da sociedade portuguesa, e um daqueles caroços (e há-os de vária origem) que o pulsar da história não teve tempo de moer e assimilar.
Mas não está aqui porventura o essencial. Há que considerar também a situação kafkiana em que se encontravam os Cristãos-Novos, e não só os das aldeias como os das cidades. Há uma incomodidade essencial na situação do Cristão-Novo que, como já vimos, se encontra no primeiro degrau da escada que conduz, através de corredores sem destino, à morte sem culpa e sem causa. Ele é um prisioneiro virtual, como Joseph K. que, mesmo fora do cárcere, está emparedado dentro dos olhares que de todo o lado seguem como interrogando-o e culpando-o em silêncio. Procura disfarçar-se, mudar de nome e de estado, ganhar brasões de fidalgo ou ordens de clérigo; mas este mesmo disfarce acentuava a sua consciência de uma situação particular na sociedade. Esta situação leva-o a problematizar o mundo em que vivia. Não porque a «raça» judaica o marcasse, ou porque a fé judaica guardasse raízes no seu coração, mas porque era visto de fora, visto pela gente «normal» como um espúrio, um marginal e um culpado virtual. A persistência do Cristão-Novo é um problema de relação e de situação, não um problema de substância congenital. Há um tema que não foi posto ainda pelos historiadores da literatura: como se reflecte nos escritores de origem, ou, melhor, de situação cristã-nova, como António José da Silva, Francisco Rodrigues Lobo e talvez Fernão Mendes Pinto, esta consciência particular. O que é a Justiça? O que é a condição humana? O que é a sociedade mesma? São perguntas que o Joseph K. dos séculos XVI e XVII era inevitavelmente levado a fazer. A Justiça através do mundo é, por exemplo, um dos temas fundamentais da Peregrinação de F. M. Pinto, onde todos os valores da «nação portuguesa» são subtilmente problematizados (52).
Há outros aspectos ainda a considerar nesta matéria fluída e mutável. Nem tudo é passivo e kafkiano na atitude dos Cristãos-Novos. E isto é tanto mais verdade quanto, dentro do processo social em curso, a posição dos homens de negócio tende a tornar-se mais forte. Os textos já citados de Duarte Gomes de Solis e de António Henriquez Gomez mostram como eles ganham consciência de que a discriminação divide a sociedade peninsular em «bandos». É esta uma atitude mais activa, mais combativa. Os Cristãos-Velhos aparecem não já como sujeito histórico, mas como um bando que persegue outro bando, o dos Cristãos-Novos, e isto em prejuízo do interesse colectivo. Ora na origem de tal destruição está uma instituição bem identificável e responsável: o Tribunal da Inquisição.
Este pôr em causa da Inquisição é um dos caminhos por onde os Cristãos-Novos superam a sua consciência de prisioneiros virtuais dos Cristãos-Velhos e ascendem à de sujeito histórico, de braço dado com os grupos que sem estarem rotulados de Cristãos-Novos se tornaram no entanto aliados dos homens de negócio na crítica da sociedade tradicional.
A Inquisição apresentava-se como um tribunal santo, um instrumento da justiça divina. Era em nome de Deus que processava (...) confiscava e delapidava os bens dos mercadores abastados e que condenava (...) milhares de inocentes que morriam negando as acusações da sentença e declarando a sua fé católica. O ódio à Inquisição e a evidência flagrante da sua injustiça arriscavam-se a cair sobre o Deus que ela dizia representar. A religião católica aparecia aos perseguidos sob a máscara odiosa dos inquisidores.
Tocamos uma contradição própria da Inquisição ibérica. A sua força estava no seu carácter sagrado. O nome de Deus legitimava as confiscações, as prisões, as execuções dirigidas contra o sector burguês da população. Mas justamente porque o motivo da perseguição era a Fé, havia que produzir para cada indivíduo a prova do pecado. O Tribunal da Fé não podia condenar colectivamente todo um grupo social por motivo exterior meramente étnico, como o fazia, por exemplo, o nacional-socialismo alemão. O motivo para a Inquisição punha-se ao nível da subjectividade em que funcionava, que era a de perseguir um certo grupo social, nada tinha que ver com a consciência religiosa de cada indivíduo. A má-fé institucional do processo inquisitorial reflecte esta contradição e tornava o tribunal do Santo Ofício particularmente vulnerável ao juízo da opinião pública esclarecida. As consequências desta situação complexa poderiam constituir um curioso tema de sociologia da cultura e dar elementos de reflexão para o famoso problema da incroyance posto por Lucien Febvre.
Seria curioso estudar certo número de casos de conversão de Cristãos, velhos ou novos, ao Judaísmo. É o caso, já tratado, de Fr. Diogo de Assunção, cristão-velho, frade capucho, cujo despertar religioso parece ter sido provocado pelas disputas teológicas entre as várias correntes escolásticas. Fr. Diogo, que não tinha na família qualquer tradição judaica, morreu na fogueira proclamando o seu judaísmo. Curiosamente semelhante a este é o caso de um clérigo galego, Vasques de Araújo, que se declarou convertido ao Judaísmo em 1687 (53). Também este só conhecia o Judaísmo através dos escritos católicos contra os Hebreus. Há lugar para pensar que, dentro de um meio onde não era possível um racionalismo laico e onde se desconhecia o Protestantismo, a religião hebraica, constantemente lembrada pelos processos, pelos autos-de-fé, pelos livros de propaganda antijudaica, aparecesse como única alternativa para os que descriam do Catolicismo inquisitorial. As vítimas dos autos-de-fé davam ao Judaísmo o argumento suplementar da abundância de mártires.
O caso célebre de Uriel da Costa explica-se, porventura, na sua raiz, à luz desta hipótese, e não pela existência de uma tradição judaica na família. Gabriel, de seu nome cristão, nasceu na última década do século XVI, de uma família de Cristãos-Novos do Porto. O pai era um católico fervoroso. Igualmente a mãe era cristã e desconhecia os ritos judaicos. Uma tia-avó tinha sido relaxada em Coimbra em 1568 (o que nada prova, como sabemos, quanto ao Judaísmo da acusada); mas a família estava evidentemente assimilada: já o pai de Gabriel obtivera título de nobreza, e ele próprio tinha ordens eclesiásticas que lhe permitiam usufruir de rendas da Igreja.
No entanto, ao aproximar-se dos vinte anos, Gabriel teve uma crise religiosa. Espírito penetrante, audacioso, recto como uma espada, como mostrará na sequência da sua vida, julgou encontrar contradições insolúveis na doutrina cristã. Este despertar foi para ele um drama. «Era-me difícil», diz ele, «abandonar a religião a que me habituara desde a mais tenra infância e que lançara em mim as mais profundas raízes». Mas como solucionar em Portugal, neste começo do século XVII, uma crise de descrença? Se uma das duas religiões conhecidas no país não era verdadeira, devia sê-lo a outra - tal é o raciocínio que naturalmente ocorre a quem não vislumbrou a possibilidade de uma verdade não-religiosa. E a alternativa do Judaísmo devia aparecer tanto mais plausível a Gabriel quanto ele só tinha desse Judaísmo, que ninguém até então lhe ensinara, uma noção confusa que a sua imaginação e a sua razão facilmente podiam modelar.
Gabriel meteu-se portanto a estudar essa religião desconhecida onde pressentia a salvação. O único meio de que dispunha era a Bíblia, na parte do Velho Testamento. É através de uma interpretação pessoal da Bíblia, por conta e risco, que ele tenta reconstituir o Judaísmo. E, procurando ao mesmo tempo elementos rituais, veio dar com uma parenta afastada que praticava ritos judaicos, mais ou menos estropiados. Chamava-se Branca de Pina e vivia com a mãe, Leonor de Pina. Mas se a filha judaizava, a mãe conservava-se católica, refractária às investidas missionárias da filha. Não fora, com efeito, da mãe que Branca recebera o Judaísmo, mas de um tio. A tradição judaica extinguira-se, pois, na linha directa desta família, tal como sucedera na família de Uriel da Costa. Persistia só por via colateral.
 |
| Uriel da Costa |
Gabriel, com o auxílio do Velho Testamento, e com os elementos rituais mais ou menos desfigurados, trazidos pela prima, constituiu uma doutrina e um culto presumidamente ou aproximadamente judaicos, incluindo, segundo mostrou depois o processo inquisitorial, cerimónias que o verdadeiro Judaísmo desconhece. Fundou nesta base uma pequena comunidade judaica convertendo a própria mãe e os irmãos, excepto uma das irmãs, Maria da Costa (que, apesar disso, os inquisidores obrigaram mais tarde a «confessar» culpas de Judaísmo). Inicialmente ficou também de fora desta comunidade a mulher de Gabriel. Mas participavam nela Branca de Pina assim como a velha Leonor, que, finalmente, Gabriel e sua mãe lograram convencer. Em 1614 toda a família se pôs a salvo embarcando para Amsterdão, ficando apenas Maria da Costa que, como vimos, não se deixara catequizar.
Ora em Amsterdão o Judaísmo ideal de Uriel da Costa chocou-se com o Judaísmo real, ou realizado. Uriel reage contra o ritualismo, o formalismo e sobretudo a intolerância da Sinagoga, e uma nova evolução espiritual começa para ele. Mas desta vez encontra-se num meio cultural que lhe oferece outras vias, e a sua audácia pode ir muito mais longe: negou a imortalidade da alma, a verdade de todas as religiões reveladas e propôs um Deus que apenas exige dos homens o cumprimento de uma lei moral. A Sinagoga expulsou-o, mas (tal era a situação de um cristão-novo exilado) a vida tornou-se-lhe impossível fora da comunidade portuguesa. Uriel rendeu-se e voltou, mas foi obrigado a uma abjuração pública e a uma penitência. A semelhança entre este acto de abjuração e aqueles a que a Inquisição obrigava os seus «reconciliados» deve ter impressionado Uriel. Fosse como fosse, tornou-se-lhe tão impossível viver na Sinagoga como viver fora dela e, dando um exemplo particularmente ímpio, suicidou-se. Mas antes teve o cuidado de redigir a sua biografia espiritual, narrando num escrito a que chamou Exemplar Humanae Vitae o processo que o levara àquela conclusão (54).
A história que acabamos de contar contradiz os que crêem na persistência do culto judaico entre os Cristãos-Novos portugueses. O que na realidade sucedeu foi que a tradição judaica desapareceu na família de Uriel da Costa, e ele, provavelmente, não se teria convertido a um Judaísmo, aliás ideal, se não existisse a Inquisição. Era ela que, lembrando permanentemente a presença do Judaísmo, oferecia uma alternativa para o crente cristão frustrado; era ela que, nas famílias atingidas pela perseguição, como fora a de Uriel da Costa, devia criar uma atitude de retraimento, de exílio e de crítica perante os valores correntes, atitude que podia ir até ao processo do Deus que fazia dos inquisidores os seus agentes. Em Uriel da Costa, homem de pensar sistemático, este ódio generalizou-se finalmente a todas as formas de opressão religiosa, fossem elas cristãs ou judaicas. Não é talvez um acaso que a mais radical condenação moderna de todos os mitos religiosos tenha aparecido no seio dos emigrados ibéricos cristãos-novos na Holanda, cujo mais notável representante, Bento de Espinosa, meditou a obra e o exemplo de Uriel da Costa (in ob. cit., pp. 141-157).
Notas:
(30) Solis, ob. cit., p. 68.
(31) Ibid., p. 209.
(32) Ibid., p. 210.
(33) A segunda parte desta obra foi publicada, com introdução por Révah, na Revue des Études Juives, 4.ª série, tomo I, 1962.
(34) Ob. cit., p. 149.
(35) Ob. cit., p. 100.
(36) Sirvo-me da análise dada por Révah no seu estudo citado sobre Villa Real.
(37) «Razões apontadas por El-Rei D. João IV», nas Obras Escolhidas citadas, vol. IV.
 |
| D. João IV |
 |
Ducado de Bragança (1640-1910). |
(38) Ob. cit., p. 69.
(39) Ob. cit., p. 70.
(40) «Proposta» de 1646, ob. cit., pp. 49-50.
(41) Groethuysen, ob. cit., p. 225.
(42) Exemplar Humanae Vitae, ed. de Karl Gebhardt, 1922, p. 111.
(43) Discours Pathétique, Coimbra, 1922, pp. 74-75.
(44) Ver resumo do processo em Baroja, Los Judios, II, pp. 60-66. Saraiva foi posto a tormento e não confessou. Os inquisidores parecem ter hesitado, em certo momento, entre a condenação a relaxamento e o tormento (o que sucedeu também a Duarte da Silva...) Optando pelo tormento davam-lhe possibilidade de salvar a vida: quiçá foi a riqueza do réu que os decidiu. Não se percebe em que é que se fundamenta Baroja para dizer: «Juan Nuñez era, en el fondo, un fanático de la religion hebraica». Faltam as provas desta opinião.
(45) Azevedo, ob. cit., p. 225.
(46) Lei de 1728 mencionada por Sanches, ob. cit., p. 21.
(47) M. Bataillon, Erasmo y España, edição Fondo de Cultura Económica, pp. 209-219.
(48) A. J. Saraiva, História da Cultura em Portugal, Vol. II, pp. 576-579. Révah, em Le Colloque Ropica pnefma de João de Barros publicado nos «Mélanges offerts à Marcel Bataillon», sugere que esta refutação do averroísmo tem em vista ideias correntes no meio dos conversos. Note-se que os Saduceus negavam a imortalidade da alma e neste ponto, como noutros, se opunham aos Fariseus.
(49) Baroja, ob. cit., p. 234.
(50) Léon Poliakof, ob. cit., p. 133.
(51) Vieira, ob. cit., p. 91. Samuel Schwartz, em Os Cristãos-Novos em Portugal no século XX, Lisboa, 1925 (separata de arqueologia histórica, vol. IV). Ver também, Francisco Manuel Alves, ob. cit., vol. VII; Leite Vasconcelos, Etnografia Portuguesa, vol. IV; José de Alcambar, O Estatismo e a Inquisição, Lisboa, 1956.
(52) No seu livro sobre Fernão Mendes Pinto, Christovam Ayres publica uma informação de Cardoso de Bethencourt relativa a processos inquisitoriais contra a família daquele escritor.
(53) Baroja, ob. cit., vol. I, pp. 510-513.
(54) Sobre a biografia de Uriel da Costa seguimos o Exemplar Humanae Vitae, já citado, e os extractos e análises de processos apresentados por Révah em La Religion d'Uriel da Costa, artigo publicado na Revue de l'Histoire des Religions (1962). A nossa conclusão, à vista destes elementos, é diferente da que Révah propõe.
Continua





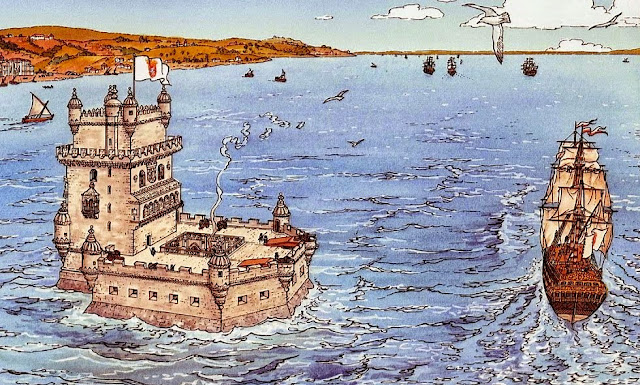



















































Nenhum comentário:
Postar um comentário