«A estrutura da Nação portuguesa, a sua continuidade, os seus valores têm sido atacados. Atacados pela dúvida capciosa, pela propaganda tendenciosa, pela agitação internacional, pela ameaça, pelos massacres indiscriminados, pelo terrorismo, pelas pressões políticas. São estes os métodos empregados. E temos sido atacados pelas Nações Unidas, pelo bloco afro-asiático, e por muitos do bloco ocidental. Lembraremos que de início os ataques se fundamentavam em razões legalistas - o pretenso não-cumprimento por parte de Portugal de algumas disposições da Carta da ONU - e em críticas quanto ao que se alegava ser a situação interna nas províncias ultramarinas. Mas a Carta da ONU foi postergada, e depois já nem mesmo um simulacro de legalidade se procurou respeitar na forma do ataque. Pelo que respeita à situação e às condições internas das províncias, conseguiu Portugal trazer o assunto à luz do dia, e hoje admite-se, embora com relutância, que Angola e Moçambique, tudo ponderado, estão mais avançados em todos os campos do que a maioria, se não a totalidade dos países de África ao Sul do Sahará. Podemos afirmar que os adversários, nos seus ataques verbais contra nós, não dispõem de argumentos nem invocam razões. Quando defendemos a igualdade das raças e a sua integração, não podem levantar objecções. Quando defendemos a construção e o progresso de sociedades multirraciais, não sentem que lhes seja lícito fazer algum reparo. Quando defendemos o desenvolvimento económico, social e educativo de todas as etnias, não encontram motivo para crítica. Quando demonstramos a crescente participação paritária de todos na administração e na nossa vida colectiva, não estamos ofendendo nenhum princípio mas apenas executando os princípios que os próprios adversários dizem considerar sagrados. Porque somos então atacados? Precisamente pelas virtudes da nossa estrutura, pelo êxito da nossa grande experiência humana e sociológica, e sobretudo porque embaraçamos o caminho de muitos interesses e constituímos obstáculo à expansão de muitos desígnios, alguns aliás já tradicionais e bem anteriores aos ventos de mudança ou da história. E do que precede haveremos de concluir que não há uma política alternativa, a não ser que se aceite uma alternativa para a existência da Nação. E daqui parto para a consideração de um ponto de vista da mais alta importância. Quando a Argélia, pela voz de Ben Bella, declarou que constituía seu indeclinável dever "libertar" Angola, não se podia compreender a afirmação porque não se sabia que entidade humana ou divina havia conferido esse mandato àquele país. Quando o Presidente Sekou Touré diz que é sua responsabilidade "libertar" toda a África portuguesa, não se entende a declaração porque se ignora quem lhe atribuiu tão grave responsabilidade. Quando de modo genérico se ataca Portugal apenas com o objectivo de atacar, mas sem apresentar razões, nem invocar argumentos, nem indicar factos, temos de nos perguntar o que estará por detrás e para além dos ataques. Se não se refuta a essência dos nossos princípios; se não se nega a validade dos nossos objectivos; se não ameaçamos nem afrontamos ninguém; se trabalhamos na paz e pelo progresso; se estamos prontos a colaborar com todos os de boa-fé - porquê, então os ataques, a agitação, as campanhas internacionais? Por uma razão que os adversários não se atrevem a admitir nem confessam: é que não querem que exista qualquer vínculo entre uma parcela de território africano e um território não africano. Veladamente, já o proclamaram ao dizer que a África inteira não era livre nem se sentia em segurança enquanto alguma área estivesse ligada às áreas não africanas. Mas nós temos o direito de perguntar por que é isto assim. Não se compreende nem se pode admitir que a liberdade de um país ou de um povo seja afectada ou dependa da estrutura interna de outras áreas ou povos que são pacíficos e não perturbam ninguém. Não se vê com clareza que Angola, província de uma Nação e nesta integrada em pé de igualdade, esteja por esse facto a ameaçar ou a comprometer a segurança e a liberdade de Tanganica ou do Tchad ou do Ghana. Não se vê também que ameaças à segurança ou peias à liberdade de outros possam advir do facto das estruturas internas de um território e da sua organização política e social serem diversas das de outros territórios. Numa época em que tanto se proclama a co-existência seria lícito esperar que nesse desejo de co-existência se encontrassem as possibilidades de respeito para com os sistemas de outros. Se apenas se admite a co-existência de estruturas idênticas ou paralelas, destrói-se a própria ética da ONU, que assenta na pluralidades das ordens jurídicas e económicas e se destina a proporcionar-lhes um ponto de encontro, e anula-se a própria comunidade internacional, que se funda na diversidade. E não se sabe até que extremos poderemos chegar: porque as monarquias não se sentirão seguras enquanto existirem repúblicas; e os Estados capitalistas não estarão tranquilos enquanto existirem países socialistas; e a breve trecho caminharemos para o mais horroroso dos antagonismos, que é o antagonismo das culturas e das raças. Estes são os perigos de ordem geral. Mas não respondem à pergunta concreta formulada atrás: porque somos atacados e por que motivo não está segura a África, nem independente, enquanto Angola e Moçambique e a Guiné tiverem vínculos políticos e outros com o Portugal europeu? Porquê uma tão absurda doutrina? É simples a explicação: é que a execução ou aplicação daquela teoria leva necessariamente, inevitavelmente, à destruição do que Angola e as outras províncias são hoje e das possibilidades de futuro. Quer-se destruir o ocidentalismo do Ultramar, a igualdade das raças, e a sua integração, e o multirracialismo como forma de convivência humana e de estrutura sociológica; e querem-se criar condições que permitam dominar Angola e as demais províncias em nome e para benefício de interesses não angolanos. Ao dizer isto, não se está fazendo simples especulação: expõem-se factos, que todos devem ter sempre presentes no espírito, como um aviso e como uma lição. Sem o apoio de um Portugal europeu unido e solidário, sem firmes vínculos ligando toda a Nação, não é viável manter-se em África uma sociedade multirracial, nem qualquer das etnias que a compõem deverá julgar que subsistiria na paz e no progresso uma vez quebrados aqueles vínculos. É pelo menos ingénua, para não a classificar de outro modo, a atitude daqueles que acaso julguem poder assegurar a sobrevivência dos seus negócios mediante uma discreta cooperação financeira a até política com grupos, que desconhecem a gratidão e que aliás logo seriam substituídos por outros, nem os interesses estrangeiros que imediatamente se apossariam de todas as posições, mostrariam qualquer tolerância. Por que a haviam de ter? E também não seria menos irreflectida e ingénua a atitude do grupo étnico mais numeroso se acaso pensasse que, na adesão aos princípios da ONU, estava um caminho de mais rápido desenvolvimento, de maior responsabilidade: os múltiplos exemplos ante os nossos olhos garantem-nos, sem traço de dúvida, que esse caminho conduz à pulverização social, à luta, à miséria, à privação dos direitos básicos, ao retrocesso, quando não conduz ao retalhamento territorial e ao massacre e genocídio de raças, como tem sucedido na Nigéria, em Zanzibar, no Ruanda e no Burundi, entre outros. Não devemos por isso emprestar a miragens e a promessas um valor que não possuem. Quando nos dizem que a nossa presença, a nossa influência, os nossos interesses ficariam assegurados se aceitássemos partes de compromissos e bocados de transigências, verificamos que se nos recomenda precisamente o que os adversários pretendem que nós façamos, e que de uma forma tão suave quanto possível iniciemos o caminho que leva à negação total dos nossos princípios e valores, e à supressão total da nossa presença, dos nossos interesses e da nossa influência. Todos sentem por vezes impaciências perante atrasos administrativos, e se enervam em face de incompreensões ou peias burocráticas, e se exasperam com a lentidão de processos e a multiplicidade de intermediários. Tudo isso é natural, e é humano. Mas tudo isso é preço bem pequeno para a alternativa única que, no contexto internacional actual, só poderia ser a perda total de direitos, de haveres, de interesses, para muitos até de vidas, e isto em relação a qualquer das várias etnias que compõem a população das províncias portuguesas ultramarinas.
(...) Depois da decisão que, com suprema coragem e suprema lucidez, foi tomada em Abril de 1961 por quem [Oliveira Salazar] na altura podia e era capaz de tomá-la, não têm sido escassos nem frouxos os argumentos da nossa defesa. Temos apresentado a validade dos títulos jurídicos em que nos baseamos. Títulos jurídicos propriamente portugueses, antes de mais: direitos históricos seculares, efectividade material e moral de uma unidade política, reconhecimento sucessivo desta pela comunidade das nações através de instrumentos bilaterais e multilaterais havidos por válidos e bastantes. Parece que isto é incontestável. Mas também títulos internacionalmente relevantes: se a legalidade é a das Nações Unidas, temos de observar que fomos admitidos na organização como somos; não escondemos o que éramos e afirmámo-lo com clareza ao pedir a nossa admissão; e esta foi-nos consentida sem que na altura nos tivessem feito qualquer objecção ou reserva. As grandes potências parecem ter, todavia, uma faculdade inesgotável de considerar ilícito, quase de súbito, o que durante longo tempo aceitaram como bom e válido; e por isso têm ajudado a pôr em causa situações que há poucos anos acatavam a até apoiavam. Não se estranhará que insistentemente reclamemos o regresso à pureza dos preceitos da Carta, que aliás não são nossos, mas de terceiros, e que outros defendiam quando lhes traziam vantagens. Do plano da legalidade passamos ao plano dos princípios, e nesse domínio apontamos com simplicidade alguns factos indesmentíveis: fomos nós, e só nós, que trouxemos à África antes de ninguém a noção dos direitos humanos e igualdade racial; e somos nós, e só nós, que praticamos o multirracialismo, havido por todos como expressão mais perfeita e mais ousada da fraternidade humana e progresso sociológico. No mundo, ninguém contesta a validade do princípio; mas hesita-se em admitir que o mesmo é de autoria portuguesa e em reconhecer a sua prática pela nação portuguesa; porque isso seria outorgar-nos uma autoridade moral e imporia um respeito incompatíveis com as ambições que nos visam. Também afirmamos a nossa pluricultura, congregando e misturando o que de melhor cada povo português haja produzido, e isso afigura-se de harmonia com a doutrina que nega a cada unidade cultural o direito de constituir por esse facto uma unidade política autónoma. Igualmente proclamamos a nossa pluricontinentalidade; e esta parece conforme à teoria dos grandes espaços, tida como essencial ao desenvolvimento cultural e material das massas humanas; e dir-se-ia constituir somente uma antecipação nossa à prática de muitos outros países de hoje que se estendem por mais de um continente ou são formados por territórios separados: mas quando é Portugal que está em causa, de novo se suscitam hesitações. E quando nos dizem que não temos técnicos, nem meios, nem capitais, nem instrumentos de progresso, respondemos que as nossas províncias de África são mais desenvolvidas, mais progressivas, mais evoluídas em todos os domínios do que qualquer território recentemente independente da África do sul do Sahará, seja qual for; e pedimos que nos visitem e nos comparem, mas muitos, e entre estes alguns são altamente responsáveis, recusam fazê-lo porque preferem atacar-nos a confessar que viram em Moçambique ou Angola o que não conseguiram ver em mais nenhuma parte daquela África. Finalmente, como nos séculos passados, defendemo-nos também pelas armas: sempre o tivemos de fazer nas épocas de crise; e àqueles que se interrogam, e perguntam se não haveria modo de o evitar, dir-se-á apenas que o povo português, na sua infinita sabedoria política e na sua repetida e dolorosa experiência, nunca pôde descobrir outro meio de defender posições. Mas toda esta argumentação não a empregamos abstractamente; utilizamo-la num quadro político internacional de que aproveitamos alguns factores para auxílio da nossa defesa. Constituem as coordenadas fundamentais da nossa acção externa. Em primeiro lugar, parte-se do pressuposto de que as Nações Unidas não possuem as virtudes que se arrogam e que as decisões tomadas no plano parlamentar da Assembleia não traduzem o pensamento existente no plano dos governos: os países que detêm a força política na organização e ali dispõem dos votos não são os que possuem a força militar e económica em que teria de se apoiar a realização efectiva da política que dizem prosseguir; e a incapacidade evidente da ONU para solucionar os grandes problemas mundiais implica um desprestígio crescente da organização e uma garantia da progressiva diminuição da sua virulência. De resto, a ONU apenas subsiste na medida em que as grandes potências julgam ou julgaram possível utilizá-la em proveito próprio; mas isso não obsta a que, para ilusão de terceiros, afirmem residir na ONU a segurança dos pequenos países e a esperança de sobrevivência da humanidade. Entretanto vão praticando a sua política nacional, à margem e até contra a ONU, e dir-se-ia sentirem-se acima e para além da Carta. Quando se trata das questões de interesse directo para os grandes países, estes furtam-se a submetê-las à ONU, arguindo esta de incompetência para conhecer dos problemas e da irresponsabilidade nas decisões; mas não hesitam em invocar contra pequenos países decisões tomadas com a mesma incompetência e irresponsabilidade. Não ignoremos as Nações Unidas; não dramatizemos, todavia, os seus perigos. Mas uma outra circunstância devemos ter presente no nosso espírito: a unidade contra Portugal, e em particular a unidade africana, é uma construção artificial, que apenas na hostilidade para connosco encontra um denominador comum, e este não fornece base bastante para uma política efectiva que, além disso, não dispõe dos necessários meios de execução. Aliás, é crescente a compreensão dos países africanos moderados para connosco. Por fim, hoje como no passado, não deveremos esquecer que nem sempre são idênticos os interesses das grandes potências, e que entre estas algumas há que olham a nossa política com aplauso e favor; e sobretudo deveremos ter sempre presente que o oportunismo político, que caracteriza a acção daquelas, se traduz por oscilações pendulares que em cada momento são por natureza passageiros na relatividade das coisas e do tempo. Praticaríamos erro irreversível se aceitássemos como definitiva uma posição que o não é, e em face da mesma tomássemos resoluções de que não poderíamos regressar».
Franco Nogueira («Terceiro Mundo»).
«Rosa Coutinho veio em segredo a Cuba [...]. O almirante chegou num avião que Fidel enviou a Luanda e permaneceu em Havana três dias. A sua visita ocorreu num momento chave, em Setembro de 1975, quando na mesa de negociações com os grupos guerrilheiros se chegava a um acordo com vista à convocação de eleições. António Rosa Coutinho sabia que os comícios iam ser ganhos por quem controlasse Luanda e que a UNITA era a organização com mais presença militar [...]. Rosa Coutinho descreveu a Fidel as imensas riquezas de Angola [...], e apresentou-lhe como inevitável o facto do país cair nas mãos da UNITA se Fidel não enviasse tropas».
Santiago Aroca («Fidel Castro, El final del camino», Barcelona, Planeta, 1992).
«Em Julho de 1974, o governo de Spínola designa como Alto Comissário em Angola o vice-almirante Rosa Coutinho, que tem fortes ligações com o PCP. A partir do momento em que assume funções, Rosa Coutinho bloqueia tanto a FNLA de Holden Roberto como a UNITA de Savimbi e designa, para cargos-chave do governo de transição, pessoal de confiança que facilita o transporte de contingentes estrangeiros e de confiança e de armas soviéticas para o MPLA, que se iniciam nesse mesmo mês, provenientes da URSS, via Congo-Brazaville [...]. O vice-almirante Rosa Coutinho favorece a entrega ao MPLA de uma força mercenária composta por 6000 catangueses que figuram no exército colonial e pelos angolanos que servem no mesmo. Estes contingentes são enquadrados por conselheiros militares cubanos e checos que se instalam na base de Massangano».
Juan F. Benemelis («Castro, subversão e terrorismo em África», Lisboa: Europress, 1987).
«(...) Camarada Agostinho Neto, dá, por isso, instruções secretas aos militantes do MPLA para aterrorizarem por todos os meios os brancos, matando, pilhando e incendiando, afim de provocar a sua debandada de Angola. Sede cruéis sobretudo com as crianças, as mulheres e os velhos para desanimar os mais corajosos. Tão arreigados à Terra estão esses cães exploradores brancos que só o terror os fará fugir...».
Carta de Rosa Coutinho dirigida a Agostinho Neto.
 |
| Agostinho Neto e Fidel Castro |
 |
| Fidel Castro, Raúl Castro e Otelo Saraiva de Carvalho (1975). |
«Assinados os acordos de cessar-fogo, os Movimentos armados tinham permissão para se fixar na capital. A delegação da FNLA, constituída por oito elementos e cerca de 80 convidados foi a primeira a aterrar em Luanda, em 30 de Outubro. Sem escolta policial, simpatizantes e filiados desfilaram do aeroporto até ao Hotel onde a comitiva ficou provisoriamente alojada. A instalação em qualquer parte do território era uma prerrogativa comum aos protocolos assinados com todos os Movimentos, mas uma outra autorização foi revelada pelo próprio almirante Rosa Coutinho. «E autorizei mais: cada um, para se sentir em segurança, se fizesse acompanhar por uma delegação, uma força militar que não poderia exceder 600 homens, o que já era bastante». Cada Movimento poderia ter 600 militares armados em Luanda para não ficarem "indefesos perante a população". A ideia tinha sido sua "depois de os Movimentos considerarem que não podiam ter condições de segurança em Luanda". Tinha sido uma decisão "consensual" na Junta? A pergunta impunha-se por parecer difícil que os comandos de Luanda (que tinham de lidar diariamente com tiroteios nos subúrbios) concordassem com a entrada de mais 1.800 homens armados nesses bairros tão problemáticos. "Da minha parte, foi", respondeu. Para Pezarat Correia, a decisão não pode ser contestada: Tinha sido "acordado que, para irem para Luanda, [deveriam] prover a sua própria segurança. [...] Eles eram Movimentos armados, não eram partidos políticos!"
O presidente da Junta teve "inclusivamente de mandar para trás um avião com mais de 300 [homens] armados por Mobutu por excederem os 600 que tinha autorizado". Foi o terceiro avião a chegar. Foram colocados "bidões na pista para impedir a aterragem". Tinha sido "a primeira tentativa de ocupação de Luanda" pelo ELNA, considerava. As delegações partidárias passaram a ser instalações armadas, como cavalos de Tróia em Luanda. Se os incidentes já eram graves e constantes fora do asfalto, a entrada de quase 2.000 militares na cidade só poderia piorar a situação. A presença dos braços armados foi um facto consumado, como referiu o coronel Jorge Serro: "Como não havia grandes orientações superiores nesse sentido, chegámos a determinada altura, em que ocorreram conflitos entre as delegações, estavam bem armadas - e algumas encontravam-se à vista uma das outras, como por exemplo, em Vila Alice [do MPLA] e na Estrada do Catete [da FNLA] -, que nos sentimos impotentes para intervir".
Em Luanda, ainda antes da entrada das delegações, os desacatos sucediam-se: um grupo de africanos agredira e matara mais um taxista depois de aceitar um serviço para o Bairro Popular. Os outros motoristas reuniram-se em grupos e voltaram a percorrer "algumas artérias da cidade, buzinando insistentemente em sinal de protesto" pelo assassinato do camarada de profissão. A criminalidade violenta estava a aumentar: durante um roubo, um grupo de africanos maltratara "mãe e filha" de 14 anos. Estavam ambas despidas quando as tropas portuguesas (que foram "recebidas a tiro") chegaram ao local. O consulado americano tinha conhecimento que "pilhagens, ataques a brancos e os roubos em barreiras nas estradas tinham aumentado nalgumas áreas rurais, embora não a uma escala suficiente para proibir a circulação nas estradas, excepto na via entre Duque de Bragança e Malange".
As zonas mais afectadas eram os arredores de Carmona, na área entre Dalatando (Salazar) e Zenza e na via rápida entre Luanda e Dondo: "Algumas fazendas de proprietários brancos têm sido incendiadas na área de Malange, e outros fazendeiros fugiram com o medo de mais ataques. A tentativa de um oficial negro do Exército português e de dois negros não graduados em serenarem os ânimos saiu aparentemente gorada: os três abandonaram a zona depois de ameaçados por aqueles que tinham ido tentar pacificar". No dia 1 de Novembro, um alferes miliciano e dois furriéis negros da Comissão de Acção Psicológica da 5.ª Repartição (congénere da 5.ª Divisão em Portugal) realizaram, em Duque de Bragança, uma sessão de esclarecimento a que assistiram "cerca de 10.000 elementos da população armados com catanas e paus". No final, a multidão entrou na Vila onde "saqueou e destruiu casas". Alguns membros do MPLA tinham incitado os populares a tomarem o que lhes pertencia: de catana em punho cercaram a vila, exigindo que os brancos fossem desarmados; quando a tropa regular interveio já muitas residências tinham sido assaltadas. Dias depois, chegavam 50 pára-quedistas, mas "os elementos subversivos" não foram capturados.
Em Luanda, depois do tiroteio no Cazenga, os incidentes continuaram na cintura suburbana. Um deles por causa do hastear da bandeira do MPLA na Direcção dos Serviços de Saúde. Já era prática frequente. Os soldados das FAP continuavam a morrer não nos matagais, mas na capital. Em 7 de Novembro, no Rangel, onde "as habituais rajadas de metralhadora" soaram, na intervenção da patrulha morrera mais um soldado português: "Quando os militares se dirigiam ao Bairro Rangel para recolher o corpo de um civil branco que fora espancado até à morte, um avultado grupo de amotinados servindo-se de pistolas-metralhadoras, granadas e explosivos de plástico reagiu contra os militares". O confronto (que causara "um avultado número de baixas") foi atribuído pelo MPLA "a obra de bandidos". "Um tiro de origem não identificada" ferira "um soldado branco junto à estrada da Brigada" e uma "rajada de metralhadora" matara outro. Outros dois tinham sido esfaqueados na área dos quartéis.
O "terrorismo urbano" começara. As forças de segurança interromperam "o trânsito na Avenida do Brasil a caminho do Hospital de São Paulo, o que não evitou que numerosos automóveis fossem apedrejados e pessoas agredidas naquela populosa e movimentada zona citadina". Como os Movimentos eram esperados na capital e tinha sido convocada uma greve de camionistas, verificou-se uma "corrida" ao comércio alimentar. As greves tinham afectado a rede de distribuição, reflectindo-se no "aumento da escassez de alimentos, particularmente de leite, cerveja, carne, açucar e fruta". O armazém Carneiros tinha sido assaltado. No Prenda (que confinava com o Corimba) e no Silva Tavares também tinham sido ouvidos tiros. Os confrontos das noites de 5 a 7 de Novembro (nos subúrbios e junto ao asfalto) foram oficiosamente reportados ao consulado americano. "Na primeira noite, o Exército disparou sobre um dos bairros durante vários minutos, em resposta ao fogo de que estava a ser alvo por armas automáticas. Na tarde seguinte, um branco foi morto à catanada e o Exército levou várias horas até conseguir recolher o corpo e toda a noite para repor a ordem".
As solicitações foram em tal número que o Exército difundiu vários apelos na rádio, pedindo aos militares em férias ou de folga para se apresentarem nos respectivos postos e dois correspondentes tinham dito a Porter que estava prestes a rebentar uma guerra: "A FNLA e o MPLA têm infiltrado consideráveis quantidades de armas e de homens em Luanda e é possível a eclosão de um confronto violento nos dias 9 ou 10. Um deles duvidava que o Exército português conseguisse controlar a situação porque a maioria dos jovens oficiais e dos milicianos dizia querer 'estar em Lisboa pelo Natal'". A delegação do MPLA desembarcou na manhã de 8 de Novembro, dia de apelo à greve geral, para o povo poder ir esperá-la. No aeroporto encontravam-se dezenas de milhares de pessoas. Todos os locais com vista para a pista de aterragem (balcões, terraços, torres de controlo e postos de projectores) estavam pejados de "autênticos cachos humanos". Apesar do cordão de segurança montado pelos soldados, a pista foi "invadida por milhares de pessoas que correram para junto do avião". Sobrevoando o aeroporto em "dois pequenos aviões e um helicóptero", alguns membros da Junta acompanharam o desembarque da comitiva que foi encaminhado para a sala VIP. A sede foi inaugurada no dia seguinte "com enorme entusiasmo". Chefiada por Wilson dos Santos, a delegação da UNITA chegou dois dias depois, domingo (10 de Novembro), sendo esperada por milhares de pessoas, incluindo "uma elevada percentagem de brancos". A festa começara na véspera "com largas dezenas de automóveis que percorreram a cidade durante toda a noite, precedidos de outras tantas motorizadas, buzinando insistentemente, soletrando com os sons da buzina a palavra U-NI-TA". Quando o avião proveniente do Luso parou na pista, uma mancha humana rodeou o aparelho por todos os lados "transformando-o numa pequena ilha naquele mar imenso de gente, com bandeiras e posters com o rosto de Savimbi". "Formou-se depois um cortejo imenso que, durante várias horas, percorreu a cidade, agitando bandeiras da UNITA. Antes da chegada da comitiva, os apoiantes da UNITA foram atacados. Na Avenida de Lisboa e em direcção ao aeroporto verificaram-se correrias desordenadas das pessoas em todos os sentidos." Fugiam das "agressões à catanada e das ameaças" dos que tentavam impedir a multidão de chegar ao aeroporto. Foram ouvidos tiros de pistola, ocorreram "os já rotineiros apedrejamentos de viaturas" e foram erguidas barricadas "na estrada do Catete, do Cacuaco e na Avenida do Brasil", que impediram muitos seguidores da UNITA de alcançarem o seu destino.
 |
| 1975, portugueses de Luena, Vila Luso, Província do Moxico: refugiados no hangar do aeroporto aguardam por transporte aéreo para Luanda. |
Nesse dia, Luanda foi submersa por uma onda de violência nunca vista. Tinha havido incidentes "no aeroporto, imediatamente antes da chegada da delegação da UNITA, [...] iniciados por elementos com braçadeiras do MPLA", que negava serem "elementos seus". A 365 dias da independência começavam os ventos de guerra que varreriam Angola nos meses seguintes. Desde o dia 10 confirmaram-se 26 mortos e 104 feridos. A violência alastrara a vários pontos da capital: "O clima de tragédia transformou Luanda numa cidade em estado de sítio, de ambulâncias, apelos a dadores de sangue, chamadas de médicos e de pessoal de enfermagem, transportes públicos paralisados, bairros isolados por razões de segurança, etc."
O Comando-Chefe pormenorizava os tumultos ocorridos em diferentes partes da cidade: "Na Rua Paiva Couceiro (cerca da 00h30) os ocupantes de uma viatura fizeram fogo sobre um civil, que ficou ferido. Às 2h35, no Prenda, rebentou uma granada de mão". De manhã, nesse bairro, "civis pretos destruíram a casa e a viatura de um civil branco, à mesma hora que no Bairro Rebocho Vaz foi assaltada uma casa particular. Às 7h30, as FAP levantaram "uma barricada na picada entre a estrada da Cuca e a Petrangol, onde uma viatura militar foi alvejada por dois civis portadores de uma granada de mão. No Precol, onde os confrontos causaram a morte de uma criança e ferimentos ligeiros em duas outras, a tropa portuguesa foi recebida com disparos de Kalashnikov. E nesse bairro foi morto um condutor branco que transitava pela picada paralela à linha de Caminho de Ferro de Luanda. Na Rua do Brasil tinha havido um "forte e prolongado tiroteio entre os ocupantes de uma viatura militar e elementos civis entrincheirados no Rangel". Um episódio semelhante repetiu-se à tarde: negros com braçadeiras do MPLA formaram um piquete perto da Avenida do Brasil, "revistando viaturas que eram de seguida atacadas". "Na Alameda Salazar, grupos de civis apedrejaram viaturas" e no Bairro Popular n.º 3 tinham incendiado casas e viaturas. Na estrada do Catete (frente a Viana), alguns camionistas bloquearam o trânsito "em protesto pelos ataques" de que eram vítimas na zona de Dalatando: colocaram as viaturas pesadas nessa estrada à saída de Luanda, ameaçando entrar em greve se a sua segurança não fosse garantida.
 |
| Malanje, cidade-fantasma em plena guerra civil (1975). |
 |
| Familiares de refugiados no quartel em Salazar (Dalatando, 1975). |
No Bairro Popular n.º 3, durante um comício do MPLA, tinham sido "disparadas rajadas de uma viatura que passou no local, ferindo três pessoas, uma das quais gravemente". Para Pezarat Correia, o atentado visava Lúcio Lara, mas foi atingido "um elemento da sua segurança". Ao longo da tarde sucederam-se os actos de vandalismo e de violência gratuita. Na Rua Francisco Newton ocorrera fogo cruzado entre uma viatura militar e outra civil que ostentava uma bandeira do MPLA, por não ter obedecido à ordem de paragem. Uma criança tinha sido morta junto ao hospital de São Paulo por um disparo de um edifício próximo.
À noite (na rádio) Rosa Coutinho atribuiu os incidentes à "natural excitação causada pela chegada da delegação da UNITA" e aos "cortejos automóveis" que, em seu entender, já eram mais do que "excessivos" - "era preciso acabar com a ideia" de que "a buzina" era "uma voz política", declarou. Ao regozijo seguira-se um "abundante tiroteio" nos subúrbios e os já frequentes "confrontos e abusos de força". "A coberto de manifestações de natureza política têm sido exercidos actos que são de puro banditismo, tais como espancamentos, assaltos, roubos, incêndios que nada têm que ver com a vida política normal de um país". Os líderes conhecidos das quadrilhas - o Sandokan, o Sabata e o Amargoso -, que actuavam e fugiam das patrulhas portuguesas, nunca foram capturados. "Chamados ao Palácio os dirigentes dos Movimentos emitiram um comunicado de apelo à ordem, à concórdia e à paz". Todos se afirmavam "defensores do pacifismo". As FAP faziam coincidir a chegada da UNITA com o aumento "da actividade violenta", durante a qual dois soldados brancos tinham sido assassinados junto aos quartéis. A população branca residente nos muceques estava a fugir para a área urbana da cidade" e temia-se que as "confrontações raciais" alastrassem ao asfalto. Nas noites de 8 a 12 de Novembro, os tiroteios prosseguiram nos bairros Prenda, Catambor e Cazenga, e na Rua António Barroso continuavam assaltos e ameaças à população branca. Perto do aeroporto, os bombeiros tinham sido impedidos de apagar o fogo-posto que destruíra "12 casas de brancos".
(...) Na véspera da saída, Costa Gomes perguntou a Leonel Cardoso se ficaria mais um dia em Luanda para o representar na cerimónia de passagem do Poder. O Almirante recusou. Como as companhias aéreas tinham decidido não voar para Luanda nos três dias anteriores à data da independência, qualquer representante português teria de ser transportado pela Força Aérea. Vítor Crespo foi o escolhido, mas à última hora o avião que o deveria transportar de Figo Maduro para Angola sofrera uma oportuna avaria. Em Luanda, Leonel Cardoso chamou os membros do governo ao salão nobre, onde justificou não lhe "ser possível tomar parte em qualquer cerimónia comemorativa" pois "equivaleria da parte de Portugal a uma ingerência" na decisão dos angolanos. Assistir à proclamação significaria, simbolicamente, que Portugal transferia o Poder para o MPLA. Os Movimentos tinham feito uma "honesta autocrítica" em Nakuru, mas as culpas cabiam "muito menos aos Movimentos do que às potências" que lhes forneciam "armas mortíferas": "Os interesses económicos, estratégicos e ideológicos que se debatem nos bastidores da política mundial e se projectam sangrentamente no solo angolano fazem que parta altamente preocupado: não vão os velhos colonos, um tanto rudes, por vezes, mas de alma bondosa, ser substituídos por outras gentes bem diferentes e movidas por interesses bem mais ambiciosos". No texto da proclamação (muito mais elogioso e sucinto) enfatizou que Portugal partia "sem sentimentos de culpa e sem ter de se envergonhar": deixava um país que estava "na vanguarda dos Estados africanos".
 |
Na tarde de 10 de Novembro foi formada uma força composta por um pelotão de Granadeiros, outro de Pára-quedistas e um de Fuzileiros que, juntamente com os chefes militares, se deslocaram à Fortaleza. A bandeira portuguesa foi arreada "com toda a pompa e circunstância" e entregue ao Alto-Comissário. Os chefes militares entraram depois numa lancha que os levou ao paquete Niassa, onde esperavam pelo anoitecer: "Jantámos a bordo com os navios fundeados e, quando faltava um quarto para a meia-noite, âncoras para cima e começou-se a andar". Em Luanda os disparos para o ar celebravam a independência, no Quifangondo a derrota infligida ao ELNA. Para Gonçalves Ribeiro era uma "imagem dantesca" a que se observava ao largo: balas tracejantes iluminando o céu de Luanda. À chegada a Lisboa no dia 23 de Novembro, Leonel Cardoso declarou: "Deixámos Luanda com o MPLA, o Huambo com a UNITA e Carmona com a FNLA. Portanto, Angola ficou dividida em duas ou três partes [...], ficou, infelizmente, partida, a despeito de todos os nossos esforços, que foram prejudicados não tanto pelos Movimentos ou por erros, embora ninguém esteja isento de cometer erros, mas essencialmente porque entraram dois grupos tão poderosos a disputar Angola que Portugal deixou de poder controlar os acontecimentos. Saiu fora do nosso controlo"».
Alexandra Marques («Segredos da Descolonização de Angola»).
«Segundo as informações apontadas por Benemelis, no dia 11 de Novembro, dia da declaração da independência por parte do MPLA, estavam já em Angola mais de 7000 soldados cubanos, presença que, no âmbito da "Operação Carlota" atingiu, em finais de Dezembro, o número de 22.000 e, depois, em Março, a soma de 37000 militares com o arsenal militar correspondente - em Fevereiro de 1976, o apoio logístico soviético ultrapassa os 400 milhões de dólares, e o número de deslocados e refugiados, em consequência da guerra, ronda os 750.000. Eu próprio [Américo Cardoso Botelho] pude verificar, quando cheguei a Angola, no dia 9 de Novembro de 1975, ainda antes da cerimónia da independência, que tinha já desembarcado um enorme contingente de cubanos no porto de Luanda.
(...) Benemelis, conhecedor da situação angolana, refere que a unidade 3051, do exército cubano, desembarcou em Luanda, a 19 de Setembro, transportada pelo navio Almirante Sierra Maestra. Mesmo sem estarem ainda recompostos da viagem marítima, os militares foram colocados de imediato atrás dos tanques T-34 e T-35, que deviam reforçar as defesas da capital. A infantaria, com a mesma urgência, começou a cavar trincheiras em redor da cidade. Tratava-se de preparar uma acção que visava a FNLA e os seus apoiantes. Foi assim que o Quifandongo conheceu a morte de tantos angolanos sob o fogo de um exército estrangeiro. Aí, uma multidão de simpatizantes da FNLA pereceu sobre a violência de projécteis incendiários. Os tanques disparavam projécteis de fragmentação despedaçando os corpos. Parte daquela multidão procurou a fuga, correndo no sentido inverso aos disparos. Mas os mísseis de 122 mm perseguiam as suas vítimas até uma distância de 20 quilómetros, com o auxílio de aviões de reconhecimento - não raro, os Mig-21 desciam em voo picado participando no morticínio.
Estava em curso uma perigosa concentração de homens e equipamento cubano-soviético tendo como alvo a Namíbia e Pretória. O exército de 50.000 homens de Fidel transformar-se-ia na maior força militar extra-continental. A tese de Benemelis é clara: a expansão militar de Cuba no continente africano era uma estratégia indispensável para a sua sobrevivência, uma vez que permitia contornar algumas dificuldades que decorriam da proximidade adversa dos EUA. Benemelis descreve este desígnio geopolítico da seguinte forma: Havana fornece os soldados; os soviéticos, os meios logísticos; a República Democrática Alemã, o comando. O seu testemunho dá conta da presença de 40.000 soldados estacionados em Angola e refere, sem equívocos, o seu papel nos processos de limpeza política em favor do MPLA, com lugar cativo nas execuções sumárias. Como sublinha Benemelis, o fuzilamento foi, para muitos, uma morte "benigna", uma vez que a execução tomava formas de desumanidade difícil de conceber - como o caso dos que, segundo a sua narrativa, foram lançados para a morte de um helicóptero, em pleno voo.
É claro que Cuba levou, também, consigo as cicatrizes da guerra. Segundo dados que circulavam nos media, estima-se que morreram cerca de 2.289 militares cubanos e que muitos milhares ficaram feridos durante essa intervenção que levou para Angola 337.033 soldados e 56.622 oficiais, para apoiar o poder de Angola (cf. Público, 25.02.02)».
Américo Cardoso Botelho («HOLOCAUSTO em ANGOLA. Memórias de entre o cárcere e o cemitério», Nova Vega, 2007 - livro actualmente fora de circulação e impedido de entrar em Angola).
«(...) apesar da desconfiança que Spínola tinha em relação ao líder [Mário Soares] do Partido Socialista, aceitou nomeá-lo para ministro dos Negócios Estrangeiros sem uma clara definição dos objectivos do seu Governo em matéria política externa, para além da muito difusa "abertura de portas" e o estabelecimento de relações diplomáticas com os Países de Leste. Ainda hoje não são claros.
Mário Soares chegara Portugal sob a influência do contrato político acordado com o PC [Partido Comunista] em Paris em 1973 e, pior do que isso, perfeitamente convencido de que o PS estava predestinado a um papel subalterno em relação aos comunistas. E embora discordando dos comunistas portugueses, sobretudo em matéria de liberdades, com eles mantinha algumas afinidades derivadas da sua formação na unidade antifascista e, também, do seu deslumbramento com as teses de François Mitterrand sobre a matéria. Ora, sendo natural que fosse convidado para uma pasta no Primeiro Governo Provisório, não tanto porque se pensasse, em Abril de 1974, que o jovem PS viria a ser uma grande força política em termos eleitorais mas, sobretudo, porque em 1974, os principais governos da Europa Ocidental eram dirigidos por partidos filiados na Internacional Socialista, a pasta dos Negócios Estrangeiros, se bem que útil à sua promoção pessoal, só faria sentido do ponto de vista dos membros da Junta de Salvação Nacional, após decisão de que seria útil à "Revolução" incluir o PCP no governo. De outro modo, faria pouco sentido, naquela altura, quer do ponto de vista nacional quer do ponto de vista partidário.
(...) Embora surpreendidos com o golpe, a satisfação com a queda do regime de Marcello Caetano foi unânime em todo o mundo e nenhuma dificuldade existiria para o reconhecimento do novo Governo. Aliás, antes mesmo de Mário Soares iniciar, a 2 de Maio de 1974, o seu périplo com a finalidade de alegadamente obter reconhecimento e apoio para o novo regime, já se tornara mais que evidente que a nomeação de Spínola para Presidente da República, a declaração do MFA e a composição da Junta de Salvação Nacional eram mais do que indícios suficientes para tranquilizar os aliados tradicionais de Portugal. O que já lhes era mais difícil de aceitar - isso sim, era a inclusão de Álvaro Cunhal e de dirigentes comunistas no governo.
 |
| António de Spínola |
E não se pense que as objecções a tal precedente num país da NATO, eram só dos EUA. Os socialistas presentes em governos europeus de países da NATO, como os da Grã-Bretanha, Alemanha, Noruega e Dinamarca demonstraram igual perplexidade! É portanto neste contexto que se devem compreender as manobras e o círculo vicioso de contra-informação e decepção em redor da nomeação de Mário Soares para ministro dos Negócios Estrangeiros. A sua principal missão não era o reconhecimento internacional que estava "automaticamente" garantido, nem a abertura a Leste - que aliás não era um interesse vital, excepto para o Partido Comunista. Tão-pouco a de abertura de conversações com os Movimentos de Libertação, visivelmente desejada por todas as partes. Era, sim, sua missão, convencer os parceiros ocidentais de que embora permanecendo fiel à NATO e a todos os compromissos internacionais de Portugal, o I Governo Provisório iria contar com a presença de comunistas fiéis à estratégia planetária de Moscovo! Afinal as reticências com que o PCP assinara o acordo com Mário Soares não se justificavam e os soviéticos tinham fortes razões para estar satisfeitos.
Apesar da fama e prestígio que adquirira, essencialmente derivados das suas reconhecidas qualidades militares e, posteriormente, pela coragem de enfrentar Marcello Caetano, Spínola não tinha condições políticas para ser chefe de Estado. E nenhum dos seus conselheiros foi capaz de o demover da ideia de incluir o PCP no governo. Que Mário Soares o tivesse feito compreende-se, dado o ainda fresco programa de acção comum e a subalternidade a que o PS parecia disposto a submeter-se. Agora que Freitas do Amaral também o tenha aconselhado nesse sentido é deveras surpreendente e mostra, de facto, as grandes responsabilidades que a direita teve no avanço comunista em Portugal.
(...) ficou demonstrado que foram os erros da direita democrática e a surda colaboração dos socialistas que permitiram o avanço dos comunistas, bem inseridos na estratégia global da União Soviética. Os socialistas, embora opondo-se, e bem, ao plano de Spínola e de Palma Carlos, demonstrariam grande passividade em todo o processo, aparecendo sempre como suporte das posições de Álvaro Cunhal. Teria sido mais sensato e, certamente, no interesse da democracia e de Portugal que, dadas as afinidades "republicanas" e "maçónicas" com Palma Carlos, fossem utilizados, através das tão invocadas relações internacionais, meios de persuasão para convencerem Spínola da loucura que estava a cometer! Foi também, talvez, o primeiro grande erro político de Sá Carneiro, que se deixara arrastar pelas pretensões de Spínola. O segundo, provavelmente ainda maior, foi a sua saída do Executivo em solidariedade com Palma Carlos. Foi, sem dúvida, um gesto de grande dignidade mas politicamente fútil, que abriu ainda mais o flanco à penetração comunista.
Os erros políticos de Spínola, já então internacionalmente reconhecido como politicamente incompetente, acumular-se-iam. Na tentativa de encontrar um novo primeiro-ministro de sua confiança tenta, sem primeiro preparar o caminho de aceitação junto dos homens do MFA, que por ele ainda nutriam sentimentos de amizade, lançar o tenente-coronel Firmino Miguel. Depois, perante a recusa do MFA, comete o erro fatal de preferir Vasco Gonçalves a Melo Antunes, por este "ser demasiado marxista!".
No PS, entretanto, assistia-se a uma penetração galopante do Partido Comunista em virtude da ausência do seu secretário-Geral. Salgado Zenha, então a única possível alternativa ao secretário-geral, era igualmente membro do Governo, responsável pela pasta da Justiça. Para satisfação do PC "o Partido foi, desde o início, relegado para segundo plano" e Tito de Morais "assegurava quase sozinho o funcionamento" do PS, na sua primeira sede nacional. E se a visita ao Palácio de Belém lembrara ao sueco Sten Anderson "uma cena tirada de um velho filme de piratas", a sede do Partido Socialista na Rua de S. Pedro de Alcântara onde "reinavam" em crescente incompatibilização, Manuel Tito de Morais e Manuel Serra, fazia lembrar uma cena tirada de um saloon de um velho filme do far west! O tesoureiro do Partido era um dos fundadores presentes em Bad Munstereifel, Carlos Carvalho, que usava como método de contabilidade a acumulação de papelinhos soltos, onde ia depositando números e com os quais passava recibos. Método aliás legado aos seus sucessores. Diplomatas e delegações estrangeiras eram recebidos nos corredores e nas escadas. Manuel Serra, Aires Rodrigues e Fernando Oneto, acompanhados dos seus "seguranças", andavam numa "lufa-lufa" à procura de indícios dos "golpes de Estado" que a imprensa anunciava com antecedência, enquanto toda a gente berrava ao mesmo tempo, como se para afastar de vez os velhos fantasmas que ainda ali habitavam. O PS tinha assentado praça no edifício da sede de Comissão de Censura do Governo de Marcello Caetano! No meio de toda aquela barafunda, a única pessoa que parecia controlar minimamente a situação era a Maria do Carmo Maia Cadete, coordenadora do secretariado nacional.
 |
Mário Soares na Internacional Socialista em Estocolmo, 22 de Agosto de 1975 (in Mário Soares, Uma Fotobiografia, Bertrand Editora, 1995, p. 115).
|
Mário Soares ia, entretanto, aproveitando algumas das suas viagens enquanto ministro dos Negócios Estrangeiros para angariar alguns fundos para o Partido Socialista. Mas, apesar de alguns contributos iniciais dos partidos sociais-democratas escandinavos, do SPD e de uma campanha de angariação de fundos lançada na Holanda pelo PVDA (Partido Trabalhista) e pelo seu dinâmico secretário para as relações internacionais, Harry van den Berg, os apoios financeiros estavam longe de ser o que muitos imaginavam e se insinuava. Segundo consegui apurar, o movimento sindical norueguês deu pela primeira vez ao PS, em Maio de 1974, "após visita a Oslo de Francisco Ramos da Costa", cem mil coroas norueguesas. E demonstrando os seus bons contactos internacionais e capacidade de angariação de fundos, também o PSD da Dinamarca forneceria cinquenta mil coroas "enviadas através do Banco Espírito Santo e Comercial de Lisboa". No dia 29 de Julho, após um encontro com Bernt Carlsson, fui informado de que o partido sueco tinha atribuído à sede do PS cem mil coroas, para além do apoio que enviaria preferencialmente para as organizações locais e regionais do partido. Também ofereceria uma rotativa "Solna offset" nova que, contudo, só chegaria ao PS em 1975 (mas que se tornaria imprescindível para imprimir cartazes e autocolantes a cores) além de cerca de 78 000 coroas entregues em mão na sede. E, tanto quanto sei, a Fundação Friedrich Ebert doaria pelo menos meio milhão de marcos alemães através da Fundação António Sérgio, primeira das fundações do PS. Mas, como muitos dos donativos, sobretudo os mais pequenos, eram feitos em mão pelas delegações que vinham a Portugal ver a "Revolução" e como nada era aparentemente contabilizado - prática a que os partidos portugueses rapidamente se habituariam - é praticamente impossível saber ao certo os montantes exactos que na totalidade o PS receberia dessa "solidariedade" internacional.
Pelos meus cálculos, com base na pesquisa informal que eu próprio faria posteriormente, deduzi que, em 1974, o PS não recebeu de partidos "irmãos" montantes significativos e nem de longe minimamente comparáveis aos que os serviços de informação americanos afirmavam o PCP estar a receber! Aliás só o secretário-geral sabia exactamente quando e de onde recebia o dinheiro sendo certo que, na prática portuguesa, o controlo financeiro dos partidos está intimamente ligado ao controlo do próprio partido. Não admira que este tipo de informação permaneça fechado e que as leis da chamada transparência, aprovadas pelos principais partidos políticos, permaneçam ainda hoje tão opacas!
Mas fazia parte da estratégia do PS desmentir sem convicção os financiamentos estrangeiros, para poder insinuar apoios massivos europeus e assim atrair para o partido os quadros de que necessitava. O contrário significaria muito provavelmente que o PS permaneceria o pequeno grupo de amigos que era no 25 de Abril de 1974. Mas mesmo após as visitas de François Mitterrand, de Willy Brandt, de Olof Palme e do senador norte-americano Edward Kennedy em 1974, os apoios ocidentais davam para "quebrar o galho", mas exprimiam claramente as reservas da Europa e dos Estados Unidos em relação ao "contrato" do PS com o Partido Comunista e em relação à influência do PS na sociedade portuguesa.
Os americanos, que após os primeiros sinais de cooperação de Mário Soares nos anos 60 acompanhariam com grande cepticismo a sua "reassociação" aos comunistas, não queriam sequer ouvir falar do PS e a maior parte dos líderes sociais-democratas europeus, eram chefes de partidos fortemente implantados pelo operariado e apoiados por fortíssimos movimentos sindicais de tradição anticomunista, que viam em Mário Soares uma espécie de reflexo da política de François Mitterrand, em que não acreditavam. Mas, a título de curiosidade, o único partido da Internacional que nunca deu um tostão ao PS português foi precisamente o PSF de Mitterrand onde inúmeros dirigentes, como por exemplo Jean Pierre Chevenement, considerariam Mário Soares pouco progressista.
Mas, Manuel Tito de Morais, nas funções de secretário-geral "interino" ia recebendo alguns donativos e, nesta matéria, "tudo o que vinha à rede era peixe". Mantinha-os contudo bem longe dos olhos de Manuel Serra utilizando, inicialmente, a Associação António Sérgio, como centro de angariação. No início havia muitas reticências dos partidos irmãos da Internacional Socialista em relação ao seu congénere Português que eles ainda mal conheciam. Não se tratava só da impressão de que o PS tinha fraca implantação e seria um espécie de apêndice do PCP. Para a grande maioria dos dirigentes sociais-democratas europeus, a colorida agitação da extrema-esquerda liderada pelos MRPP e UDP era um mau presságio, reminiscente do que se passara no Chile no ano anterior. E para muitas das suas bases, e até para alguns dirigentes, para quem as boas revoluções são as do Terceiro Mundo, os "capitães de Abril" eram o elemento mais chamativo da Revolução Portuguesa! Perante tal cepticismo, creio que até ao I Congresso que teria lugar em Dezembro, o único contributo significativo recebido pelo Partido Socialista tinha sido angariado no seguimento da visita de Mário Soares a Trípoli, em Novembro de 1974, onde se encontraria com o coronel Kadhafi, tendo, a partir daí, a conta da Associação António Sérgio sido rapidamente transferida para o Nederlandsche Middenstandsbank de Hilversum, na Holanda, que, posteriormente, viria a ser titulada por José Neves, também ele fundador do Partido em Bad Munstereifel. Escrever-lhe-ia posteriormente, aproveitando a visita a Trípoli de José Neves e Catanho de Menezes para agradecer e exprimir a sua "admiração pelo interesse e ajuda que [Kadhafi] deu à luta e libertação do Povo Português" assim como o informar de que o PS estava "de novo em condições de reabrir os nossos contactos com todas as forças que no mundo lutam pela libertação dos povos. Entre essas forças, tanto a Líbia como V. Exª. jogam um papel altamente fundamental. Os meus camaradas do Partido Socialista portadores desta mensagem farão todo o possível para desenvolver ainda mais as nossas relações mútuas".
(...) Os incidentes do 1.º de Maio, felizmente para o PS, contribuíram para a ruptura definitiva, dado que muitos observadores internacionais, depois de tudo o que se passara até então, ainda se perguntavam porque razão quereriam ainda os socialistas celebrar o 1.º de Maio conjuntamente com PCP. O assalto ao jornal República, a 19 de Maio, juntamente com a vitória eleitoral nas eleições para a Assembleia Constituinte seriam a "gota de água" que levaria a Europa a seguir o caminho que os EUA já tinham iniciado por sugestão de Carlucci, com o apoio dos homens de Langley contra o Departamento de Estado. Aliás o receio de alguns governos europeus de não ficar atrás dos americanos serviria de leit motiv para a determinação europeia. Contudo, se é evidente para muitos, mesmo muitos socialistas, que foi o discurso de Zenha que desencadeou a ruptura com o PC, não é ainda claro para a grande maioria que a mudança de Mário Soares só teria lugar após os incidentes do 1.º de Maio, no estádio com o mesmo nome. Foi a sua "vaidade" ferida, ao não o deixarem entrar na tribuna daquele estádio, impedindo-o de estar ao lado de Costa Gomes, Vasco Gonçalves e Álvaro Cunhal, para onde este se dirigira, que precipitou a sua ruptura com o PC. Até então, como comprova todo o seu comportamento até àquela data, Henry Kissinger tinha razão em o considerar o "Kerensky" português. Durante os últimos doze meses alimentara esperanças em relação ao Programa Comum com o PC, que só não se concretizara porque os comunistas o não quiseram a seu lado. "A falta deve-se unicamente aos comunistas [in "Mário Soares, Portugal: Que Revolução?"]. Se não tivesse então ocorrido tal incidente e Soares, despeitado, não passasse também ao ataque, que viria a ter como pano de fundo o conhecido slogan - "Soares e Zenha não há quem os detenha" - é provável que ainda em 1975 tivesse ocorrido uma cisão no seio do próprio Partido Socialista, com o afastamento do secretário-geral. A tal não acontecer, dada a lealdade demonstrada por Salgado Zenha, o resultado teria sido, pelo menos, a transferência do apoio americano para Sá Carneiro, que atrairia a si grande parte do movimento socialista. E, por essa via, o posterior reconhecimento do seu partido pela Internacional Socialista...».
Rui Mateus («Contos Proibidos: Memórias de um PS Desconhecido»).
«(...) A censura sem rosto
(...) Conversa ocasional com um dos homens mais bem colocados na rede de comunicação social. Perfeita concordância quanto ao seguinte:
No regime salazarista, havia Censura e Censores. Constituíam uma instituição, tinham lei própria, vinham seus nomes e nomeações no "Diário do Governo", toda a gente sabia da sua existência e os podia procurar onde funcionavam, nas traseiras do Palácio Foz com porta para a Calçada da Glória.
No actual regime socialista, continua a haver Censura e Censores. São mais férreos e vigilantes do que os do salazarismo, mais eficazes do que os do Santo Ofício e Santa Inquisição. O que não têm é nome e nomeação no "Diário da República", nem lei própria, nem lugar onde possam ser procurados e ninguém pode dizer que sabe da sua existência. Funcionam dentro dos orgãos de comunicação que estão encarregados de censurar ou, palavra ainda mais abominável, de controlar. São directores e presidentes da RTP, do "Diário de Notícias", e quantos mais. São a Censura Sem rosto!
(...) Medo e vergonha nos jornais
Afirmação de Alberto João Jardim a abrir um artigo no "Jornal da Madeira": "a manipulação mais descarada da opinião pública, instalou-se na vida nacional".
(...) Os jornalistas andam às apalpadelas. Estão nas Redacções dos jornais, da rádio, da RTP onde lhes pagam o magro ou gordo salário que não podem dispensar. Têm naturalmente formada uma opinião sobre os candidatos que, em geral, conhecem pessoalmente, e bem. Mas como escrever? Que escrever? Está sem dúvida legalizada a liberdade de imprensa, há o sindicato, não há censura. Mas a liberdade de facto, se de facto a houver, só para os patrões. A eles apenas lhes cabe escrever o que os patrões mandarem. Se o não fizerem, o que escrevem não é publicado e, pior do que isso, acabar-se-lhes-á o contrato na primeira ocasião e não terão "boas informações de docilidade" para novo contrato. Não lhes resta senão escreverem o que os patrões quiserem. Mas que querem, que mandam os patrões? Esses também andam às apalpadelas. A maior parte nem sequer são patrões. São directores da imprensa e da rádio estatizadas, são portanto empregados do Estado e têm de obedecer ao Estado. O Estado não é, como muita gente julga, uma entidade abstracta. É uma organização muito poderosa comandada por certos senhores muito reais, os que compõem aquela "classe política" a que o Sr. Freitas do Amaral chama já "dirigente" e propõe, nos objectivos da sua candidatura, institucionalizar como uma "nomenklatura" moscovita (Ver o livro "Uma Solução para Portugal").
 |
| Da esq. para a dir.: Freitas do Amaral, Sá Carneiro, Mário Soares e Álvaro Cunhal. |
Os patrões da imprensa privada não estão melhor do que os outros. Geralmente são condóminos do jornal que dirigem e sabem que precisam do Estado para receber os indispensáveis subsídios, papel, etc. Têm por isso, de jogar certo porque se fizerem o jogo de um candidato que não tenha o apoio do "sistema", vão com certeza para a falência. Tudo e todos dependem, pois, dos chefões políticos. Dependem da distribuição que eles façam dos "orgãos de informação" pelos candidatos do sistema. É uma distribuição decerto fácil, apenas uma formalidade, mas tem um calendário táctico. Enquanto não for feita, os jornalistas andam às apalpadelas.
(...) O IDO-C ou a manipulação da informação internacional
(...) Todas as pessoas atentas conhecem os sinais da existência de organizações internacionais que manipulam a comunicação social internacional. Uma dessas organizações é-nos descrita por um sacerdote católico inglês, o Padre John Epstein, no livro a que deu o título atemorizador de A IGREJA TERÁ ENLOUQUECIDO? Designa-se, essa organização pela sigla IDO-C e tendo a sua sede prestigiante em Roma, o seu centro é efectivamente nos E.U.A. onde estabeleceu relações muito íntimas com uma outra organização, o "Establishment", de doutrinação e propaganda liberal (Nos EUA, os nomes de liberal e liberalismo não têm o mesmo significado que entre nós; deles se apossaram os socialistas mais próximos do comunismo, o que levou os liberais, no sentido rigoroso, a adoptarem outras designações, como libertário e libertarismo). Criou delegações ou agências em numerosos países, incluindo Portugal e sua doutrina, bem como seus fins, é a do chamado "catolicismo progressista" e respectivas derivações: "cristãos para o socialismo", "teologia da libertação", etc.
O Padre Epstein dá-nos uma breve mas eloquente descrição da rede de informação internacional que o IDO-C montou.
Ligado como está ao "Establishment", dispõe de seis revistas periódicas norte-americanas: National Catholic Reporter, Cross Currents, Jubliee, Commonweal, Continuum, The Critic. E são seus membros:
- jornalistas profissionais da Rádio Canadá, Rádio Vaticano, Rádio Eireann, R. K. O. holandesa;
- elementos da direcção de revistas como Civiltà Cattolica, em Itália; Études, Témoignace Chrétien e Edition Centurion, em França; The Month, e The Tablet, em Inglaterra; Znak, na Polónia; e o presidente de Slent (revista marxisto-católica inglesa);
- personalidades com funções redactoriais directivas tais como: G. Arminstrong, no jornal inglês The Guardian; M. H. Fesquet em Le Monde; Ab. Laurention em Le Figaro; J. Cogley na New York Times; J. Sjenker em The Time; Dr. Kleine no Frankfurt Allgemeine;
- Directores de grandes empresas editoriais como W. Birmingham, da Monter-Omega, J. G. Lawler, da Herder e Herder; P. Scharper, da Sheed and War.
Com uma tal organização, não há verdade que resista. E, como esta, há pelo mundo, umas tantas mais. Mais do que nunca, temos de nos habituar a pensar por nós próprios... aqueles de nós, evidentemente, que ainda estão em condições de o fazer.
(...) A "Direita" está-lhes no papo
(...) Veio de longe e traz-nos novas de amigos distantes. A meio da conversa, cita uma frase de Lenine. Mais ou menos isto. "Sempre que se faz uma revolução, devemos ser nós a organizar a direita antes que a direita se organize a si própria".
Logo me lembro de, há anos, Henrique Ruas me haver contado de como o convocaram para ir à "Cova da Moura", nos primeiros tempos da revolução comuno-socialista, quando Spínola era o dócil Presidente da República. Henrique Ruas compareceu, foi conduzido a uma sala onde já se encontravam umas tantas pessoas que, como ele, não sabiam para que ali tinham sido convocadas. Esperavam. Entrou um oficial do MFA, um coronel, Vasco Gonçalves, que se tornaria em breve famoso como chefe do Governo comunista de 1976/77. Sobraçava um grosso "dossier", sentou-se a uma mesa e informou os presentes de que, estando instaurado o regime democrático, não havendo democracia sem Partidos Políticos e apenas se encontrando organizados os Partidos Socialista e Comunista, eles haviam sido escolhidos como as personalidades mais capazes para organizar os Partidos que ainda não existiam. Ao ouvir isto, o Sr. Freitas do Amaral levantou-se: "Nesse caso, não estou aqui a fazer nada". Logo Vasco Gonçalves o obrigou a ficar: "O Sr. Professor é a pessoa escolhida para organizar o Partido da Direita". Assim nasceu o CDS. E assim a "direita" chegou ao estado em que hoje se encontra. Lenine bem sabia...
Nota: Depois de publicado este texto no "Diário do Minho", o semanário "Expresso" elaborou, com elementos fornecidos pelo biografado, uma biografia de Freitas do Amaral. Aí se descreve o que nós descrevemos mas trocando o comunista Vasco Gonçalves pelo comunista Vítor Crespo e colocando-o, decerto para atribuir mais solenidade à carreira do biografado, no centro de um grupo de membros do Conselho da Revolução, organismo que esteve ao serviço do comunismo. A correcção é, deste modo, apenas formal. Nada de essencial altera.
(...) O "nosso Freitinhas" da senhora bonita
(...) Subia eu a pé uma rua de Sesimbra, procurando caminho entre filas intermináveis de automóveis e aos encontrões a gente que escorria para a praia. De um carro, uma senhora bonita que eu sei conhecer muito bem mas não consegui identificar (mau político eu daria), diz-me em voz muito alta e com um coquetismo que as senhoras bonitas aprendem a pôr na voz: "Senhor Dr., só vejo socialistas! Nesta terra só há socialistas! O Mário Soares ainda é pior do que o Cunhal!". O carro tinha de ir tão devagar que eu pude acompanhá-lo, e com certa disposição divertida, digo-lhe: "Se não quer o socialismo, vote em mim". E ela: "Então vamos dividir os votos? O Sr. Dr. quer tirar votos ao nosso Freitinhas?"
Este encontro fortuito ajudou-me a ver melhor uma espécie de confusão que muitos eleitores estabelecem entre a candidatura do "nosso Freitinhas" e a minha. A Senhora fez-me entender melhor: é que ambas as candidaturas aparecem a esses eleitores como caracterizando-se por serem ambas anti-socialistas. Que fazer? Como fazer entender a distância abissal que as separa?
Em primeiro lugar, é muito duvidoso que Freitas do Amaral seja anti-socialista e, até, que não seja socialista, uma vez que a sua prática política de alguns anos foi inteiramente conforme ao socialismo, tendo até feito com ele duas alianças de Governo. Há, depois, aquilo de ter sido escolhido por Vasco Gonçalves para organizar o "Partido da Direita". Há, ainda, a carta em que servilmente se ofereceu para participar no Governo comunista de 1976. E dizem-me que - homem da Universidade que ele é - a sua tese de doutoramento, ou licenciatura, foi um panegírico de, simultaneamente, socialismo e salazarismo; intitular-se-ia "O Socialismo de Salazar". Por fim, há todo um mundo que nos opõe: o neo-liberalismo meu, o socialismo, senão confesso ao menos larvar, dele; a minha oposição à Universidade marxizada, a defesa que ele faz dela; a indefinição, nele, dos objectivos económicos, a nítida definição desses objectivos em mim; a boa convivência que ele tem com os partidos totalitários, em contraste com o meu visceral repúdio. E por aí fora: o inabalável e activo respeito que ele tem por todas as instituições existentes, pelo controlo da informação, pelo monopólio estatal da televisão, pelos cerimoniais e graus académicos, pelos "concursos de provas públicas", pela "cultura oficial", pelo consenso entre a "classe política", e tudo o mais a que eu me oponho. Vem, depois e interminavelmente, o seu desprezo e correspondente ignorância, pela "cultura portuguesa", a que eu pertenço, a sua consequente indiferença pela Pátria, só pela qual eu apresento a minha candidatura, o formalismo sem conteúdo das suas propostas em contraste com o conteúdo sem formalismo das minhas, a sua redução do direito de propriedade à propriedade financeira ou plutocrática segregando a territorial que para mim é a essencial, a sua proposta de fazer da actual "classe política" uma "nomenklatura" em contraste com a minha proposta de abolição da "classe política", e assim indefinidamente.
Como fazer entender tão abissais diferenças?
Portugal negociado
(...) Comunico a Freitas do Amaral a aceitação do desafio que ele lançou aos candidatos presidenciais para um debate público das respectivas ideias. Provando a sua má fé e sua má consciência, não responde, mas o caso vem noticiado na imprensa e hoje recebo dois jovens de um GRUPO De PRESSÃO DE JOVENS INTELECTUAIS que me vêm incitar a insistir na aceitação do desafio.
O que, todavia, mais me interessou em quanto me disseram foi o "comunicado" que, há uns anos, este Grupo de Jovens Intelectuais distribuiu. Nele comentava, com desprezível ironia, a campanha para a integração de Portugal na Espanha, campanha movida pelos principais responsáveis do Estado: o Primeiro ministro de então, Mário Soares, que não desmentiu a notícia de ter ido a Madrid negociar a integração; o Presidente da República Ramalho Eanes, que declarou em Madrid nada ter a opor ao resultado de um referendo em que uma maioria de Portugueses se pronunciasse por tal integração. Ao mesmo tempo, a campanha era acompanhada de uma preparação da "opinião pública" (ou do referendo) com sondagens jornalísticas que davam 25% de Portugueses favoráveis a deixarem de o ser.
No seu aspecto visível, a campanha foi suspensa, e não se sabe em que medida para isso contribuiu o "comunicado" dos Jovens Intelectuais apesar de - segundo me informaram - nenhum jornal o haver publicado, ou dele ter dado sequer notícia, e de nenhuma das inúmeras personalidades a quem foi enviado directamente ter acusado a recepção.
O que especialmente me preocupou nestes "factos" foi a ideia que o actual Presidente da República tem de Portugal ao admitir que, como para os negócios da República, a existência da Pátria e da Nação possa ser decidida por um referendo!
Um almoço com generais
(...) Como estavam todos à paisana, não posso assegurar que fossem todos generais. Mas creio que o único civil era eu.
Não consegui entender por quê e para quê me convidaram. Foram amáveis, o ambiente o mais simpático e o almoço o mais agradável.
À sobremesa, um deles, sentado à minha frente, tirou um dossier da pasta que conservara sempre junto de si. Pousou-o sobre a mesa, abriu-o e leu-o numa voz vibrante. Tratava-se de um minucioso relatório, apoiado em minuciosa contabilidade, da ruína económica e financeira a que o Estado socialista havia reduzido o país. Alguns números eram impressionantes. Por exemplo: cada um dos duzentos e tantos deputados à Assembleia da República custa aos contribuintes seis mil contos por ano.
Finda a leitura, fechado o dossier, todos ficaram a olhar para mim. Senti-me embaraçado. Suspendia-se sobre nós um denso silêncio. Até que perguntei qualquer coisa, e o leitor do dossier, sempre de olhos fixos em mim, ensurdecendo a voz para a tornar mais impressiva, respondeu: "Isto (e assentava a mão fechada sobre o dossier) é para dar um murro na mesa e deitar abaixo o que para aí manda!" Então observei: "Não é com um murro nesta mesa que isso se consegue..." E como falava para generais, acrescentei: "... a não ser que os tanques já estejam na rua".
Um deles, homem tranquilo mas forte, de voz-pousada mas segura, explicou: "Não há condições, na tropa, para trazer os tanques para a rua. Se o fizéssemos, sabe o Sr. Dr. o que acontecia? Os tanques viriam até ao Terreiro do Paço, mas daí a algumas horas, não estava lá nenhum soldado. As famílias teriam vindo buscá-los e não temos disciplina que os assegure". Depois acrescentou: " Os militares só podem assumir uma posição de força quando estiverem criadas as condições para que a população os aprove. Ora essas condições ainda não existem. O descontentamento já é decerto visível, mas ainda não é decisivo"».
Orlando Vitorino («O processo das PRESIDENCIAIS 86»).
25 de Abril de 1974: Traição e Infâmia
Esta trágica página da História só será virada quando for feita justiça aos portugueses esquecidos, suas mulheres e filhos. Mas não tendo acontecido até agora, parece difícil já que algum dia venha a acontecer. Muitos arrastam-se ainda miseravelmente na Guiné, abandonados pela pátria que consideravam sua e desprezados pelos poderes que os governam; outros, refugiados no país que defenderam, tentam desesperada e inutilmente ver reconhecidos os seus legítimos direitos como filhos de Portugal:
«1. Nascemos como qualquer português, essa razão obrigou-nos a ser incorporados como mancebos "cidadãos", para cumprirmos o serviço militar obrigatório. Muitos de nós deixaram o serviço militar com quadro de honra, em virtude de possuírem nele altos graus militares, tais como: citações, louvores, prémios do Governador, diversas condecorações e até "Torre de Espada".
2. quanto à independência, nunca fomos ouvidos, nem tão pouco as nossas vidas e os nossos interesses foram defendidos: vejam só: Na Guiné havia 17.000 militares portugueses nascidos na Guiné, enquanto do lado do então inimigo havia 5 a 6 mil homens, e esses últimos foram ouvidos e até negociados. Digam-nos agora onde está a justiça.
3. Diário do Governo nº 202, I série do Artigo 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, Artigos 24º, 25º, 26º, 27º, e 28º da Lei nº 8/74, de 30/8. Esses Artigos, no (referente) aos Acordos da Argélia dizem que seríamos integrados na nova vida da sociedade guineense, sem represálias por nenhuma das partes, o que nunca chegou a ser levado em conta pelos novos donos da Guiné. Nunca houve uma única voz que nos defendesse das represálias.
4. Como vêem, deram-nos uma guia de marcha, nos termos da circular nº 12/CDM de 10/8/74, do Gabinete DP CMDT/C.T.I.G., por 132 dias, com início em 20/8/74, para férias e apresentarmo-nos no dia 01/01/75 às 8 horas. No dia da apresentação nas unidades, em vez de encontrarmos militares portugueses, encontrámos os militares do PAIGC.
5. Em pleno movimento para as negociações para a independência da Guiné, ainda com o Governo português e Exército português, começaram a prender os elementos que colaboravam com os portugueses. Do lado militar os presos foram os seguintes:
1º sargento "comando" Zeca Lopes; furriel "comando" Anastácio Ferreira (Didi); soldado de artilharia Henrique Selu Djaló. Pelo lado dos quadros civis foram: Beleté, Mamadu, Embalo, Gabriel Tcheúdo Balde, todos os cabos da Polícia Administrativa, assim como o deputado Mama Jabel (Gano). A autoridade portuguesa não tomou qualquer posição, apesar do conhecimento.
+numa+zona+de+combate,+debaixo+de+fogo,+em+1969..jpg) |
| General Spínola debaixo de fogo (1969). |
6. Rejeitamos o título de "Tropas do Prof. Salazar ou do Senhor Marechal Spínola". Nós fomos portugueses, para defendermos Portugal, nunca como mercenários. Nunca tivemos qualquer ajuda exterior, em Portugal, que não fosse a "Associação de Comandos", e nem por isso fomos aos jornais ou televisão atacar alguém, apesar de termos sido enganados e aldrabados.
7. É bom não esquecer que na Guiné haviam unidades militares que eram compostas por 90% de naturais da Guiné, como por exemplo o Batalhão de Comandos da Guiné, o Destacamento de Fuzileiros Especiais n.º 21, 22 e 23 e as Companhias de Caçadores 3, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21, além das Companhias de Milícias.
Há ainda outras questões:
a) O sr. Luís Cabral afirmou que só mandou fuzilar os elementos do Exército português que andavam com chicote feito de pele humana, e que teriam orelhas em sua casa.
b) Será que os régulos Joaquim Baticã Ferreira, Sambel, Coió, Baldé, Demba Julde Baldé, Mamadu Boncó Sanhá, Samba Ganhá Baldé e Samcum Baldé também tinham em suas casas orelhas humanas e chicotes em pele humana?
c) Luís Cabral afirmou ser amigo dos portugueses, o que nós duvidamos, pois um indivíduo que comandou a operação dos 3 majores, em Teixeira Pinto, e foi ele mesmo que mandou abrir fogo sobre os majores inocentes, que apenas pretendiam conversar, para manter a pacificação. Esse mesmo que, depois da independência mandou derrubar as estátuas portuguesas existentes na Guiné, como por exemplo as de Teixeira Pinto, Diogo Gomes, Diogo Cão, Honório Barreto e D. Henrique. A única que a sua fúria devastadora não conseguiu destruir, foi a da Maria da Fonte, na Praça do Império em Bissau.
d) Gostaríamos de saber, da boca do sr. Luís Cabral, o que aconteceu aos nossos colegas militares portugueses, que o seu regime encarcerou num abrigo subterrâneo, que em tempos foi paiol de munições que em tempos pertenceu ao Exército Português, em Farim, onde dezenas de colegas nossos morreram de claustrofobia.
 |
| Luís Cabral |
e) O que foi feito dos militares portugueses, nossos colegas, presos de 1976 a 1978? Consta que o sr. Luís Cabral os obrigou a ir para Angola lutar pelo MPLA contra a UNITA, e nenhum deles regressou à Guiné, e ainda militares portugueses que se refugiaram no Senegal, e que o regime do sr. Luís mandou trazer para a Guiné, para de seguida os fuzilar em Cuntima (fronteira) e Bafatá: em Bafatá, num só dia do ano de 1975 foram executadas 480 pessoas, confirmadas à rádio pelo Ministro do Interior do sr. Luís Cabral.
f) Houve fuzilamentos em Cuntima, Farim, Mansôa, Bissorã, Mata de Mansabá, Mata do Jugudul, Madina Mandinga, Ponte Caió; Cumeré, Bula, Teixeira Pinto e Bolama. Nesta última localidade, um militar português de nome Isac Dias Ferreira, foi metido num saco, amarrado, regado com gasolina e depois queimado, e o sr. Luís Cabral veio publicamente afirmar que não tinha conhecimento das execuções que se faziam.
g) O seu regime, pelas suas atitudes só podia ser comparável ao do Idiamin Dadá, pois os seus militares assassinavam só pelo prazer de matar, e onde nem a própria família podia fazer um funeral pois eram enterrados em valas comuns; num lugar desconhecido, e onde as únicas palavras permitidas eram as vivas ao PAIGC.
h) Das muitas situações, esta apenas para, mais uma vez, ficar demonstrado o modo de actuar do sr. Luís Cabral: o furriel "comando" Anastácio Ferreira (Didi), após ter sido fuzilado, a família pediu o corpo ao comandante do pelotão de fuzilamento, José Sanhá, e este acedeu entregar-lho. Mas passadas 3 horas, e quando se preparava o funeral, apareceu novamente o fuzilador, tiraram o corpo do caixão, tiraram o lençol que o envolvia e atiraram-no para dentro de um carro, como se de um saco de batatas se tratasse, tudo isto na presença de familiares e amigos.
i) Já se esqueceu dos 6 meses de proibição de venda de produtos alimentares para obrigar as populações a ir para o campo lavrar as terras, e foi essa fome que levou ao golpe de estado de 14 de Novembro de 1980. No regime do sr. Luís Cabral, um cão tinha mais valor que um ser humano. 3 dias antes do golpe, mandou fuzilar o capitão "comando" Adriano Sisseco, cap. Zacarias Saiegh e tenente Cicre Marques Vieira, sendo enterrados numa vala comum. Segundo consta, testemunhas confirmam que quando se deu o golpe, foram ver a vala comum e repararam que o relógio do cap. Adriano ainda estava a funcionar, e quando lhe falavam nisso, vinha para a rádio dizer que não confundia o povo com a população, sendo que para ele o povo era o que estava ao lado do PAIGC e a população era a que estava ao lado das autoridades portuguesas, e esses não tinham direito a votar. (...)» (4)
Sucedem-se os mais pungentes apelos dos antigos combatentes injustiçados e das suas viúvas. Pedem pouco, muito pouco mesmo, apenas que Portugal não esqueça os seus legítimos direitos e proteja os mais desamparados, como era o caso das famílias daqueles que tinham tombado pelas balas dos pelotões de fuzilamento.
 |
| Guiné Portuguesa |
Os apelos são acolhidos com indiferença e das autoridades portuguesas recebem apenas silêncio. Não desistem e algumas viúvas insistem em nome individual:
«Salimato, ou Sali, Jassi, de 39 anos de idade, natural de Banbadinca, Concelho de Bafatá, residente em Bissau, viúva de DOMINGOS DEMBA JASSI, 2º sargento FZE, vem expor a V. Ex.ª o seguinte:
1. É viúva do 2º sargento Domingos Demba Jassi do Quadro Permanente dos Fuzileiros do Comando da Defesa Marítima da Guiné, pois se encontrava casada com ele conforme certidão em anexo.
2. O sargento Jassi distinguiu-se notavelmente na guerra que então se travava sendo de referir:
a) Ainda enquanto guia intérprete dos Fuzileiros Especiais foi galardoado com o Prémio Governador da Guiné "pela sua dedicação e indefectível portuguesismo, pela sua coragem e desprezo pelo perigo, pelo entusiasmo com que se voluntaria para tomar parte em qualquer operação; gravemente ferido por uma rajada de metralhadora, apesar da sua evacuação ter sido difícil e morosa, manteve-se sempre animoso e imperturbável, constituindo um exemplo digno de ser apontado";
b) Já nos Quadros Permanentes foi condecorado por duas vezes, uma delas com a gloriosa medalha de Cruz de Guerra.
3. O sargento Jassi foi preso após a independência da República da Guiné-Bissau sem outra causa que não fosse os factos de ter pertencido aos Quadros da Marinha Portuguesa e de tanto se ter distinguido ao seu serviço.
4. Em 19 de Junho de 1980 veio a ser fuzilado conforme fotocópia em anexo.
5. A causa do fuzilamento foi única e exclusivamente pelos factos referidos em 3. Não podendo, no entanto, a requerente apresentar provas do que afirma por óbvias razões.
6. A requerente vive com grandes dificuldades pois é empregada doméstica e tem que sustentar 4 filhos estando um deles, o Adolfo Demba Jassi, de 23 anos, a estudar em Portugal.
7. A requerente julga-se com direito a solicitar pensão de preço de sangue. (...)» (5)
 |
| Guerrilheiros do PAIGC |
As legítimas reivindicações destes portugueses traídos e esquecidos ficam bem expressas numa exposição que um grupo deles, vinte anos decorridos sobre a então denominada "descolonização exemplar" dirige às autoridades políticas e militares portuguesas, um apelo onde dão conta da situação difícil em que se encontram e reafirmam a sua fé em Portugal:
«(...) Não se trata, Excelências, de conceder a nacionalidade nova ou velha a quem devesse ter optado, trata-se de conservar ou não a nacionalidade dos seus pais e avós e a sua própria, o que nem sempre foi pacífico e fácil tendo mesmo sido a razão da execução sumária de alguns.
Nos tempos idos de 1975/76 na Guiné, após o abandono, com laivos de traição, a que foram votados, alguns dos signatários exilaram-se nos países limítrofes; outros, não podendo abandonar as famílias e a sua terra por carência de meios económicos, tiveram que aceitar as imposições do novo poder para salvar as suas vidas e a subsistência das próprias famílias.
Alguns dos exilados referidos foram "reexportados" para a Guiné onde foram sumariamente executados.
Tão cedo quanto puderam refugiaram-se em Portugal na esperança de após a travessia do deserto terem finalmente encontrado o oásis de paz, subsistência, respeito humano e reconhecimento pelos serviços prestados. Esperavam assim ser apoiados como o comum dos cidadãos portugueses em oportunidades de emprego, reconhecimento social e sossego.
Nestes últimos vinte anos, Excelências, temos sofrido o abandono dos Comandantes que nos exaltavam na guerra, das organizações que nos ignoram, do poder político que nos esquece e da sociedade que nos discrimina. Muitos de nós não voltam para a sua terra porque receiam pelas vidas e pelas famílias. Quase todos estão separados das famílias que continuam a manter com os parcos salários que auferem. Alguns são ridicularizados e pouco aceites pela sociedade e nos empregos por professarem a religião do Islão e por serem cidadãos pacíficos pouco dados a "tainas" e bebedeiras, preferindo a vida simples e frugal do muçulmano.
Não sabemos de leis, Excelências, nem entendemos que à luz de critérios Kafkianos se justifiquem injustiças tão gritantes como esta. E não se diga que não estamos integrados na sociedade portuguesa e que temos hábitos sociais e familiares diversos dos dos cristãos, pois o povo português no cadinho da sua miscigenação étnica e cultural sempre acolheu Celtas louros, bantos negros, Hindus amarelos, Chineses budistas, Índios vermelhos e Berberes morenos.
Por isso nós, naturais da Guiné temos o direito de sermos o que sempre fomos, "PORTUGUESES". (...)».
A estes homens e mulheres vale-lhes a solidariedade dos camaradas metropolitanos constituídos em associações ou a amizade dos antigos comandantes que os apoiam. É o que fazem, por exemplo, Benjamim Abreu e Alpoim Calvão e Mamadu Baldé, uma história humana que merece destaque no jornal Público: «... para Portugal só veio em 1992, por obra dos bons ofícios do tenente dos fuzileiros Benjamim Abreu, que lhe fez uma carta de chamada. Benjamim Abreu tinha sido o comandante de Mamadú Baldé e ajudou-o. Mas, quatro anos depois, ainda não conseguiu uma reforma, apesar de ter sido ferido em combate e de ter vários estilhaços no corpo. Vive à conta de ajudas. Alpoim Calvão, que foi também seu comandante, ajuda-o na alimentação, na roupa e na renda. E ele passeia-se por Lisboa com a tristeza de um solitário, porque toda a família ficou na Guiné-Bissau. Não compreende: "Se eu sou português, se servi esta pátria, porque é que os meus filhos não podem estar comigo e ser portugueses?" (...)» (6).
 |
| Alpoim Calvão |
Notas:
(4) Exposição assinada por dezenas de guineenses refugiados em Portugal.
(5) Requerimento dirigido em 6 de Dezembro de 1988 ao ministro das Finanças e do Plano.
(6) Jornal Público, 30 de Junho de 1996.






















.jpg)
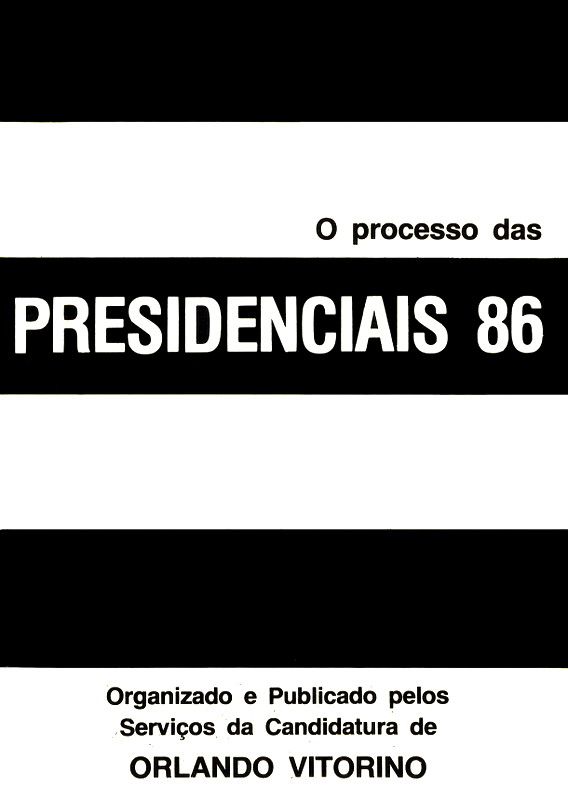




.JPEG)
.jpg)
+10.JPG)






















Nenhum comentário:
Postar um comentário