«[...] O problema do mal, "expressão discutível mas consagrada para designar a imprevisibilidade de encontrar a razão da existência do mal, é enunciado, assim, por Leonardo Coimbra: "O mal existe. É imoral negá-lo".
Há, todavia, quem o negue, persistentemente e de diversos modos. O modo mais leviano e frequente, como desdenhosamente observou Sampaio Bruno, é o do bem-pensantismo, com suas expressões mais recentes, mas também mais preponderantes, nas teorias sociais ou socialistas, subsequentes ao positivismo. O modo mais responsável é o das explicações ontológicas que, como observou Schelling, "todas assentam na supressão do mal".
A realidade, ou a essência ontológica do mal, é um mistério. Do mal só conhecemos as suas manifestações, a sua existência, a sua fenomenologia. Mais do que imoral, negar a sua existência é suprimir o que faz o teólogo e o filósofo, o que "em sua profundidade insondável, em suas manifestações permanentes, para sempre desperta a alma do homem para o conhecimento do absoluto e da divindade.
O mal não existe na natureza nem se identifica com a morte e a dor, pois, como Leonardo Coimbra demonstrou, a morte é a garantia da renovação e da eternidade e a dor é o apelo à transcendência e a abertura à graça. O mal só existe no mundo do homem: na consciência isolada do pensamento universal, e nesse isolamento dominada pelo temor, a angústia e o desespero; nos malefícios que os homens fazem uns aos outros.
São os malefícios que os homens entre si se fazem os predominantes na existência do mal. Eles justificam a misantropia que, subjacente em Álvaro Ribeiro, patente em Hobbes, marcou os pensadores mais atentos à condição humana da filosofia.
Também aqui persiste o mistério. Porque os homens fazem o mal persuadidos de estarem fazendo o bem. São instigados e o mistério reside no instigador. A religião e a arte têm-lhe dado uma representação pessoal que designam com nomes como Satã, Diabo ou Mefistófeles. Mas a representação e o nome não desfazem o mistério da instigação cuja origem é descrita por mitos, como o da revolta dos anjos, e cuja morada situam no inferno.
Os homens não são anjos nem demónios e o seu mundo, se não é decerto o superno, também não é o inferno. Visões místicas poderão abrir-lhes as portas celestiais, imagens poéticas poderão oferecer-lhes estações no inferno, mas a realidade é irredutível e só nela é real o mal que existe.
Sempre os homens lutam contra o mal e, se é imoral negarem a sua existência, é também imoral recusarem-se ao combate. É, porém, um combate sem triunfo porque sempre o mal, com seu mistério, persistirá.
À luta contra o mal se destinam a ética, a moral e o direito. É-lhes comum, abstraindo de qualquer instigação, atribuir aos homens, a cada um deles, a total responsabilidade dos seus actos, responsabilidade que doutrinas modernas, em especial psicológicas e políticas, procuram negar com um êxito que se mede pelas limitações da liberdade de que as sociedades contemporâneas são vítimas inconscientes e satisfeitas.
[...] Consiste a ética na concordância da acção com o pensamento. Há quem, na tradição da filosofia do rei D. Duarte, entenda esta concordância como lealdade [...] e quem, na mais remota tradição aristotélica, situe nela a felicidade, embora na recente modernidade, seguindo os caminhos traçados pelo hegelianismo, se veja na lealdade um símbolo de submissão e na felicidade um fim que só ao indivíduo cabe alcançar ou, como disse Oliveira Salazar, "um assunto privado".
No fundo, a concordância da acção com o pensamento não é mais do que uma expressão do carácter operativo do pensamento. Nisso consistirá então a ética, na afirmação de que o pensamento é operativo e não há acção que não seja movida por ele. Assim a ética arruína todas as pretensões do pragmatismo a poder justificar-se por si próprio e por seus fins imediatos, apresentando-se independente de doutrinas, vazio de ideias ou conceitos, alheio à filosofia e indiferente aos fins últimos que uma expressão teológica designa pelos "novíssimos do homem".
Ora se o pensamento só é real no indivíduo, a ética é individual e tem uma natureza por excelência educativa. Nela se representa o modelo do magistério e da paternidade: o pai faz-se mestre do filho como o mestre se faz pai do discípulo. Não é sem deliberada significação que os seus dois principais tratados de ética - é discutível que o terceiro seja obra original - os tenha escrito Aristóteles, um, para seu filho Nicómaco, outro para seu discípulo Eudemo.
Da ética se distingue a moral por se não dirigir ao indivíduo mas à sociedade ou só por mediação dela se dirigir ao indivíduo. Consiste num conjunto, mais ou menos sistematizado, de valores que transmite, insinuando-os nos costumes e firmando-os na crença religiosa, com a forma de preceitos. Em obediência a esses preceitos, os indivíduos que compõem a sociedade e não têm acesso ao pensamento operativo hão-de orientar a sua acção e assumir a responsabilidade dos seus actos.
Por sua vez, o direito é um sistema de instituições que não atende, como a ética, ao pensamento a que se aduna a acção dos indivíduos nem, como a moral, aos preceitos que substituem o pensamento operativo. Atende, e com rigor, aos actos e sua adunação, não ao pensamento ou aos preceitos, mas às instituições. Procura ser, nesse rigor, pensamento objectivo, para isso só se afirmando na sua positividade: só o direito positivo é plenamente direito. A positividade limita-o ao mundo dos homens, que é onde o mal existe. Sem a existência do mal, não haveria direito, o que explica que as doutrinas que negam a existência do mal, como as socialistas e anarquistas, preconizem a abolição do direito.
Firme na positividade, seu domínio próprio, mas não encontrando nela a razão de si, o direito no entanto resiste às tentativas que, para lhe encontrarem a razão de si, o extrapolam para fora do seu domínio. Recusa qualquer identificação com a ética, até quando tenha de atender à intencionalidade das acções frustradas, como a do incendiário que apenas acende um fósforo mas lança fogo a toda a floresta, nem com a moral, até quando tenha de integrar no seu sistema a força dos costumes, nem com a filosofia, até quando tenha de reconhecer que nela residem os princípios dos seus sistemas.
Entre as manifestações mais significativas dessa resistência, deve sublinhar-se a polémica de Catão contra Asclépio que "marcou data na história universal" [...]. Veio o grego a Roma afirmar que a positividade do direito, com o poder normativo obrigatório que lhe é inerente, deriva da ética e só pela ética encontra justificação. Tinha ele em vista, decerto, o direito grego que, tendo por princípio a verdade, contém, como a ética, o pensamento que é sempre pensamento da verdade. Mas o princípio do direito romano é a justiça, e Catão contrapôs-lhe que a positividade do direito é, de acordo com o seu princípio, igualmente para todos os homens e não pode, portanto, derivar do aristocrático individualismo da época.
Identificar, confundir, igualizar o direito e a moral, como preconizam as teorias sociais ou socialistas e como acontece nas culturas orientais, equivale a dar a crença por razão do direito. Não razão de si, com conceito e ideia, mas razão apenas, ou fundamento, naquele sentido em que se designam por "fundamentalistas", entre os maometanos, as seitas que ignoram o direito e o substituem pela moral, com consequências que fazem oscilar a existência dos povos e dos homens entre o fanatismo da devoção mais sentimental e o fanatismo da violência mais sanguinária.
Firmando-se nas crenças colectivas, isto é, fazendo da religião um culto sem teologia e não dando lugar à reflexão da consciência individual, a moral é inimiga da ética e inimiga do livre pensamento. Se, apesar disso, fosse possível admitir alguma sua relação com o direito - e muitos a admitem e até preconizam que o direito não seja mais do que um ramo da moral - ficaria ele reduzido ao normativismo, suas leis não seriam mais do que máximas, suas instituições instrumentos de coerção. Alguns haverá que põem em questão se a coercitividade, que a efectivação ou positividade do direito não pode dispensar, lhe vem da moral ou lhe vem de onde vem à moral, das crenças colectivas...».
Orlando Vitorino («As Teses da Filosofia Portuguesa»).
«Teófilo Braga através dos actos de escolher, deliberar e decidir, mantinha firme uma vontade que lhe mereceu o qualificativo de intransigente e de sectário. Entre os seus sentimentos se distinguem o amor da Família, da Pátria e da Humanidade, (alimentado por uma imaginação de poeta e robustecido pela observação de estudioso) e a admiração pelo talento de três filósofos da história que foram Vico, Hegel e Comte. Quanto às ideias, mais recebidas de cultura alheia do que elaboradas por mente própria, cobrem elas a camada mais superficial de tão notável personalidade.
Desenvolvido da exterior vestidura que são as palavras e as frases peculiares das escolas filosóficas e dos partidos políticos, o pensamento de Teófilo Braga, tão mal estudado, surge na configuração propícia de um precursor da filosofia portuguesa. Teófilo Braga soube, como bem poucos dos seus contemporâneos, situar a relação da filosofia com as formas de cultura, enunciando a problematização da política nacional. Não lhe foi dado o mérito de demonstrar a independência do nosso pensamento filosófico, embora alguma vez a pressentisse, por virtude do seu profundo, ardente e elevado patriotismo.
Estava destinada a Sampaio Bruno - ao autor de A Ideia de Deus - a glória de referir ao pensamento teológico a filosofia portuguesa que durante séculos se mostrara incompatível com as lucubrações metafísicas. A escassez de obras filosóficas em língua portuguesa apenas tinha sido verificada antes por quem não a soubera explicar. Teófilo Braga, que por séria vocação se dedicava a escrever história e a fazer política, não poderia distrair-se dos seus trabalhos para delinear uma filosofia original.
Recorreu, portanto, aos escritores estrangeiros e por várias vezes confessou terem sido mestres do seu pensamento filosófico Vico, Hegel e Comte. Decerto, entre os três filósofos da história, há a nota comum de terem meditado sobre os mistérios que as tríades de longe procuram significar e até exprimir. Mas de Vico a Comte desce a linha de profanação até ao completo repúdio do teologismo.
Lamentamos hoje que Teófilo Braga não tivesse permanecido fiel à inspiração de Vico para aplicar ao pensamento do seu tempo e ao estudo das coisas do nosso país. Vico era o representante de uma filosofia peninsular em reacção a uma filosofia continental que, no século XVII com o cartesianismo como no século XVIII com o enciclopedismo, sempre tem pretendido assumir a hegemonia na cultura europeia. O anticartesianismo dos povos insulares e peninsulares, orientado segundo o pensamento de Vico, seria a libertação fecunda de um falso e abstracto universalismo.
Correspondia o pensamento de Vico às tendências próprias do liberalismo romântico, quer pela sua predilecção teológica, quer pelo estudo das tradições, quer pelo sentido da liberdade humana. A obra de Michelet, muito lida pelos escritores portugueses, ainda mantém pura a inspiração do filósofo napolitano. Só mais tarde foi o humanismo de Vico interpretado num sentido pragmatista e ateu, por quem não soube ler o contexto das suas obras admiráveis.
A influência de Vico é particularmente notável no livro A Poesia do Direito que, contra o que o título possa sugerir, não trata de formas literárias. Neste livro, que merece ainda hoje ser lido, Teófilo Braga expõe-nos as fases de decadência dos símbolos jurídicos, desde a representação teatral ou pelo menos mimética, passando pela alegoria verbal, até à nomenclatura significativa. Na Poesia do Direito, encontramos as seguintes referências a Vico: "Vico! que horizonte se não abre à inteligência ao pronunciar este nome. O seu livro é um Apocalipse, cada dia se descobre ali o germe de uma ciência nova, a Filosofia da História, a Simbólica do Direito, a Crítica da Arte. É um desses génios descobridores que alcançam as verdades na sua maior generalização. É mais do que um filósofo, é um profeta, não das trevas religiosas, mas do esplendor da ideia, da luz. Não era para aquele século".
De Hegel estudou Teófilo Braga de preferência a Estética na tradução francesa de Charles Bernard. As traduções de Auguste Vera, hoje consideradas como infiéis e deficientes, não iam além de uma composição de textos da Enciclopédia das Ciências Filosóficas. Nem a Fenomenologia do Espírito, nem a Ciência da Lógica estavam ainda traduzidas em línguas românicas.
Entre escritores franceses mais lidos em 1865, pela geração de Coimbra, aqueles que directamente estudaram Hegel foram principalmente Renan e Taine. O célebre Proudhon, que os conferencistas do Casino tanto exaltaram, confessou em carta nunca ter lido um livro de Hegel. A obra de Carlos Marx, cuja fama era já grande entre nós, só começou a ser estudada pelos pensadores das gerações posteriores a 1871.
Não foi, portanto, directa nem poderosa a influência da obra de Hegel sobre Teófilo Braga, como aliás até hoje não foi sobre qualquer pensador português. Há nos pensadores portugueses como que uma íntima repugnância pelo idealismo que pontifica entre o Céu e o Inferno, sem se decidir a resolver os problemas humanos. Teófilo Braga iria encontrar a disciplina - disciplina quer dizer doutrina - na obra de Augusto Comte.
Submete-se o historiador à disciplina do positivismo quando já a sua mentalidade de pensador estava completamente formada, quando já havia provado como escritor. Tudo nos leva a crer que o pensamento filosófico de Teófilo Braga subjaz implícito em zonas de profundidade, embora adquirisse uma expressão útil para penetração social do espírito agente e actuante. Quem estudar o pensamento filosófico do positivista, para averiguar o que ele trouxe de original à cultura portuguesa, terá de pôr em dúvida a aparente justeza das fórmulas comtianas.
A adesão de Teófilo Braga ao positivismo, e a relação do seu pensamento com a filosofia de Augusto Comte, foi diferentemente esclarecida pelo seu amigo Sampaio Bruno e pelo seu discípulo Teixeira Bastos. O autor de A Geração Nova assim se refere a esta decisão de Teófilo Braga: "A meio da sua carreira, este homem singular tem a coragem rara de fazer a reconstrução das suas ideias, submetendo a um método novo todo o corpo das suas opiniões anteriores, criando assim o direito de ser tão severo com os outros como o começou por ser para si mesmo; e a sua insaciável sede de saber condu-lo a ocupar-se, com um cuidado igual, de todos os problemas, tão complexos, que se oferecem às meditações humanas, evadindo-se por esta forma da inferioridade mental que provém da exagerada especialização do trabalho". Teixeira Bastos, no estudo sobre a obra do mestre, escreveu: "Aceitando a orientação do Positivismo, não teve Teófilo Braga de mudar de rumo; apenas reorganizou e harmonizou as suas concepções do período metafísico, porque desde os seus primeiros passos na literatura fora sempre dirigido pelo critério histórico de Vico e de Hegel, verdadeiros precursores do fundador da Sociologia. Um e outro anunciaram e prepararam o advento do estudo científico da humanidade -, Vico com os seus brilhantes pontos de vista sistemáticos, em que já se manifesta o sentimento íntimo das leis sociológicas, e Hegel com o primeiro sistema completo de uma filosofia da arte"».
Álvaro Ribeiro («Os Positivistas»).
«Com facilidade se compreende que Portugal seja um país culturalmente dependente, embora não abandone a autonomia artística e filosófica que lhe é própria. Se de algumas poucas correntes filosóficas se pode reconhecer que foram introduzidas na nossa cultura – o tomismo e o positivismo, por exemplo –, só nos mais próximos dias a obra de Hegel começou, não diremos a ser pensada, mas apenas a ser conhecida entre nós. Se, como vimos, o hegelianismo foi, nos outros países, reivindicado pela generalidade das doutrinas políticas embora os seus textos originais estivessem esquecidos e ignorados, também em Portugal se podem encontrar os sinais da inconsequente atenção que alguns dos nossos mais representativos escritores prestam à obra ou ao nome de Hegel. Por atitude pessoal de Antero e por formalismo de escolas literárias, algumas descrições artísticas fizeram correr a fama da cultura filosófica daquele poeta através de um ingénuo pitoresco coimbrão, vendo-se Antero, à janela de uma "república", a declamar sobre as trevas da noite, trechos de Hegel. Tratava-se de trechos das adaptações de Vera, e o próprio Antero veio a afirmar como não passavam de simples veleidades os seus conhecimentos filosóficos. Entretanto, quem primeiro, entre nós, se referiu a Hegel, foi Alexandre Herculano, poderoso e admirável escritor para quem a filosofia era "fria e vã": limitou-se a citar Hegel para apoiar a sua defesa dos direitos de autor.
A Teófilo Braga se deve, além de expressões de combate ao longo de outros livros, uma breve e superficial exposição da estética hegeliana em "As Modernas Ideias na Literatura Portuguesa"; capítulo de pequena divulgação, é, no entanto, significativo num pensador que assumiu a direcção espiritual cultural e política do positivismo. Teófilo reuniu assim o que em Itália era representado por R. Ardigò e B. Spaventa numa simultaneidade que causa a estranheza dos historiadores. Compreende-se, portanto, que tendo utilizado de Hegel, para aquele capítulo de "As Modernas Ideias", a primeira tradução francesa da "Estética", que era acompanhada de um longo prefácio, logo nos livros posteriores pretenda refutado o hegelianismo, numa atitude análoga à de Oliveira Martins.
Nos pensadores ainda contemporâneos de Teófilo, nem de Sampaio Bruno conhecemos qualquer referência a Hegel, e, posteriormente, não há de Leonardo Coimbra sinais de uma demorada meditação do hegelianismo, como não também ficaram dos professores que em Lisboa e Coimbra ensinaram filosofia. Explica-se isso por ter correspondido a sua actividade especulativa ou docente – realizada como é neste país culturalmente subordinado – ao período de esquecimento europeu do hegelianismo.
Quando, depois da reacção contra o positivismo, se assiste, como ainda hoje assistimos, à expansão do conhecimento de Hegel, começa tal redescoberta por ser representada entre nós por Fernando Pessoa. Falando do que entende dever constituir o verdadeiro sistema de filosofia, declara: "Há dele um exemplo único e eterno. É essa catedral do pensamento, a filosofia de Hegel". Pouco manifesta o grande poeta as consequências que se deveriam esperar de tal admiração por um hegelianismo considerado sobretudo no que tem de místico; antes, em alguns ensaios, mostra não ter em conta um pensamento que naqueles termos admira e que poderia esclarecer, por exemplo, a sua infeliz tentativa de "uma estética não-aristotélica". No entanto, embora assim análogo às veleidades filosóficas de Antero, vale este, entre nós, como um primeiro sinal.
A atenção definitiva para o hegelianismo ser-nos-á dada pela Faculdade de Direito de Coimbra e está ligada à actividade que a nobre figura de professor que é o Dr. Cabral de Moncada exerceu no livro e na cátedra, para a imposição do estudo filosófico do Direito. A consagração universitária teve-a esta actividade com a criação, em 1936, da cadeira de Filosofia do Direito, mas já antes a obra de Cabral de Moncada encontrava uma audiência entre as gerações mais novas e levara ao aparecimento das primeiras tentativas para pensar o direito do ponto de vista da filosofia: entre elas se deve contar, como inteiramente lograda, a de António José Brandão. Nem este, nem Cabral de Moncada são hegelianos: António José Brandão é um neotomista que nesse "intelectualismo realista vê a única postura filosófica de onde é possível encarar a multiforme realidade por todos os seus aspectos"; é Cabral de Moncada um neokantiano de difícil definição tanto na busca de uma posição original como na crítica compreensiva que dedica a quase todas as concepções filosóficas do Direito.
Todavia, não se pode nem repugnar o cultivo nem promover o ensino da filosofia do Direito sem ter de considerar o pensamento de Hegel. E é por isso que, apesar da maior divulgação entre nós de kantianos como Radbruch, Del Vecchio ou Kesen , apesar do racionalismo kantiano de Moncada e do neotomismo de A. J. Brandão, os nossos dois mais representativos pensadores do Direito, logo o Prof. Afonso Queiró, na sua dissertação de doutoramento sobre os "Fins do Estado", assumiu um ponto de partida hegeliano que veio mais tarde confirmar – mau grado a diagnose neotomista que A. J. Brandão fez daquela sua dissertação – no opúsculo sobre «Ciência do Direito e Filosofia do Direito».
É consequente que, ao lado desta actividade cultural e universitária, se tenham verificado as suas repercussões noutros domínios da vida nacional. Com a prevalência da filosofia do Direito, dá-se a desvalorização do direito positivo e, com ela, a da segurança das instituições e legislações e cujas reformas os governos procedem com uma pressa que nada justifica, pois não assenta no conhecimento e na consciência dos princípios racionais do Direito; assim se verifica, por força "das novas ideias da ontologia jurídica neo-hegeliana, a quebra do prestígio da lei".
Por outro lado, ao instituir-se entre nós o corporativismo, a sua relação com Hegel é mais verdadeira, embora seja indirecta, do que com a realidade histórica medieval, e na Constituição de 1933 pode reconhecer-se, em diversos pontos, a presença do hegelianismo.
No domínio mais rigorosamente filosófico, o hegelianismo é pela primeira vez afirmado entre nós como o sistema essencial de toda a formação filosófica por um livro que abre, em 1944, a fecunda polémica, já hoje anacrónica, sobre a afirmação da existência das filosofias nacionais. Não terá Álvaro Ribeiro abandonado esta espécie de fidelidade a Hegel, mas tem dedicado os seus posteriores livros a uma revalorização do pensamento de Aristóteles, o que não só pode ver-se concordante com o hegelianismo, como se conforma melhor com a nossa tradição filosófica. Tal hegelianismo promoveu, entretanto, as primeiras traduções portuguesas de obras de Hegel.
Revertendo de Hegel para Aristóteles, aquele pensador cedeu às tendências da cultura portuguesa que, sempre que procura os seus fundamentos e caminhos filosóficos, é no aristotelismo da escolástica medieval, ou no aristotelismo dos conimbricenses da Renascença, ou no aristotelismo reconstituído do século XVIII pelo Padre João Baptista, ou na última tentativa aristotélica de Silvestre Pinheiro Ferreira, que encontra aquilo que, ao concluir uma revisão da história da nossa filosofia, o Prof. Delfim Santos pôde assim definir: "Aristóteles é o pensador sempre presente em todos os momentos do pensamento nacional".
Também na filosofia do Direito, o pensamento escolástico encontra uma permanência que o Prof. Cabral de Moncada assinala como ainda predominante nos nossos dias; e ao apresentar-se como um filósofo neotomista do Direito, António José Brandão tem de observar ironicamente: "Cá está o espectro da tradição escolástica".
Que saibamos, não existe nenhum estudo sobre as relações entre o pensamento de Hegel e o de Aristóteles, e se é possível mostrar como o hegelianismo de muitos modos prolonga a filosofia das Luzes e quanto a ela deve, não se pode todavia negar a admiração que, dentre todos os filósofos, Hegel dedica a Spinoza e a Aristóteles; para lá da simples admiração, o hegelianismo aceita, em alguns momentos essenciais, conceptualizações do espinosismo e do aristotelismo. São as primeiras culturalmente reconhecidas, e a Spinoza se reportam as noções hegelianas de substância e determinação, de finitude, negação e infinito. Quanto a Aristóteles, se é bem conhecido o capítulo que nas "Lições de História da Filosofia" lhe dedica, ainda se não atendeu convenientemente às múltiplas referências em que Hegel recorre ao filósofo grego para abonar o seu próprio pensamento, algumas de um impressionante significado como, por exemplo, a seguinte:
«"Os livros de Aristóteles De Anima, com os tratados que contêm quanto aos aspectos e estados particulares da alma, são, hoje e sempre, a melhor obra, talvez a única com interesse especulativo, que há a esse respeito. O fim essencial de uma filosofia do Espírito só pode ser o de introduzir de novo, no conhecimento do Espírito, o conceito, e também, por consequência despertar a compreensão daqueles livros aristotélicos"».
Orlando Vitorino (in Prefácio à 1.ª Edição de Hegel, «Princípios da Filosofia do Direito»).
«Sem Deus não há filosofia. Sem filosofia portuguesa, não há escola portuguesa; sem escola portuguesa não há política portuguesa».
Álvaro Ribeiro («Memórias de Um Letrado», III).
«Logo na abertura do capítulo "A Constituição", em nota ao § 272, Hegel observa que "interminavelmente se tem falado, nos tempos modernos, de constituição e se têm proposto ao mundo as ideias mais vazias", de tal modo que "depois de todo esse palavreado, é um milagre ainda se não terem tornado repugnantes palavras como constituição e liberdade e ainda as pessoas se não envergonharem de falar em constituição política". E logo acrescenta:
"Dever-se-ão abster de participar nas discussões sobre a Constituição todos aqueles que entendem que a divindade se não pode conceber e que o conhecimento não passa de uma tentativa vã".
No momento em que se reedita esta tradução do livro de Hegel, acabam os portugueses de receber uma Constituição Política que lhes foi elaborada e outorgada por uma Assembleia eleita em condições de tão extrema perturbação nacional e patriótica que se pôde estabelecer previamente, caso único na história da liberdade dos povos, que a Constituição a elaborar devia ser uma Constituição Socialista, isto é, que devia resultar da obediência às teses de uma teoria ateísta e não da discussão que tenta conhecer a verdade. As duas condições indispensáveis para que, segundo Hegel, se possa tão-só falar de Constituição Política, desde logo foram, pois, abolidas.
Não queremos negar que sejam discutíveis as condições hegelianas banidas da Assembleia Constituinte eleita em 1975 pelos portugueses; mas que nos seja, então, concedido que não passa de um absurdo a pretensão do socialismo moderno em ter, por um lado, sua origem na filosofia de Hegel e em destinar-se, por outro lado, a suprimir o Estado: "A Constituição Política – diz Hegel – é antes de tudo o mais a organização do Estado" (§ 271). Não há racionalismo de uso corrente nem idealismo por mais vazio, capazes de suportar tanta contradição».
Orlando Vitorino (in Prefácio à 2.ª Edição de Hegel, «Princípios da Filosofia do Direito»).
«Caracteriza o nosso pensamento filosófico, desde os ortodoxos aos modernos heterodoxos, como seria tempo de ver, uma imperiosa exigência realista, exigência realista que vem contrapor-se, de vários modos, à exigência idealista, ou exigência de razão, sempre fundamental em toda a autêntica filosofia.
Que isso tenha sido ou seja um mal, não pensamos, nem a tal suporíamos grande sentido. Certamente que essa tendência realista - na especulação teológica como na filosófica - tornou difíceis os caminhos de Bruno e, até ao presente, de todo o pensamento português. Desde aí, porém, até negar o valor do que foi, medeia distância considerável. Excluir o mau em nome do bom é a falácia pragmática, pequenamente religiosa ou política, que leva a nenhures o sentido do bem.
Ao fundo deste obsessivo realismo português e peninsular vimos nós, e por certo outros, alguma coisa de radicalmente significativo, como também na ordem mais puramente especulativa.
Há anos vimos longamente considerando e tratando, e isso por própria e funda tendência do nosso espírito, não por cultural imitação, a exigência idealista e dialéctica, tentando pacientemente atender e respeitar aquele fundo pensamento de Hegel, quando disse: "A Ideia não tem pressa". Nem cabe ignorar que da atenta reflexão sobre tudo quanto sintetiza e tudo quanto já imediatamente ignora, depende muito e porventura muito mais que muito. Quem sabe? Se todos os leitores atentos e reflexivos deste modesto escrito, se detivessem aqui, não passassem adiante, e longamente atendessem tudo quanto Hegel quis dizer, é claro como o mais claro que tudo de um dia para o outro assumia novo aspecto. Tal é a potência de significado e sugestão verídica do pensamento!
"A Ideia não tem pressa". Esse profundo pensamento é o mais estranho possível aos homens e até aos filósofos demasiado humanos, e logo o mostra Nietzsche, que entendeu poder filosofar "às marteladas" e assim aquele e todos aqueles que entenderam poder contraditoriamente tornar a dialéctica hegeliana em uma espécie de aríete ou de explosivo capaz de apressar as coisas.
"A Ideia não tem pressa". Este profundíssimo pensamento é alheio aos homens demasiado humanos e aos povos em crise e glória de demasiado, ou, noutra linguagem, deficiente humanismo. Aos alemães, certamente, nos tempos posteriores a Hegel e nos recentes, e aos ibéricos noutro tempo, e aos russos, hoje.
O sentido da verdade urgente dominou durante largos séculos, e domina ainda, os povos ibéricos. Crença ou sentido pragmático primaram em nós o mais puro sentido especulativo. A Ideia frustrou-se aqui, por ser requerida com demasiada pressa. De querermos a verdade alcançada, tivemos a verdade celeste que necessariamente degenerou e nos deixou com as mãos vazias. No receio da filosofia heterodoxa, perdeu-se a teológica ortodoxia.
O pensamento de Sampaio Bruno é, sob este essencial aspecto, significativo. Não desenvolve uma lógica, no melhor sentido do termo, nem uma dialéctica consequente. Não se apresenta como metafísica do conhecimento e da compreensão, mas, caracterizadamente, como metafísica de redenção. A interrogação que lhe está na base não é, como nunca é, em geral nos ibéricos, "que sei e posso clara e plenamente compreender?", mas "que sou e como posso autenticamente ser?"
Sem se atender a este ponto, nada se intui ou abrange nem do pensamento português, nem do sentido da nossa história e da nossa vida presente.
Não nos interrogamos longamente sobre o sentido e sobre as possibilidades teoréticas de uma razão distinta e de um conceber autónomo, e todas as tentativas nesse sentido são afinal desviadas ou caem vencidas. O nosso conceber é genesíaco e prático, polarizado em dois sentidos: a fé, referência directa à revelação originária, a acção, ou redenção imediata do mundo. Se "a Ideia não tem pressa", nós tivemos pressa em demasia.
E entretanto, quando às vezes longamente revemos este conceito, que todo o Português responsável deveria examinar, achamos que não há no que foi nada de mau, no sentido dos críticos modernos. Se, com efeito, em nós, peninsulares, foi demasiado obsessivo o sentido dos fins, a filosofia de além-Pirenéus demorou-se bastante pelos caminhos e meios da natureza e da natural razão, da cidade e da razão da cidade.
E eis agora chegado o momento em que a Europa começa a saber claramente aquilo de que já muito suspeitava: tomou - vê ela - os meios pelos fins. Coisa essa, certamente, já muitas vezes dita e repetida. Mas o propósito de quem pensa não é a aleatória novidade, mas a verdade. A corajosa atitude de repetir implica a capacidade de verificar o que está certo.
Começamos a ver como pela segunda vez interferem os caminhos da Europa e os dos países do Sol posto. De novo o que ficou mergulhado no passado surge perante a actualizada mente europeia. Lamentável e até terrível seria que os preconceitos importados da Europa, formando aqui uma escolástica de novo tipo (agora humano e terreno), nos vedassem a consciência da situação e impedissem o ver equânime e justo.
Como é difícil dizer neste ponto tudo quanto importa! E como se corre o já experimentado perigo de se ser julgado como qualquer restrito nacionalista quando o verídico sentido do universal nos move!
Uma coisa, entretanto, deveria ver-se: não será com os modernos preconceitos enciclopedistas, hoje obsoletos, que os novos caminhos se abrirão.
Sem atender a isso - mas toda a séria filosofia moderna leva a tal! - não se compreende o sentido do pensamento de Bruno. Para ajudar, por outro lado, a atender, nenhuma obra entre nós pode igualar a de Bruno. E nenhuma pode igualá-la porque ela abrange, em seu percurso, durante quase meio século, os extremos entre os quais se trava o debate que, sob certo aspecto, é do século XIX e dos nossos dias, e que, sob outro aspecto, é, por certo, tão velho e tão longo quanto as interrogações do homem e a própria filosofia».
José Marinho («Estudos sobre o Pensamento Português Contemporâneo»).
«Não sei se o regime salazarista, que esteve instalado entre nós durante cinquenta anos – desde 1926 até 1973 –, terá sido um regime de inspiração hegeliana. Mas hegelianos foram, decerto, muitos aspectos da sua Constituição Política, plebiscitada em 1933, graças – segundo então se dizia – à intervenção na elaboração do respectivo texto do jurista monárquico Fezas Vital.
Este ano de 1933 ainda era abrangido pelas comemorações do centenário da morte de Hegel em 1831. E se até à data dessas comemorações as obras de Hegel dificilmente se podiam encontrar na própria Alemanha, depois de então as edições e as traduções multiplicaram-se em muitos países da Europa e América. Em Portugal, nos anos sessenta e por iniciativa do movimento da "filosofia portuguesa" – ou da "escola" de Leonardo Coimbra – e realização da Livraria Guimarães, sempre ligada àquele movimento, editaram-se as primeiras traduções do famoso filósofo: a destes "Princípios da Filosofia do Direito" e a da "Estética". Por aí se ficou quanto a Hegel. A "cultura oficial", centrada nas Universidades do Estado, apontou sobre tais edições as suas armas habituais, sempre destinadas a paralisar a actividade intelectual: quer pela insídia quanto à fidelidade das traduções, quer pela exigência, supra e falsa erudita, segundo a qual a compreensão da obra de Hegel só se obtém nos textos originais (ignorando assim que o próprio Hegel afirmara o contrário), quer sobrepondo àquelas duas obras hegelianas outras, mais "modernas", sobre os mesmos "assuntos" (um professor universitário chegou a procurar-me para me dissuadir de continuar a tradução da "Estética" – que ele era incapaz de compreender – oferecendo-me, em troca, editor e compradores para uma tradução da "História da Arte", de E. Faure).
Com toda esta operosíssima e incansável hostilidade, as traduções das duas obras de Hegel foram-se editando e reeditando, sendo esta a 4. Edição dos "Princípios da Filosofia do Direito".
A escola da "filosofia portuguesa" não é uma escola hegeliana. Longe disso. Hegel é, como todos os pensadores alemães (ou mais e melhor do que todos os pensadores alemães) o filósofo da vontade. A "filosofia portuguesa" ignora a vontade e é uma filosofia do pensamento, quer dizer: conserva e actualiza o primado do pensamento que, na tradição escolástica, os alemães substituíram pelo primado da vontade.
Hegel é, para empregarmos um termo de Santana Dionísio, a culminância da filosofia alemã e a perfeita sistematização da filosofia moderna ou da filosofia que deu origem à ciência moderna ou, ainda, da filosofia que constitui a última possibilidade de a ciência moderna adquirir plena consciência de si no momento em que se esvai conduzindo os homens e o mundo aos limites de uma catástrofe universal e trágica.
[...] A "filosofia portuguesa" está, pois, nos antípodas do hegelianismo e da modernidade. O que há de mais sério na modernidade é o seu início em Santo Agostinho e o seu termo em Hegel. O que há de mais sério na "filosofia portuguesa" é a sua actualização do aristotelismo. "Aristóteles – reconheceu Delfim Santos – é o pensador sempre presente em todos os pensadores portugueses". A filosofia de Leonardo Coimbra é um dramático e até trágico, um emocionante e arrebatador percurso, desde o platonismo e seu prolongamento na modernidade (a de Kant e da ciência moderna), até ao cristianismo e ao aristotelismo. A obra de Álvaro Ribeiro é uma teorização actualizadora da filosofia aristotélica. Na geração actual e actuante, Banha de Andrade dedicou-se ao estudo e reedição dos textos aristotélicos "conimbricenses" e Pinharanda Gomes lançou mãos e talento à tradução do "Organon", a primeira tradução portuguesa, depois da contra-reforma, de um livro de Aristóteles. E esse livro é o "Organon" ou a lógica. A "Ciência da Lógica", de Hegel, é a articulação das teses opostas, pari passu, às teses da lógica aristotélica. Esta começa, tem início, no chamado princípio de não-contradição: "de nada se pode dizer, ao mesmo tempo, que é e não é"; a de Hegel começa, tem início, no princípio que se pode chamar de contradição: "de tudo se deve dizer, ao mesmo tempo, que é e que não é".
A atenção da "filosofia portuguesa" ao hegelianismo, termo da modernidade, tem correspondente na atenção que prestou, num espantoso mas não lido livro de Pascoaes, ao agostinianismo, início da modernidade. Esta tradução dos "Princípios da Filosofia do Direito" é um modesto sinal da honestidade com que se atende ao hegelianismo, sinal que está longe de sequer ter esboçado a "cultura oficial" com sua inspiração, ou apenas pretensão, num hegelianismo de baixa versão socialista. É também demonstração da sábia seriedade com que prossegue a actualização da filosofia clássica».
Orlando Vitorino (in Prefácio à 3.ª Edição de Hegel, «Princípios da Filosofia do Direito»).
A FILOSOFIA E O DIREITO
O estudo comparativo das constituições políticas que foram promulgadas depois da primeira guerra mundial (1914-18) mostrar-nos-á nitidamente que os princípios individualistas e contratualistas de Locke, Kant e Rousseau sofreram uma regressão no século XX para darem lugar às doutrinas estruturais da família, do trabalho e da corporação que haviam sido colocadas como que fora do direito público no decurso do século XIX. Em vez da antinomia entre uno e múltiplo, entre o átomo e a massa, entre a vontade individual e a autoridade social, ressurgiu na mente dos juristas a certeza de que a liberdade humana só poderia ser garantida pelo vínculo orgânico das instituições tradicionais. Factor de volta, de revolta ou de revolução às antigas tríades da filosofia política parece ter sido a desvinculação característica do proletariado contemporâneo; mas para além das parecenças ou das aparências há as fundas razões do processo mundial. Não basta, pois, apontar um só factor para descrever uma operação sociológica, e muito menos para explicar a transformação mental dos agentes implícitos na evolução histórica. A concorrência e a convergência das causas não se desenham de igual modo em cada povo e em cada época, configuram mais combinações várias que o estudioso compara antes de dar por findo o processo investigativo.
Da leitura de várias notas superficiais sobre as fontes doutrinais da «Constituição de 1933» fomo-nos dando conta de que os respectivos autores omitem ou minimizam a influência da filosofia de Hegel no ambiente português contemporâneo. Depois, fomos verificando que até em lições de direito constitucional, publicadas com licença dos professores universitários, a referência directa ou imediata à obra de Hegel vem prejudicada por outra bibliografia. Sem apreciar os métodos positivistas do ensino público, lamentamos que aos licenciados em direito, predestinados para funções políticas, administrativas e burocráticas, não costumem ser prestadas noções suficientes acerca da filosofia implícita nas instituições que vão servir; mas confessamos também que é difícil qualificar sem injúria a atitude hostil de alguns escritores contra a verdade histórica de que o pensamento de Hegel, já respeitado por Alexandre Herculano, teve entre nós várias aplicações de ordem cultural. Este defeito pode ser em grande parte atribuído aos escritores do «Integralismo Lusitano» que omitiam a filosofia de Hegel para melhor porem em evidência o antiliberalismo de Augusto Comte. De certo que nos será muito grato ver citados autores portugueses da categoria de um Gama e Castro, de um Silvestre Pinheiro Ferreira ou de um A. de S. S. Costa Lobo, antes dos doutrinadores estrangeiros, mas na investigação da verdade importa muito mais saber em que filosofia foram aqueles publicistas haurir a sua melhor inspiração.
Supondo que o recurso às fontes seja ainda preceito válido no estudo das disciplinas de letras, aconselhamos os letrados a que estabeleçam uma tábua de correspondência entre os parágrafos da «Filosofia do Direito» de Hegel e os números dos artigos da «Constituição de 1933». O problema juridicamente resolvido pelo legislador ficará quase sempre ao lado da respectiva doutrina filosófica, facultando assim a possibilidade de refutar muitos sofismas que ainda perduram em livros correntes de direito constitucional. Deste estudo comparativo, que aconselhamos a quem ame a verdade, resultará a prova de que Hegel formulou aquela poderosa argumentação anti-individualista, antiliberalista e anti-contratualista de que, cinquenta anos mais tarde, se serviram os autores citados nas bibliografias universitárias.
Cada artigo de uma constituição política, para ser bem interpretado juridicamente, há-de ser visto como a melhor solução de um problema apresentado no seu momento histórico. Importa, portanto, descobrir a razão pela qual a solução adoptada mereceu a atribuição de «melhor», o que, transferido o problema da ordem positiva para a ordem normativa, apela já pela noção de «valor». Quando, em consequência de uma revisão constitucional, é dada nova redacção a um artigo velho, diz-se que a lei melhora; mas tal melhoria será determinada e apreciada perante uma escala doutrinal de intemporais valores. Assim, a análise da nossa constituição, realizada pelos professores das Faculdades de Direito ou a realizar pelos deputados à Assembleia Nacional, revelará a substância dos valores próprios da filosofia de Hegel, por muito alterados ou adulterados que hajam sido nos interpostos tratados de direito público.
Afirma Hegel que cada povo tem a constituição que merece, e prova a sua afirmação com nítidos argumentos que podem ser lidos nos parágrafos 273 e 274 no seu livro célebre. A constituição significa uma coexistência de instituições, as quais surgem como produtos da natureza e da cultura do respectivo povo. É uma fantasia, diz Hegel, pretender inventar uma constituição que, aparentemente racional, não considere nem respeite as tradições nacionais; é uma fantasia porque desse modo os respectivos artigos ou estatutos não valem de soluções precisas aos problemas previamente enunciados. Esta crítica, divulgada entre nós por certos autores tradicionais, merece que pela erudição seja reconduzida às origens, ou às fontes, do pensamento revolucionário.
 |
| Arthur Schopenhauer |
 |
Na sequência da sua doutrina, o jurista condena tanto a vontade indeterminada como a liberdade vazia (§ 5.º). Demonstra a seguir que a liberdade simplesmente proclamada e os direitos simplesmente declarados, conforme figuram nos primeiros artigos, estatutos ou títulos das constituições representam um pensamento de abstracção, longe da razão concreta que acompanha sempre a realidade. Com efeito, a declaração dos direitos e a proclamação da liberdade acontecem num momento negativo, reaccionário, provisório, porque aguardam o momento de se concretizarem em instituições ou de estabelecerem o vínculo capaz de garantia universal. A discussão interessante de quais sejam os direitos naturais, ou fundamentais, a inscrever na constituição pode protelar-se indefinidamente por falta de acordo entre legisladores quanto aos usos e aos desusos que resultam das alterações na moralidade pública. Na grande ou pequena assembleia das subjectividades, sem doutrina unificante, protela-se o momento da consolidação em fórmulas que hão-de servir de premissas aos raciocínios jurídicos e administrativos.
Hegel desdenha de quantos, por idealistas, se demoram a conjecturar o que deveria ser, e prefere prestar atenção aos motivos reais do comportamento humano. Interroga-se acerca do uso que cada homem fará da sua liberdade, e reconhece que a sua investigação científica, ao ultrapassar o individualismo, o liberalismo e o contratualismo, enfrentará sem dúvida as instituições. É muito curioso, e de flagrante actualidade, o exemplo da chamada liberdade de imprensa, ao qual Hegel dedica o longo parágrafo número 319.
A liberdade actua mediante vínculos sociais. Não se pode dizer verdadeiramente livre o homem sem família, o homem sem profissão, o homem sem pátria. No século XIX a má interpretação da liberdade nos contratos de trabalho, considerado simples mercadoria, promoveu a desvinculação mais estudada pelos economistas e teve por consequência legal, se não legítima, a disponibilidade nómada dos desempregados. Explica-se a atenção dada aos problemas jurídicos que afectam a organização da indústria, mas já não se justifica a ausência de pensamento normativo quanto às outras instituições que integram o homem livre no seu condicionalismo social.
Muito antes de as assembleias legislativas se preocuparem com a família, o trabalho e a corporação, já Hegel entendia que a constituição deve incluir os principais estatutos que resolvem estes problemas sociais, antes de definir os poderes e os orgãos do Estado. É o que se vê no esquema constitucional da sua «Filosofia do Direito».
A família entra no quadro do direito público logo que seja reconhecida como instituição. Admirável é a doutrina do parágrafo 163 e de todos os outros dedicados à demonstração de que o casamento não é um contrato, nem um feudo, e também à verdade salutar de que a educação dos filhos pressupõe relação directa com os problemas políticos. É oportuno observar que a protecção à maternidade, com todas as consequências lógicas no equilíbrio da população, a que o Estado deve atender, resolve o problema enunciado por Malthus, mas retomado por pensadores da estirpe de um Suart Mill ou de um Bergson. O texto constitucional decide, mas a decisão obriga a um procedimento coerente e consequente em planos administrativos que abstractamente, ou à primeira vista, parecem distar muito da instituição da família.
 |
| Henrique Bergson |
Depois da família, o trabalho e a corporação. Hegel não considera o trabalho uma penitência, ou um dever, mas concebe-o como expressão e objectivação da liberdade humana. Esta concepção, mais artesanal do que industrial, opõe-se a que o trabalho seja considerado uma mercadoria, e combate a doutrina inglesa dos mercantilistas. Neste ponto convém insistir, porque correm impunemente na imprensa periódica e não periódica afirmações menos exactas quanto à genealogia dos sistemas de Marx e de Lenine. Há que ir ler, sem mediação de vulgarizadores, o texto da «Filosofia do Direito» para verificar que o pensamento de Hegel está subordinado ao propósito único de recondução às instituições tradicionais.
Nos parágrafos 202 a 206 expõe Hegel a sua divisão do trabalho em três classes, relacionando a primeira, que é a da agricultura, com a família, e a segunda, que é a da indústria, com a mecanização. Situa-nos perante o problema dos escravos-de-ferro que produzem incessantemente para o mercado interno ou para o mercado externo, conforme as directrizes da política económica. Neste momento, em que o leitor se interroga acerca do comércio, convirá decidir se mercadoria é o produto do trabalho ou o próprio trabalho, visto que na nomenclatura nossa contemporânea nem sempre há certeza das palavras com os conceitos. A terceira classe, unitiva ou universal, representa os interesses superiores da sociedade; com eles se relacionam os serviços públicos, nomeadamente aqueles que têm por fim assegurar o cumprimento das leis.
Tudo quanto Hegel escreveu acerca da corporação, nos parágrafos 250 a 256, impressiona o leitor pela actualidade, quer dizer, pela iminência no trânsito da potência ao acto, segundo o próprio dinamismo da razão. A frase enérgica parece querer cingir a ideia evasiva, mas representa afinal um exercício intelectivo de profundidade. Longe da má retórica, sem qualquer jogo de adjectivos a simular juízos de valor, sem ênfase exigível no discurso oral, Hegel demonstra a mediação das profissões no composto orgânico da vida nacional.
«O espírito corporativo, - escreve Hegel no parágrafo 289 do seu livro -, que nasce da legitimidade das esferas particulares, transforma-se por si em espírito público, ou espírito do Estado, porque no Estado encontra o meio de atingir os seus fins particulares». Este ímpeto nacional, que Hegel observa na perfeita corporação, justifica a doutrina de que uma câmara corporativa actue como orgão do governo, ou que talvez participe da soberania política. Mais adiante, no parágrafo 301, Hegel refuta a doutrina de que a massa, ou o povo, ou a nação, (substantivos que designam um ente sem vínculo orgânico de instituição tradicional), seja capaz de exprimir uma vontade que mereça ser considerada e reconhecida pelo legislador. Esta verdade tem sido, aliás, proclamada por todos quantos preconizam o sistema representativo por organização de partidos, o que implica a divisão concreta e a apreciação numérica dessa generalidade que costuma ser designada por massa, nação ou povo.
Hegel afirma, no parágrafo 312, que a assembleia representativa deve ter duas câmaras diferentemente qualificadas. É, aliás, o que está prescrito em muitas constituições.
Entende-se, assim, que a primeira das câmaras deve ter por fim exprimir a opinião pública, depurá-la, esclarecê-la e persuadi-la da verdade. É a função parlamentar, que tem de ser articulada com a da imprensa periódica. Na ordem dos trabalhos legislativos, a mesma câmara deveria ser também a primeira a estudar os projectos e as propostas do governo, porque para isso se encontra habilitada pelos deputados dos diversos pontos de vista nacionais. A outra câmara, mais especializada, dotada de maior unidade política, mais aproximada dos serviços do Estado, estudaria os problemas em segunda instância, para os resolver segundo as exigências técnicas. É o que se depreende da interpretação dos parágrafos 305 e 307, cuja doutrina é já corrente nos livros de direito público.
 |
| Estátua de Aristóteles |
Aliás, antes de enunciar o problema da escolha ou da eleição, importa definir os direitos, os poderes e as funções de quem no Estado há-de ser considerado o príncipe, o primaz ou o primeiro. Será este um problema a enunciar e a resolver todas as vezes que for possível rever ou alterar a constituição, porque também vai sendo alterada com os tempos a ideologia predominante no ambiente social. No decurso do século XX acentuou-se a tendência para reduzir as atribuições do Chefe do Estado ao mínimo indispensável, rigorosamente determinado num artigo da constituição. Hoje nota-se que, de harmonia com as tradições nacionais e o sentimento popular, prevalece a tendência para mais efectivo presidencialismo, se não para mais pura actualização das três funções régias.
Muito se tem discutido se convém ou não à dignidade do Presidente da República a velha atribuição do indulto, conservada ainda com expressão jurídica nas mais novas constituições. A tal privilégio dedica Hegel o parágrafo 282 em que escreve: «O direito de clemência é uma das mais elevadas maneiras de reconhecer a majestade do Espírito». Neste ponto não conseguiu o nosso filósofo pensar a vida, o desenvolvimento e o movimento de tão elevado conceito. Mais importante do que perdoar as cenas sentenciadas aos criminosos, ou até do que anular os crimes, se nos afigura o privilégio de agraciar os homens excepcionais que dão consciência à nacionalidade. Compete ao Chefe do Estado conhecer os pensadores, os escritores e os artistas para os nobilitar, isto é, para lhes dar melhores possibilidades de servirem a Pátria. Desta razão se explica o motivo pelo qual o Presidente da República vai inaugurar exposições, assistir a espectáculos, consultar livros, para de experiência pessoal formar juízo certo sobre o valor dos seus compatriotas e contemporâneos. As informações prestadas pelo funcionalismo, segundo a rotina dos processos burocráticos, podem não estar isentas de partidarismo ou de inveja, pelo que não contentam quem queira prestar justiça aos pensadores, aos escritores e aos artistas que asseguram a fama e a glória da Nação.
Hegel propôs-se elevar a filosofia à categoria de ciência, por um engano que haveria de ser necessariamente agravado pelo positivismo. O erro consistiu em adoptar os métodos das ciências da natureza em vez de seguir os métodos das ciências do espírito. Toda esta metodologia aparece claramente exposta no prefácio da «Filosofia do Direito», e efectivamente conserva o valor de refutar a política mais dependente de conjecturas jurídicas ou de ideais éticos, geralmente formulados sem precisão. Se na verdade cada artigo, estatuto ou título da lei deve ser interpretado como solução melhor de um problema social a que os termos jurídicos querem aludir, quando não anunciam claramente, compete ao legislador garantir a rigidez da constituição pela escolha de palavras sem flutuação semântica, sem influência na opinião pública. Hegel, habituado pelos seus estudos lógicos, pela lógica sem predicados, atributos ou epítetos, a considerar o movimento, o desenvolvimento e a vida dos conceitos, ofereceu aos juristas um método de estudo que, apesar das contradições de Marx, Lenine e Staline, ainda hoje perdura valente, altivo e admirável (in 57 - Movimento de Cultura Portuguesa, Ano II, n.º 5, Lx.ª, Setembro, 1958, pp. 2-3).















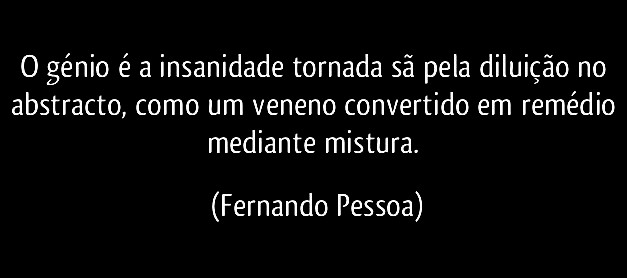

























Nenhum comentário:
Postar um comentário