Escrito por Álvaro Ribeiro
«A
base da pátria é o idioma, porque o idioma é o pensamento em acção, e o homem é
um animal pensante, e a acção é uma tradição verdadeiramente viva, a única
verdadeiramente viva, concentra em si, indistinta e naturalmente, um conjunto
de tradições, de maneiras de ser e de pensar, uma história e uma lembrança, um
passado morto que só nela pode reviver. Não somos irmãos, embora possamos ser amigos,
dos que falam uma língua diferente, pois com isso mostram que têm uma alma diferente.
Estamos, neste mundo, divididos por natureza em sociedades secretas diversas, em
que somos iniciados à nascença, e cada um tem, no idioma seu e no que está
nele, o seu toque próprio, a sua própria palavra de passe.
(...)
A base da sociabilidade, e portanto da relação permanente entre os indivíduos,
é a língua, e é a língua com tudo quanto traz em si e consigo que define e forma
a Nação.»
Fernando Pessoa (in António Quadros, «Fernando Pessoa, a Obra e o Homem», II Volume).
«De facto os aplausos e a admiração que Leonardo Coimbra colhia (como ele não podia deixar de o perceber) eram puramente espectaculares, dirigidos apenas à sua personalidade exterior de tribuno e homem estranho: na realidade, ninguém o compreendia; e o homem de valor o que deseja é que participem das suas preocupações e não que admirem a sua figura, ou timbre de voz, ou facilidade de palavra; o que ele quer, em suma, é que o compreendam e não que o aplaudam. Leonardo Coimbra sentia com nitidez a sua incomunicabilidade, e sofria como todos os homens superiores a têm sofrido, em todos os tempos e lugares, e sofrerão sempre; sob a máscara do tribuno que frequentemente subia aos estrados para falar, falar, falar, dando-se o ar de homem que tinha a satisfação de transferir as suas ideias, havia o rictus secreto, cheio de amargura, do pensador que sabia que as suas obras somente eram vendidas nas feiras do livro a preços irrisórios, para não serem vendidas a peso. Quantas vezes nos últimos anos, quando os amigos lhe perguntavam de longe a longe se andava a pensar algum livro, ele replicava com rápida mordacidade! - "Mas para quê? Neste país não se pensa: neste país...".
(...) Certo é que alguns dizem que os homens superiores nunca podem falhar; que o que eles realizaram é precisamente o que eles tinham a realizar. Perante a obra de Leonardo Coimbra (como perante a de Antero de Quental) tal teoria afigura-se-nos radicalmente irreflectida. De facto, os homens superiores podem falhar; e falham quase sempre. Em regra, o que eles realizam fica desmedidamente aquém do que lhes era possível. Ora, desde que um desses homens tem a consciência de que as suas melhores virtualidades foram contrariadas e esmagadas pelo que lhes é exterior, natural é que no seu espírito ecluda qualquer forma cancerosa de "desforra": nuns, essa "desforra" é uma simples abominação surda seguida do afastamento; noutros é a reacção colérica conducente à própria perda; noutros é o silêncio seguido de um desaparecimento enigmático, etc. Em Leonardo Coimbra foi a mordacidade implacável. Que é, porém, a mordacidade senão uma reacção ofensiva dos ofendidos? E quem sabe se, sem a intervenção fortuita e trágica do desastre, o seu fim não seria mais nitidamente uma acusação contra o meio?».
Santana Dionísio («Leonardo Coimbra»).
«Quem
alguma vez ouviu José Marinho interpretar uma frase de Jesus, extraída dos Evangelhos, ou explicar um dos mais
belos poemas da língua portuguesa, jamais esqueceu a maravilhosa mestria de
quem facilmente abre, desenvolve ou desenrola os textos que foram escritos para
transmitir só aos iniciados a verdade das doutrinas sagradas. Transitando do
significado exotérico para o sentido esotérico, já não é o professor quem fala,
mas talvez o sacerdote inspirado. Desta observação se infere a função que José
Marinho pessoalmente atribui à filosofia, deslocando-a para a escolástica,
segundo a honrosa tradição medieval.
É, para seus discípulos, evidente que a vocação espiritual de José Marinho se exprime no apelo de transcender a escolástica, a filosofia, o pensamento situado, na inquietação de alcançar a ideia pura. Enquanto outros pensadores, seus contemporâneos, opondo barreiras ou diques ao positivismo invasor – que ameaça anular amanhã as últimas características da cultura portuguesa, e até o idioma nacional, – iam escrevendo ensaios escolásticos sobre as relações da filosofia com a religião, com a pedagogia, com a política, com a literatura, etc., José Marinho, elaborava em segredo a sua obra-prima, que haveria de ser intitulada Teoria do Ser e da Verdade. Publicou-a em 1961, com plena consciência de que praticava uma "intempestiva ousadia" numa sociedade adversa aos livros de pensamento puro.
Traduzida
em francês, inglês ou alemão, esta obra seria a demonstração perfeita da
superioridade da filosofia portuguesa sobre todas as suas rivais estrangeiras;
ela permanece ignorada e esquecida aquém e além fronteiras, por culpa de todos
nós, que não sabemos cultivar nem aproveitar as verdadeiras fontes das nossas riquezas
espirituais. Síntese poderosa de todas as teses enunciadas na filosofia contemporânea, ela é além disso verificada por uma dinâmica intenção mística.
Ela realiza, com a superação da filosofia, a transcensão infinita que ao homem
como tal é possível falar, dizer ou escrever».
Álvaro Ribeiro («Homenagem a José Marinho»).
A filosofia na formação do homem português, do homem que fala português e que pensa em português
De
lustro para lustro, ao fim de cinco anos, após a duração de um curso, volta-se
a falar em nova reforma, em dar outra forma, ao articulado jurídico de
estruturas escolares que parecem já caducas, inoperantes ou improdutivas. Tal
resulta de olhar apenas para o que no mundo é efémero, transferível ou
relativo, em vez de prestar atenção ao que a experiência tem demonstrado ser
constante e improgressivo, tanto no educador como no educando. Quantas vezes se procura imitar o melhor modelo estrangeiro, tantas vezes se
esquece o propósito essencial da formação do homem português, do homem que fala
português e que pensa em português.
Tal
não acontece, porém, em outros povos, e em outros estados, os quais não só
cultivam ciosamente as filosofias que criaram ou que importaram, mas também as
difundem por livros de apologética adequados à propagação de ideologias
propícias ao domínio hegemónico sobre o pensamento estrangeiro. Ocioso será
lembrar os exemplos históricos de indução falaciosa na construção de sistemas
universais, porque tais factos de intercâmbio cultural demonstraram uma lição
que se impõe à memória dos bons entendedores. A subordinação da política à
filosofia, implícita ou explícita nos textos jurídicos, vai-se tornando
evidente a quem sabe ler com atenção as mais recentes páginas da História, sem
confundir as constantes com as variantes de acontecimentos progressivos para um
fim remoto ou ignoto.
Durante
séculos áureos da Nação Portuguesa, em que se verificou a hegemonia
universitária da Escolástica, foi a filosofia predominantemente cultivada em
latim e intimamente associada à religião. A disciplina promotora da liberdade
de pensamento, enviada em sua forma aristotélico-jesuítica, esteve associada à
disciplina seguradora da unidade da fé. Depois de 1772, instaurados o
iluminismo liberalista e o sociologismo positivista, haveria o vulgo ignorante,
mas bem falante de considerar como anacrónico, retrógrado, ou reaccionário o
ensino da filosofia.
Ao
longo do século XIX desenvolveu-se contra a Escolástica, não uma crítica
minuciosa e certeira, mas uma injusta polémica, tendente a dissolver a relação
perene entre a filosofia e a religião. Exaltada foi a liberdade de pensamento,
mas tal liberdade deveria ficar subordinada ao determinismo da ciência,
formando-se à margem deste círculo vicioso um campo propício às variantes da
opinião. Alguns plumitivos chegaram até a doutrinar sobre os conflitos havidos
entre a ciência e a religião, encobrindo numa expressão caracterizada pela
impropriedade dos termos, intenções precursoras de agitação política e
revolução social.
Eliminar
a filosofia dos quadros do ensino público foi a aspiração confessada ou
inconfessada de muitos reformadores políticos, mas a tal propósito obstavam não
só os hábitos didácticos dos professores fiéis à nossa tradição escolástica,
mas também o prestígio de que a filosofia gozava nas nações estrangeiras e nos
congressos internacionais. Adentro das nossas fronteiras, a filosofia ia sendo
também atacada pela licenciosidade dos literatos e parlamentares românticos;
mas os escritores realistas, mais prudentes ou mais inteligentes, admitiram uma
filosofia esboçada para complemento da enciclopédia científica, imitando o
exemplo das celebridades estrangeiras. Ninguém elevou a voz para demonstrar que
a exclusão da filosofia escolástica iria dificultar a autêntica e metódica investigação
histórica do pensamento artístico, político e religioso do povo português;
seria o factor mais profundo da adulteração da fisionomia espiritual da Pátria;
aceleraria a dissolução da língua portuguesa no jornalismo escrito e falado
para melhor aceitação das expressões de origem internacional.
A palavra «filosofia» permaneceu a designar uma das últimas disciplinas do curso dos liceus, mas tal disciplina, periodicamente reformada nos seus programas ou ministrada por livros estrangeiros, reproduz ainda hoje um método incompatível com uma didáctica vivente, do qual resulta a demissão da inteligência em que se propõe transitar para uma escola universitária. Seria inútil repetir ou resumir as críticas feitas por especialistas autorizados. Nos serviços públicos, desde o Curso Superior de Letras até à última reforma das Faculdades de Letras, nunca houve a intenção de formar filósofos entre os estudantes que para tal demonstrassem vocação ou aptidão, (a exemplo do que se praticou outrora quanto às carreiras eclesiásticas), porque sempre os legisladores atribuíram prioridade às disciplinas de história e à ordenação histórica dos tópicos dos programas, em detrimento das actividades especulativas que se reflectem no julgar, no conceber, no meditar, e que manifestam sua fecundidade pela elaboração de livros originais.
(...)
Muitos processos há de excluir a filosofia, ou de fazer passar por filosofia o
que é a sua contradição e contrafacção; maior é, porém, o número de artifícios
de estilo para significar desdém ou aversão pelos filósofos que não se
conformam com o destino injusto do anonimato. Desde o cumprimento insincero, e
portanto irónico, mediante palavras lisonjeiras, até às práticas de ofensa,
difamação e desonra que os jornais e as revistas acolhem para divertimento dos
seus leitores, consolida-se aquela opugnação vulgar ou pública segundo a qual o
qualificativo de filósofo é mais ou menos ridículo e, portanto, mais próprio
para a comédia do que para a tragédia. Morrem os filósofos nas condições que a
História regista para que o castigo social não deixe de recair sobre quantos se
dedicam a uma forma de pensamento livre, independente de qualquer ideologia
sectária ou partidária, motivados apenas pelo excelso amor da verdade.
(Álvaro Ribeiro, in «Homenagem a José Marinho»).



-003%20(2).jpg)
.jpg)
.jpg)


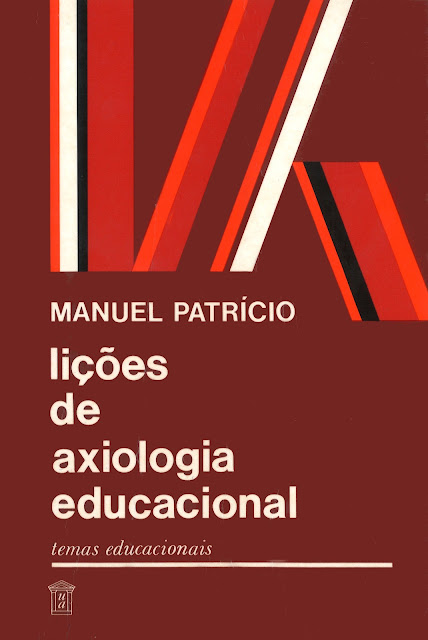


%20(1).png)

.jpg)

