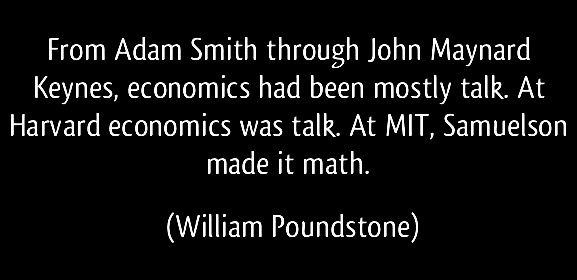Escrito por Orlando Vitorino
Hayek e a refutação da doutrina keynesiana do crescimento económico
A primeira refutação foi feita, ainda antes da publicação da «Teoria Geral», por Frederico Hayek, numa polémica histórica que o tornou «nos anos 30, o adversário mais atacado por Keynes».
O essencial da argumentação de Hayek incide sobre a inflação, em paralelo com a dedução keynesiana que também tem na inflação o seu ponto de partida. Trata-se, no fundo, da argumentação que Von Mises havia utilizado quando demonstrou a inviabilidade de uma economia socialista.
Hayek começa por demonstrar que a inflação perturba sempre o funcionamento do mercado. Quando acompanhada de medidas como a emissão, sem prévios limites, da moeda, o abandono do padrão-ouro ou de garantia equivalente e o câmbio flutuante, não perturba apenas o mercado, como ainda o destrói, impedindo o funcionamento do princípio da oferta e da procura e das regras que dele derivam. Sem o mercado, o investimento deixa de dispor das indicações que só ele pode fornecer, e torna-se irrealizável pelos particulares. Substituídos estes pelo Estado, o investimento realiza-se sem as mínimas condições imprescindíveis para que se aplique em empreendimentos cujas produções satisfaçam carências reais, as que só as indicações do mercado, ou a procura mercantil, podem fazer conhecer. Nestas circunstâncias, a oferta de tais produtos não encontra a correspondente procura e as empresas criadas pelos investimentos do Estado ficam condenadas à inevitável falência, mais ou menos tardia consoante possam ir sendo sustentadas por maiores ou menores investimentos posteriores. Uma vez estabelecida tal situação, a inflação, que está na origem da destruição do mercado, irá ser, não travada mas acelerada, porque é ela inerente à contínua emissão de moeda destinada a fornecer novos investimentos às empresas ameaçadas de inevitável falência. Este processo torna-se inexorável, embora as suas últimas e mais dramáticas consequências possam ir sendo retardadas enquanto se puder ir mantendo a inflação e a emissão de moeda. Mas tal possibilidade não é inesgotável e sem fim. Incessantemente emitida, a moeda falsa acabará por não ter qualquer correspondência em produtos nem, portanto, qualquer aceitação, e o já perdido mercado será substituído pela troca directa. Uma existência social civilizada torna-se, então, impossível (1).
Ao mesmo tempo, as empresas criadas pelo investimento do Estado fazem deslocar para elas, que oferecem salários mais elevados e mais rapidamente «actualizados, os trabalhadores que se encontram noutras empresas. Mas quando elas entram no inexorável processo de falência, os empregos deixam de ser seguros, acabam por desaparecer e o desemprego generalizado instala-se.
Claro que F. Hayek não deixava de reconhecer que, periodicamente, também nos regimes de economia livre se verificam fenómenos de inflação. Trata-se, porém, de uma inflação demarcada num breve tempo e suportável, e o desemprego que provoca é, como ela, transitório e moderado. Mas com uma inflação permanente e que, em vez de combatida, antes tem de ser acelerada, o consequente desemprego, embora retardado, acabará inevitavelmente por surgir e será tanto mais duradouro, amplo e dramático quanto mais tempo tiver sido retardado.
A demonstração mereceu a Keynes uma resposta equivalente ao sinistro desabafo de Luís XIV: «Depois de mim, o dilúvio!». Disse ele: «A longo prazo, já eu terei morrido». Mas «em 1975, o formidável professor Hayek voltou à carga para se vingar, ele que foi, nos anos 30, o adversário mais atacado por Keynes» (2).
Não se tratou, naturalmente, de uma vingança pessoal, mas de aproveitar a confirmação dos factos para fazer reconhecer que a economia nunca deve deixar de estar entregue à ciência que dela se formou e à liberdade que lhe é própria. Fora em nome da ciência e da liberdade económica que Hayek condenara o keynesianismo, cuja evolução se veio a dar como ele descrevera e cujos resultados vieram a ser os que ele previra. Numa conferência pronunciada em 1975, na Suiça, pôde traçar o epitáfio de Keynes nestes termos: «Lord Keynes era um homem de grande inteligência mas diminuto conhecimento da ciência económica» e «ignorava que os economistas haviam combatido com certo êxito a velha superstição de que, aumentando os gastos monetários, se assegura do modo mais duradouro a prosperidade e o pleno emprego (3).
Friedman e a refutação da doutrina keynesiana do pleno emprego
Milton Friedman é, como Frederico Hayek, um rigoroso cientista, em certos aspectos mais intransigente do que ele como acontece quando incita o Governo do seu país, os EUA, a seguir o exemplo da Inglaterra que, em 1846, adoptou o livre-cambismo sem atender aos interesses das outras nações. Mas admite, e até preconiza, um sistema de concessões, mesmo quando cientificamente irregulares, às sucessivas conjunturas de que é feita a movente realidade económica. A mais importante e característica dessas concessões é a que se refere à inflação. Ao contrário de Hayek, admite que a inflação não é incondicionalmente insuportável. Ao contrário de Keynes, admite que a inflação não é incondicionalmente suportável. O que entende é que a inflação se tornará suportável, e até habitual, desde que compensada com a indexação dos preços, dos salários, dos juros e outras variáveis económicas. Se a taxa de inflação - diz ele - for acompanhada de equivalente taxa de indexação, as correspondências dos valores mantêm-se as mesmas e, por conseguinte, as regras do mercado permanecem imperturbadas. Hayek objectará que tal resultado não é possível porque a taxa de inflação nunca é simultaneamente universal, quer dizer, nunca incide ao mesmo tempo sobre todas as variáveis económicas como foi há muito e definitivamente demonstrado pelos marginalistas da «escola austríaca de Viena». Os factores de perturbação do mercado não se manifestam todos de uma só vez, mas vão-se acumulando, e a indexação apenas conseguirá retardar os inevitáveis resultados.
Sobre isso, a indexação, bem como a inflação quando a ela referida, consiste numa determinação puramente quantitativa e F. Hayek não se cansa de repetir, como Von Mises, que os fenómenos económicos são intradutíveis em termos quantitativos ou matemáticos. Diz ele: «É preciso abandonar os preconceitos cientistas quantitativos, incapazes, por sua mesma natureza, de conhecer os factos concretos» (4).
E logo acrescenta: «Esses preconceitos limitam-se à descrição estatística de modelos e consistem numa tentativa para submeter o nosso ambiente natural e humano ao controlo da vontade» (5), concluindo, em termos que correspondem aos utilizados por Keynes quando fala do padrão-ouro como de uma velha superstição, que «é uma moderna superstição, que apenas tem servido para desorientar os economistas e o público em geral, essa de que só tem importância aquilo que é mensurável (6).

Também quanto ao desemprego F. Hayek e M. Friedman discordam igualmente de Keynes e das opiniões ou convicções a partir dele dominantes. Nem o desemprego é inerente à ordenação económica das sociedades modernas nem estas têm qualquer singularidade que as isente de obedecerem à ciência económica. O pleno emprego, que Keynes anunciava e a demagogia dos poderes políticos não se cansa de prometer, não passa de um mito, na expressão de Friedman ou, na expressão de Hayek, de um canto de sereia. Segundo este, como já vimos, o desemprego é sempre uma consequência da inflação, e porque há sempre perturbações inflacionárias, cuja normal brevidade e inocuidade só é prolongada e envenenada pelos poderes políticos do Estado, sempre haverá uma margem de desemprego. O desemprego combate-se combatendo a inflação. Para a margem de desempregados que continuará a haver, e que Hayek parece supor composta de «desempregados voluntários», propõe ele um subsídio regular cuja receita provirá de um imposto periodicamente sujeito a referendo popular.
M. Friedman estuda com mais minúcia a margem permanente de desempregados. Explica ele que o desemprego é composto por uma parte de «desemprego voluntário» e outra parte a que chama «a taxa natural de desemprego». A primeira resulta do desacerto entre as «previsões» que cada um faz da evolução futura dos preços e a evolução que efectivamente se vem a dar. Ou seja: as pessoas prevêem uma situação futura que lhes oferecerá melhores condições de emprego e decidem esperar, desempregados, que ela se efective. Caso isto não aconteça, ou enquanto não acontece, tais pessoas são «desempregados voluntários» e Friedman observa que certas características das sociedades actuais - as pensões de desemprego, a segurança social, o emprego dos jovens e das mulheres - facilitam a decisão de aguardar a oportunidade de melhores condições, aumentando o número de «desempregados voluntários». Caso as previsões saiam certas ou, melhor, caso todas as previsões saíssem certas, o desemprego voluntário desapareceria e só haveria «a taxa natural de desemprego», isto é, aquela margem permanente e inevitável de desempregados que sempre existe em qualquer regime de economia, seja porque nessa margem se manifestam certos caracteres inapagáveis da natureza humana, seja porque, como diz um escritor português (7), «nunca é possível abolir o direito de ser pobre».
Apreciando a situação no seu país, os EUA, M. Friedman pôde avaliar que dois terços dos desempregados existentes são voluntários, isto é, que nos 9% da população activa que constituem o total dos desempregados, apenas 3% constituem «a taxa natural de desemprego». O desemprego não é, portanto, um problema crucial, sobre o qual se deva construir a organização da economia, e o pleno emprego não passa de um mito (in ob. cit., pp. 54-60).
Notas:
(1) As consequências da inflação prolongada e da moeda falsa, emitida pelo Estado, são apresentadas pelos teorizadores da economia, com relevo, mais uma vez, para F. Hayek, como as mais temíveis e trágicas. Os keynesianos, como todos os intervencionistas, fingiram rir-se de tão sinistras previsões. No entanto, podem elas encontrar adequada ilustração num dos acontecimentos mais importantes da História Universal: a queda do Império Romano.

É certo que não há instituição, Estado ou Império a que a História não ponha um dia termo. Torna-se, por isso, compreensível que os historiadores, sempre empenhados em descobrir as causas dos eventos, não encontrem causa nem explicação para a queda do mais perfeito Império que existiu, arrastando consigo a dissolução da civilização clássica de cujos restos ainda hoje vivemos. A inflação e a falsificação da moeda não serão, porventura, a indeterminada causa desse crucial acontecimento histórico, mas certo é que o acompanharam. A inflação foi então, como está parecendo a de hoje, imparável, e o dinheiro sofreu tal falsificação que uma moeda de prata, o antoninianus, chegou a ter 98,5% de cobre e chumbo revestido de uma ínfima película do metal precioso (ver Gabriel Ardant, «Histoire Financière de l'Antiquité à nos jours», ed. Gallimard, Paris, 1976). Os impostos, tal como acontece agora, multiplicaram-se, complicaram-se e aumentaram continuamente. E tal como hoje é programado nos regimes do intervencionismo socialista, a sociedade descentralizou-se, repartindo-se em comunidades fechadas e isoladas que procuravam sobreviver pela auto-subsistência e foram os embriões da dispersão que viria a caracterizar as populações medievais. No entanto, o poder político, militar, administrativo e cultural dos romanos não tinha na época, nem talvez jamais venham a ter tido, outro que se lhe comparasse, as invasões dos bárbaros eram movidas, mais do que pela ambição violenta da conquista, pelo desejo de submissão que os fizesse partilhar os benefícios da sociedade civilizada, a a organização do Império atingira uma perfeição que em nenhum outro período Roma tivera, tal como acontece com a organização dos Estados contemporâneos graças aos meios de controlo fornecidos pela tecnologia contemporânea.
(2) J. Trevithik, «Inflation», ed. Penguin Books Ltd., Londres, 1977. Trad. portuguesa com o título «Como Viver em inflação», Pub. Dom Quixote, Lisboa, 1981, pág. 174).
(3) A conferência intitula-se «Um meio para acabar com a inflação: a livre escolha da moeda», e foi publicada numa colectânea de escritos do autor com o título «Inflacion o Pleno Empleo?», trad. cast., Union Editorial, S.A., Madrid, 1976.
(4) F. Hayek, «Inflacion o Pleno Empleo?», ed. cit., pág. 28.
(5) Ib., pág. 31.
(6) Ib., págs. 41/42.
(7) António Lopes Ribeiro.